Antes de começar com as reflexões que movem este texto, vale a pena fazer um preâmbulo e dizer que todo este debate está irremediavelmente perdido. A forma como Luís Montenegro, Primeiro Ministro do XXIV Governo Constitucional, escolheu fazer da reversão do logótipo uma prioridade política, sem ter qualquer alternativa para apresentar – nem preocupação em fazê-lo – deu lugar a um discussão completamente polarizada. Se o design tem efetivamente um papel político, neste caso foi usado como arma de arremesso. Mais como um projétil, sobre o qual não se pensa muito, e cujo principal objectivo é fazer mossa, do que como um elemento de comunicação, e não só, ao serviço do governo português. Com isso, perdeu-se, mais uma vez, uma excelente oportunidade para reflectir sobre design no espaço público – algo raro e em falta – e, de igual modo, sobre o papel que queremos que o design tenha na renovação da identidade nacional.
No lugar deste debate, que se devia querer plural, aberto e informado, montou-se uma espécie de clivagem civilizacional artificial – com o trabalho gráfico a ser discutido mais com base em suposições e projeções do que com base nos seus méritos e deméritos. Como se o novo representasse o progresso e o anterior representasse o retrocesso, como se houvesse uma forma objetiva de o aferir e, pior ainda, como se essas fossem as duas únicas possibilidades na análise. A dicotomização de qualquer debate, reduzindo todos os pontos possíveis a dois pontos extremos é, como já todos devem ter percebido por esta altura do campeonato, a melhor forma de o tornar absolutamente desinteressante, e de garantir que nada de construtivo resulta como conclusão. Contudo, o projecto de criação de identidade para um governo (já lá vamos) é um exercício que merece outro tratamento e outro pensamento.
Como nestas coisas do design – e das linguagens no geral – o viés do gosto é impossível de eliminar por completo, não termino esta introdução sem revelar a minha posição pessoal, antes de passar à argumentação formal. De um ponto de vista pessoal, com toda a subjectividade que isso acarreta, identifico-me mais com o ‘logo novo’, a solução apresentada pelo Studio Aires. Já antes de ser conhecida esta proposta, o antigo logótipo do governo português era para mim um dispositivo gráfico algo anacrónico, e a necessidade de repensar a marca premente. Contudo, isto não nos deve impedir de reflectir sobre a forma como as coisas foram feitas e se podiam ter sido diferentes, numa tentativa de reabilitar o debate da sua fatal polarização.
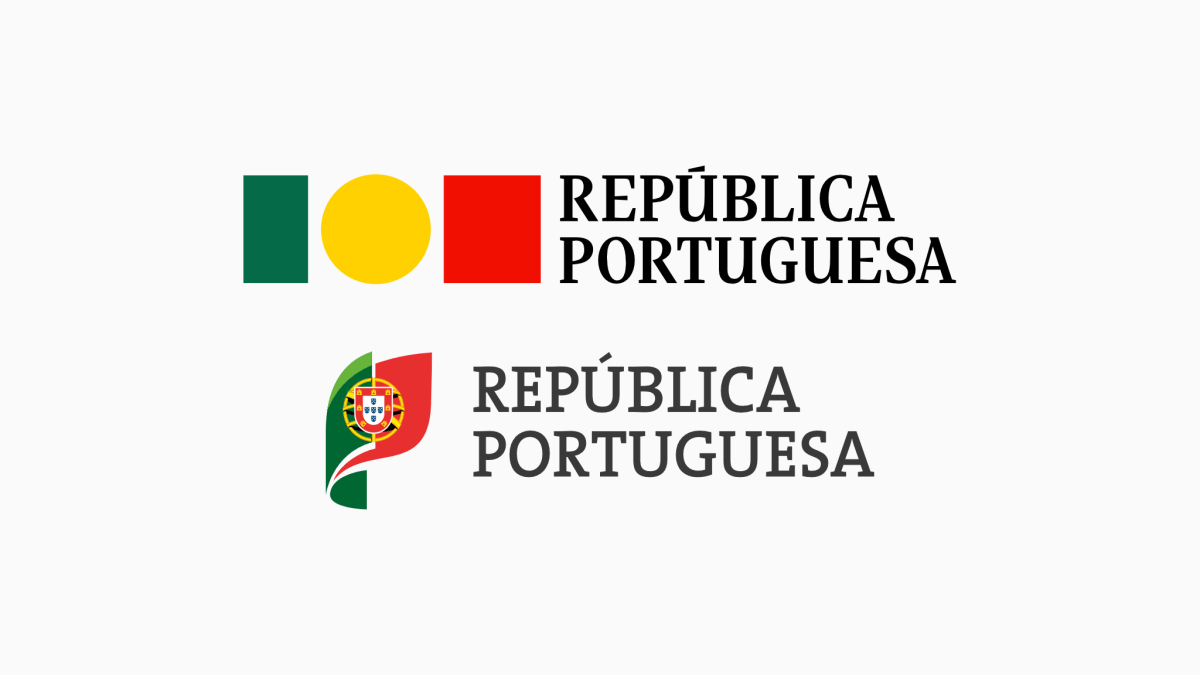
No princípio era um logo
A reflexão sobre um projecto de design, seja ele qual for, deve começar invariavelmente pela sua contextualização. Ao contrário da vertente artística da expressão gráfica, o design distingue-se, precisamente, pela existência de objetivos mais ou menos estruturados para além da fruição estética. É inútil falar de design sem que o objecto em análise seja devidamente enquadrado entre os objetivos propostos ao seu criador e o público a quem se destina. Só este enquadramento permite acrescentar nuance à discussão para além da ideia do gosto, e reposicionar o papel do designer: não tanto como um autor, ou um artista, a quem é pedido um rasgo de génio; mas como um profissional, executante de um projecto que é delimitado por alguém e algo que o antecede e dirigido a alguém que o procede. (Numa das últimas edições da newsletter Notas da Comunidade Shifter partilhámos este vídeo que se debruça em parte sobre essa questão.)
Assim, para olharmos para um trabalho, devemos olhar para o que o contexto em que este surge. E neste caso devemos recuar pelo menos até 2011. Foi por essa altura que o governo de Pedro Passos Coelho resolveu eliminar os logótipos dos diferentes ministérios – alguns deles icónicos, como o do Ministério da Cultura desenhado por Ricardo Mealha, ou do Ministério da Saúde de autoria desconhecida. Num processo aprovado em Conselho de Ministros com o objectivo expresso de “identificar, unificar e organizar a comunicação visual” nasceu pela primeira vez a marca “Governo de Portugal”. Esse projecto foi apresentado como uma “medida de eficiência”. Fonte oficial do Governo dizia ao Sol que o projecto surgia como uma forma de poupar “também na comunicação visual” e que não haveria qualquer evento de lançamento porque não estávamos “em tempos de festa”.
Os tempos excepcionais (é preciso recordar que falamos do período da Troika?) foram justificação para um projecto de baixo custo, e o preço simbólico justificação para que o processo não fosse sujeito a qualquer concurso público. Vinte e cinco mil euros foi quanto terá custado no total o processo de criação da nova marca, num trabalho assinado por Hélder Pombinho – autor de outros logótipos marcantes da nossa história, neste capítulo destaque para o do Euro2004 – na agência Brandia Central. A ideia do governo era criar uma identidade sóbria, e o resultado foi uma estilização da bandeira nacional. Uma bandeira em movimento, que mantinha todos os elementos que preenchem a esfera armilar, e pretendia representar “um país em ação que não está estático, que vive a sua história e funciona como um reforço da autoestima dos portugueses e do orgulho no seu país” como se lê no manual de normas. À designação principal, Governo de Portugal, acrescentava-se simplesmente o nome de cada ministério, inaugurando-se uma fase de design sistematizado dos elementos representativos do governo português. Um sistema de marca e sub-marcas.

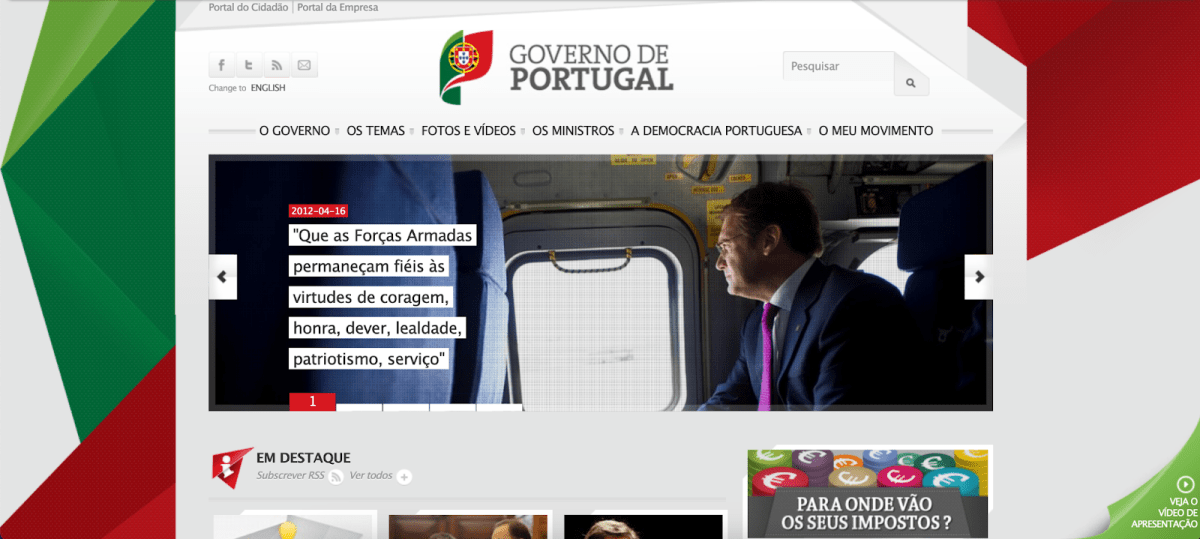
Em 2016 o governo recém eleito também quis fazer alterações ao logótipo do Governo. A decisão tomada pelo primeiro governo de António Costa “assim que tomou posse”, como relatava o Público na altura, foi a de manter a bandeira estilizada mas alterar a designação da marca. Em vez de Governo de Portugal, a marca passava a ter a designação de República Portuguesa, passando a constar o título do Governo numa segunda linha. A alteração terá sido feita internamente: “A representação da secretária de Estado indicou que as mudanças foram feitas no seio do próprio Governo pelo Centro de Gestão da Rede Informática do Governo e que não serão criados materiais novos” – lê-se. Na mesma reportagem, o crítico de design Frederico Duarte considerava as mudanças lógicas, mas lamentava algo mais importante: o design não ser usado de forma estratégica, mas apenas táctica, sem uma discussão alargada e sem um “pacto de regime decidido no Parlamento”. E se a mudança de Governo de Portugal para República Portuguesa era justificada porque na maioria das utilizações da marca esta simbolizava o Estado e não só um governo (como explica Pedro Adão e Silva), o processo de mudança não foi, mais uma vez, sujeito a qualquer debate.
Foi em 2022, mas não tão tarde quanto o tema chegou às notícias, que a segunda mudança de imagem da Era António Costa aconteceu. Depois de fazer cair a designação de Governo do lugar de destaque do logótipo, a segunda mudança 7 anos depois da primeira visou substituir o elemento gráfico do logótipo. O trabalho foi adjudicado ao Studio Aires – do renomado designer Eduardo Aires – por cerca de 70 mil euros e, mais uma vez, longe de qualquer debate público ou consenso alargado sobre a renovação. Se a primeira alteração teria sido liderada pela Presidência do Conselho de Ministros, a segunda mudança foi conduzida pela Direção de Comunicação do Governo. Tal como nos tempos de Passos Coelho, em que não havia espaço para festas, não houve lugar a qualquer evento de lançamento. O logótipo foi aparecendo mas nunca foi propriamente apresentado, não tendo sido, também por isso, propriamente debatido.
No lugar da bandeira estilizada de 2011, que preservava os elementos da esfera armilar, surgia agora, em 2023, uma nova estilização da bandeira. Desta feita, os elementos heráldicos foram todos subtraídos, sendo o logótipo uma representação bastante minimalista da bandeira – com formas geométricas simples aplicadas de forma milimétrica de modo a representar as proporções da bandeira, e a transmitir uma identidade “plural, laica e inclusiva”.
O que a primeira mudança de Costa relegara para segundo plano (a inscrição que distinguia o Governo da República), nesta segunda desaparecera por completo. Revendo o Manual de Normas da marca desenvolvida por Eduardo Aires não se encontra qualquer marca que conjugue República e Governo – apenas submarcas para cada ministério. E se este pode parecer um pormenor fútil, não é; em vez de resolver a confusão entre Governo e República, algo que tinha sido apontado anos antes, este trabalho parece ignorar essa questão. Uma questão que do ponto de vista político faz toda a diferença; e que não terá ajudado à confusão que se estabeleceu em torno da nova imagem.
A ausência da designação específica indicando que o logo representava o governo, a proximidade do elemento gráfico com uma bandeira, e o lançamento atabalhoado, tornaram-no um alvo fácil para más interpretações. E se a forma como essas interpretações chegou ao mainstream fez com que a discussão se polarizasse antes sequer de acontecer, o debate merece uma segunda oportunidade. Em menos de 20 anos, foram 3 as vezes em que o design se impôs, sem se debater, pelo que não devemos perder mais oportunidades agora que há atenção. Afinal de contas, acabamos por estar todos envolvidos nesta conversa, e rejeitar a sua polarização é a única forma de a resgatar do populismos.
Design e resolução de problemas
Por trás da mudança operada por Luís Montenegro, não há um grande racional sobre design. Essa postura denuncia o posicionamento da disciplina aos olhos deste governo. Montenegro optou por corporizar os intentos populistas, provenientes sobretudo do espaço da extrema direita que se sentirá ofendida pela simplificação dos elementos heráldicos da bandeira, e optou pela solução simples, sem reconhecer profundidade ao problema. Esta atitude fez clivar todo o debate, como se o logo antigo representasse a direita, um certo conservadorismo na manutenção dos pormenores da bandeira, e o novo logo representasse a esquerda, e um certo progressismo, ao trocá-los por uma expressão minimalista. Enquanto táctica política essa dicotomia simplista pode ser útil, mas a grande vítima dessa polarização é o design e o pensamento sobre a sua gramática.
Olhando para ambos os projectos, as diferenças são evidentes. Mas essa diferença não representa tanto quanto o volume da discussão tem feito parecer. A manutenção dos símbolos heráldicos ou a sua omissão, embora possa e deva ter leituras políticas, não deve ser vista de uma forma tão literal. A manipulação simbólica, através de diferentes técnicas e processos, faz parte do processo criativo do design, mas nem a omissão nem a manutenção se relacionam com a realidade que representam de forma literal. Por outras palavras, nem o logótipo antigo é mais tradicional e regressivo por manter as coroas e quinas, nem o novo é necessariamente progressista e inclusivo por omitir todos esses elementos reduzindo a representação a formas geométricas fundamentais. Pese embora uma das principais funções do design seja simbólica, não é o logótipo que determina ou impõe um significado, mas o conjunto de todas as instâncias em que o design serve de linguagem (e os elementos de que os diferentes públicos dispõem para as interpretar).
Como escreve Mário Moura, crítico e professor de História e Crítica do Design na Faculdade de Belas-artes da Universidade do Porto, autor de livros como O design que o design não vê, num dos vários comentários que fez sobre esta questão nas suas redes sociais, é possível afirmar que ambos os trabalhos são de alguma forma tradicionais – apenas se referem a tradições diferentes, percebidas pelas pessoas de formas diferentes.
“No entanto, e com as devidas diferenças técnicas, o novo logo é bastante clássico, filiando-se na tradição do design modernista do pós-guerra e que se caracteriza pela abstracção geométrica, descontinuidade formal (de acordo com os princípios da gestalt) e articulação num sistema de regras (manual de identidade).
De um certo ponto de vista, é tão tradicional como o seu rival, mas a sua tradição é a do design. Se o logo de Passos sustenta a mito nacionalista das quinas, do castelo e do império, o modernismo do design sustenta os mitos de uma neutralidade e de uma universalidade que cuja origem e centro é norte-americano e norte-europeu. Sustenta um mito de progresso, que é acima de tudo a narrativa da inevitabilidade destas regiões. Tudo o resto é “atrasado” ou “retrocesso”. ” – pode ler-se numa das suas publicações.
Re-enquadrar os trabalhos na sua tradição não pretende, neste caso, apelar a uma neutralização da sua visão simbólica, mas antes refletir sobre os limites destas tradições. Como diz numa entrevista sobre o seu livro What Design Can’t Do, Silvio Lorusso, crítico de design e director do Center for other worlds, a ideia de que os designers são livres de preconceitos, “livres do passado”, é em si um preconceito, que acarreta um um risco evidente: “O risco é evidente: em vez de desenvolverem um não-conhecimento produtivo, os designers podem simplesmente fechar os olhos aos seus próprios preconceitos. Como resultado, o que eles não sabem que sabem pode atuar no mundo de formas que não conseguem determinar. O passado continuaria a lançar a sua sombra invisível sobre o presente.”
O que quero dizer com isto é que embora para a maioria das pessoas, o trabalho do Studio Aires possa parecer a melhor solução possível para o problema, encerrar o debate por aí desvia-nos de duas questões interdependentes de extrema importância: o design serve para resolver problemas? Se sim, quais?
A necessidade de responder a estas perguntas de forma compreensiva tem sido um problema transversal ao longo das várias mudanças. Mas antes de lá irmos, atentemos no que completa a resposta a resposta de Lorusso: “Outra noção é que há alguns problemas, por exemplo, as pessoas em situação de sem-abrigo, que não são problemas técnicos, pelo que não podem ser verdadeiramente resolvidos de uma forma técnica. Estão cheios de ambiguidades e serão sempre politicamente carregados, pelo que não existe uma solução única. Estes são os problemas complexos e perversos que estão sempre ligados a valores sociais. Não é como resolver uma equação matemática.”
A primeira mudança de logótipo nesta cronologia (2011) surgiu apresentada como uma forma de economizar, a segunda (2016) para mitigar a confusão entre governo e estado, a quarta (2024), como uma forma de ceder a uma agenda populista que viu neste momento uma oportunidade de incitar uma guerra cultural. E a terceira (2022/3)? A forma como a sua criação e o seu lançamento foi gerido, presumivelmente tudo por decisão do Governo, fez com que só a polémica pusesse a imagem em discussão. E isso fez com que a discussão se cingisse mais aos méritos de cada tradição, do que propriamente de cada trabalho, sem se aperceber da armadilha auto-referencial que isso representa.
Na defesa do novo logótipo têm sido frequentes os argumentos que se baseiam na qualidade aparente do manual de normas que acompanha o trabalho. Esta expressão inconscientemente indica uma certa forma de ver o design. Em que a qualidade se avalia no documento produzido pelos designers onde se projetam as aplicações ideais. Nesse aspecto, e de um ponto de vista técnico, não há dúvidas dos méritos deste trabalho. Cada comportamento gráfico foi rigorosamente pensado, e à excepção do comportamento monocromático, todas as aplicações são coerentes e mantêm a integridade da representação. Mas mais interessante é o que podemos ler sobre os objetivos do projeto – os problemas a resolver – e a forma como são articulados.
Logo na página inicial podemos ler uma introdução onde são referidos os esforços para manter o anterior logótipo, e que “a sua complexidade formal (soma de cores e elementos constitutivos) reduzia drasticamente a eficiência em ecrã, comprometia o uso em pequenos formatos e dificultava todas as possibilidades de animação.” Sobre a nova, lemos que “a imagem que este manual apresenta, desenvolvida no primeiro semestre de 2023, responde a todos esses problemas. Foi projetada para ser mais dinâmica e operativa em ambiente digital, integrando todos os elementos gráficos necessários para ser aplicada a qualquer escala e em qualquer suporte”. Mas, na prática, o lançamento foi assíncrono, e as aplicações reais nunca expressaram cabalmente estes méritos, o que fez com que só pessoas da esfera do design lhes reconhecesse valor. Ninguém no seu dia a dia quer saber se um logotipo cabe em 20, 30 ou 40 px; e o site, por exemplo, ponto de contacto que devia ser primordial em 2023, permaneceu exactamente igual, com o novo logótipo a ser aplicado de forma desproporcional e numa versão que não consta sequer do manual de normas com o endereço portugal.gov.pt no lugar da designação oficial, como se vê abaixo.
Sobre a relação com a bandeira, e o dilema entre a designação de Governo e República, outros dois problemas técnicos, já antes notados em torno desta marca, o manual de normas também nos permite perceber pontos importantes. Por um lado, a não utilização de elementos da bandeira foi propositada para afastar o logótipo da bandeira nacional, e para que esta “parcimónia” indicasse que o logotipo não pretendia ser um símbolo da República – como a bandeira – mas do Executivo. Por outro lado, entre as dezenas de variações testadas não existe nenhuma com um elemento secundário indicativo da distinção entre o Governo e a República (como o ‘XXIV Governo Constitucional’ ou a expressão Executivo que surge no manual de normas e o próprio logo é designado de República Portuguesa.
“Os restantes elementos – escudo, quinas e castelos – não são utilizados deliberadamente, para que o símbolo não se torne uma cópia ou uma adaptação livre da bandeira original. Adotando o mesmo cuidado e parcimónia que outros países impõem na utilização dos seus símbolos nacionais, esta representação tem o cuidado de se cingir a uma forma abstrata, isenta, para assim representar o Executivo da República Portuguesa”


Numa recente entrevista dada por Eduardo Aires ao jornal britânico The Guardian, o autor do novo logo apelida de ignorantes aqueles que criticam o seu trabalho pela sua simplicidade. Na mesma sequência diz que “em última análise, o trabalho do design é um trabalho de síntese” e que dizerem que o logótipo podia ser feito no Paint pode, neste contexto, até ser visto como algo bom. Este argumento que parte de um lugar defensivo que se compreende dada a natureza do ataque a que está sujeito, peca por ceder à retórica populista e responder-lhe de uma forma paternalista. Impondo uma visão do design muito específico – a tal tradição de que falávamos – e ignorando aparentemente a legitimidade da crítica à síntese que escolheu fazer – a ideia do designer como despido de qualquer preconceito e livre do passado.
Um exemplo evidente de duas interpretações legítimas, para além da confusão entre Governo e República, está à vista de todos. Se no manual de normas se lê que a omissão dos elementos heráldicos foi uma forma de manter alguma distância à bandeira, para demonstrar respeito e manter a sua independência, uma das acusações mais comuns ao logo é precisamente que minimize a bandeira. Não é certo que esta seja a explicação mas podemos intuir que para os designers, os pequenos elementos são o mais determinante da composição, enquanto para o público geral é a disposição horizontal das cores que remete imediatamente para a ideia de bandeira.
Mais haveria por dizer sobre possíveis leituras deste trabalho. Especialmente porque embora tenha algumas lacunas é um exercício bastante completo do ponto de vista técnico – e já que aqui estamos, barato para o que podia custar um projecto de identidade. Nota para a criação de duas fontes que são utilizadas no logo. Contudo neste momento parece que as questões sobre pormenores da proposta que poderiam conciliar leituras não se coloca – a não ser que daqui a uns meses seja eleito um governo socialista que reverta a reversão.
Dinheiro público, design público
A intervenção do design em questões de estado, chamemos-lhe assim, é sempre matéria de grande sensibilidade. Como vimos ao longo deste artigo, o trabalho final é apenas parte de um processo composto por diversas camadas, depende de decisões a diferentes níveis. Outra das vítimas colaterais de toda esta celeuma foi a fonte. Desenhadas por Dino dos Santos, tipógrafo português de renome mundial – como todos os outros envolvidos nos processos deve sublinhar-se – a Portuguesa é uma família tipográfica composta por duas fontes, a Serif e a Sans. A qualidade da fonte, e sobretudo a completude do projecto, é inquestionável, mas a forma como é justificada mostra a forma como se desenha o triângulo entre design, estado e os cidadãos. (E reforça novamente a confusão entre Governo e República ao identificar-se como uma fonte para a segunda).
As fontes Portuguesa foram lançadas com licenças proprietárias e como “uma resposta à necessidade urgente de oferecer maior segurança às plataformas de comunicação do Estado e a toda a informação nelas constante.” Esta ideia da segurança através da criação de uma barreira legal é particularmente ilustrativa do tipo de relação que se estabelece, ou neste caso que não se estabelece. Mais ainda porque o argumento da segurança não faz muito sentido do ponto de vista prático. Qualquer utilizador experiente de internet sabe como é fácil encontrar qualquer fonte no código fonte de um site, e como a maioria dos scammers não está propriamente preocupada com direitos de autor e licenças de tipografias.
A ideia de uma fonte da República, algo que todos os portugueses (e quem quisesse) pudesse usar podia ser entusiasmante e envolvente – a sua utilização podia ser fomentada como veículo para abrir o debate sobre design, e o que os elementos pretendiam representar – mas esbarrou na forma como situou mal tanto a solução como o problema, perdendo-se uma oportunidade de almejar a algo mais. Sem pretensões de apontar uma solução para este problema, há um movimento de fundo que pode dar-nos pistas interessantes. E que se pode usar como reflexão sobre a fonte.
O movimento Public Money, Public Code lançado pela Free Software Foundation defende que todo o código desenvolvido com dinheiros públicos deve ser tornado público com licenças open source para que todos possam ter acesso. Com isto, defendem, há uma poupança porque as mudanças ao software podem ser incrementais, promove-se a colaboração, aproxima-se o público, que pode ver tudo, e promove-se a inovação ao disponibilizar partes do trabalho. O código torna-se público e sai das 4 paredes dos edifícios da administração central.
Como pode o design ser público? Ou tornar-se público? Esta resposta não é fácil, mas só que se abra espaço para este debate já seria positivo. Em Portugal, o design tem pouco espaço, apesar de ser desenvolver em nichos de grande interesse, não se envolve assim tanto com a sociedade. Todas as suas representações institucionais foram extintas ao longo da história e perdeu alguma da voz que já teve outrora. Essa luta pela representatividade, embora nos deva interessar a todos, é um desafio especialmente para quem faz do design a sua prática diária que não tem rápida solução. Por outro lado, enquanto cidadãos, é fácil pensar que um bom princípio seria tratar um logótipo com a importância que ele merece; utilizando os processos e instrumentos de diagnóstico e resolução consagrados pela democracia (desde os debates plenários aos concursos públicos). Em todos estes aspectos, talvez este seja o exemplo perfeito de que até sabemos desenhar soluções mas não sabemos identificar ou concordar sobre os problemas. Uma década depois, o design continua a ser usado de forma tática, como dizia Frederico Duarte a propósito da mudança de 2016. E isso mostra que mudámos mais vezes de logótipo do que de mentalidade.
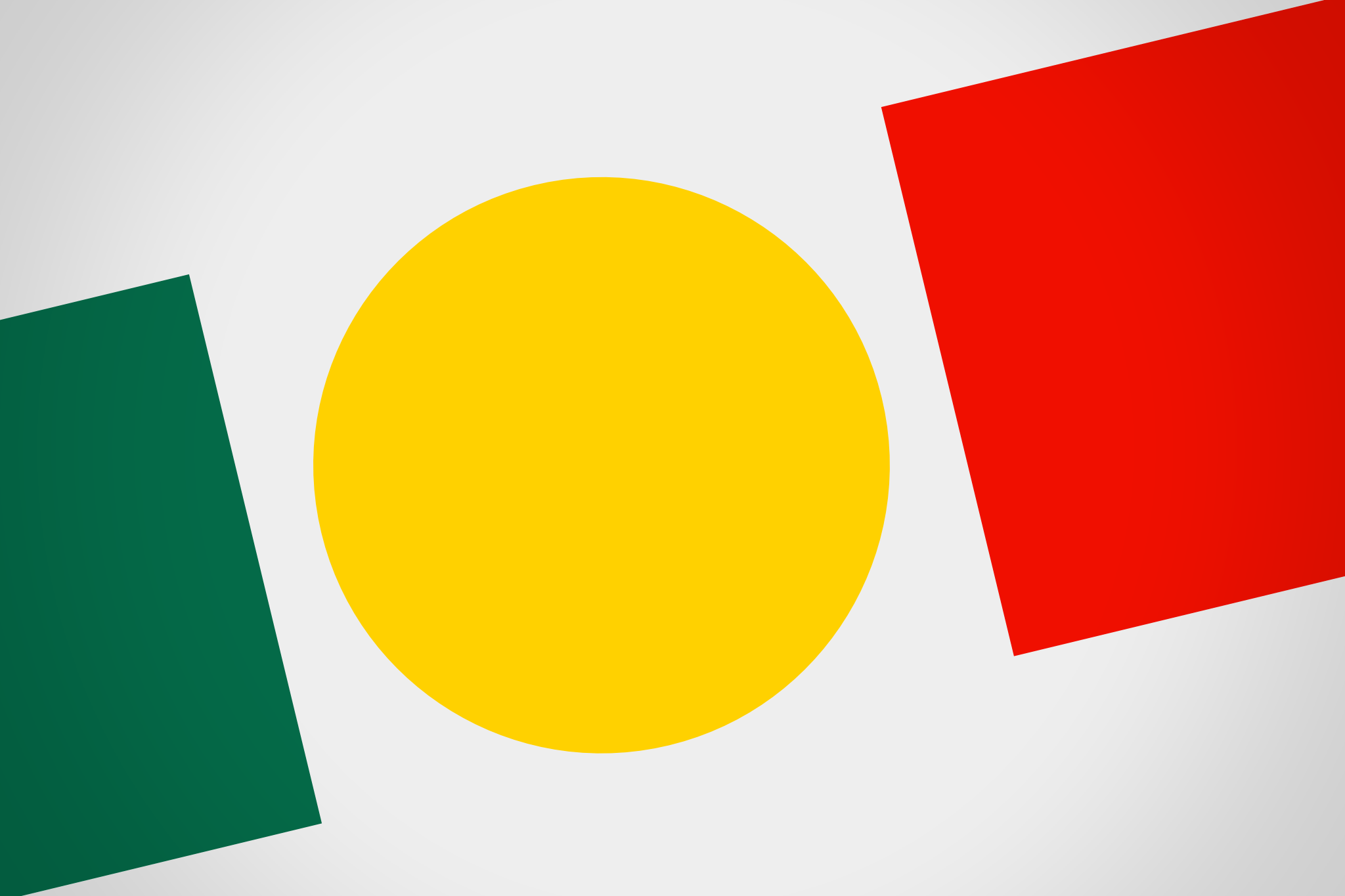



You must be logged in to post a comment.