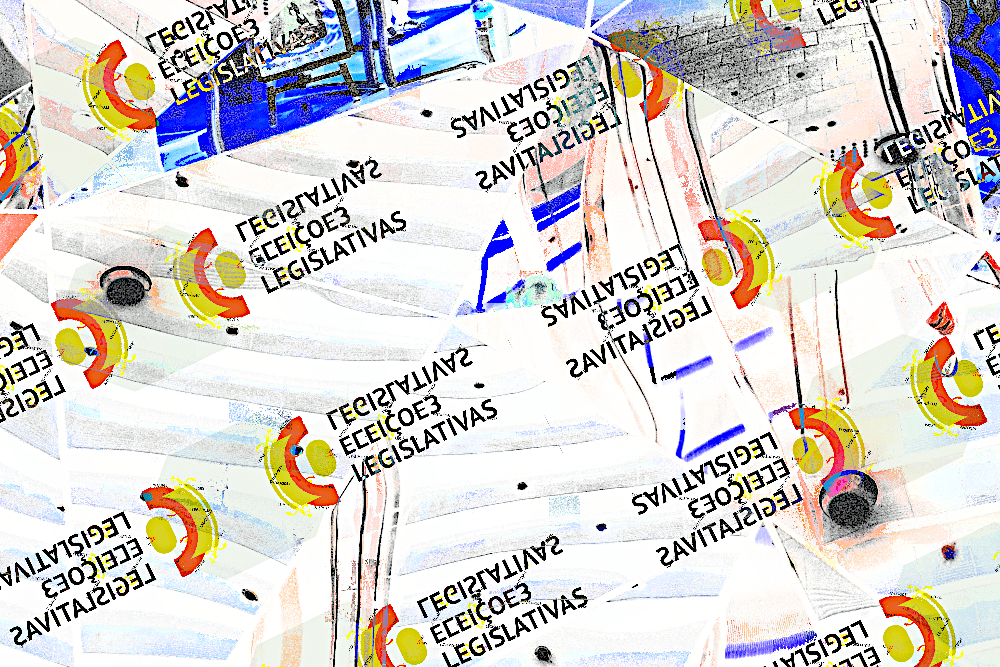Todos os momentos eleitorais são excepcionais. Ainda assim, as eleições do passado dia 30 de Janeiro pareceram estar envoltas em camadas de excepcionalidade inéditas na política portuguesa. Seja pela forma como o anterior executivo chegou ao fim do seu mandato – num desfecho provavelmente precipitado e com culpas ainda em disputa entre governo incumbente e os dois partidos à esquerda que o foram viabilizando –; pelo maior número de partidos com assento parlamentar candidatos à renovação do lugar; pela perspetivável ascensão da extrema-direita; ou pelo facto de esta ser a primeira eleição legislativa em pandemia – num momento muito particular da pandemia, em que se começava a projetar o seu fim e a normalidade que lhe há-de seguir –, estas eleições foram abordadas por todos os seus participantes com carácter de excepcionalidade, que se traduziu numa urgência, precipitada do conteúdo para a forma.
Estas eleições foram abordadas por todos os seus participantes com carácter de excepcionalidade, que se traduziu numa urgência, precipitada do conteúdo para a forma.
Dos média aos candidatos, passando pelos militantes e simpatizantes de um ou de outro lado, todos afinaram pelo tom da exceção, e pelas afirmações mais ou menos categóricas sobre o carácter fatal destas eleições. De um lado as típicas chalaças sobre a putativa ditadura socialista, do outro, o apelo desmedido a uma resistência contra todas as proximidades à direita por medo de contágio, ao centro, nesta encenação representante do espaço público, um vazio de ideias ensurdecedor, ocupado sobretudo por um certo taticismo retórico. Ora, se levou o debate em derivas retrógradas para temas como a prisão perpétua, ora se apontou baterias ao carácter utópico de propostas como a do projecto piloto do RBI (Rendimento Básico Incondicional) – ignorando qualquer juízo de proporcionalidade sobre o proposto –, ora se reduziu qualquer análise política a epítomes instrumentais como o infame e ambíguo ‘países liberais’, para dar apenas alguns exemplos.
Pré-campanha: debates e pós-debates
Os debates eleitorais começaram, como é habitual, ainda antes do arranque oficial da campanha. O número de partidos com representação parlamentar – nove (incluindo o PEV na CDU, e assumindo como determinado o lugar do Livre) –, obrigou a uma ginástica de programação de debates nunca antes vista. A solução, que não parece ter sido considerada óptima por ninguém, foi, por outro lado, o primeiro vislumbre do que seriam estas eleições.
Inicialmente excluído dos debates por ter perdido a representação parlamentar a meio do mandato, o partido Livre foi um dos que se manifestou contra o inicialmente proposto. Com respaldo na lei, como mais tarde dissera Ricardo Costa num programa de comentário, a exigência do partido acabou por ser acautelada pelos canais televisivos, resultando num planeamento de quase 40 debates, um contra um, quase todos com 25 minutos de duração, espalhados por diversos horários (das 18h às 22h, sensivelmente) e por diversos canais (dos canais de sinal aberto aos de informação por cabo). A esta nova formulação foi o PCP que se opôs, recusando debater nos canais de transmissão por cabo por considerar um imperativo democrático a transmissão aberta. Assim, na grelha final figuraram em 16 dias, 32 debates, entre os quais um único com 75 minutos de duração e transmissão simultânea nos três canais generalistas entre os dois partidos do chamado Centrão.
Sobre os debates em si, até pela sua curta duração, pouco há que se possa dizer. Foi perentória a falta de preparação para um formato tão curto, e a ausência de conteúdo político dominou em quase todos os frente-a-frente. Se os debates de que se recorda a história se caracterizavam pela sua extensão na discussão de temas concretos, espraiando-se a contenda por longos minutos, os destas eleições ficam marcados pela presença do contador em ecrã, pelo cronómetro de cada segundo de intervenção, por uma prestação necessariamente contra o relógio – onde o taticismo retórico levou a melhor.
Foi perentória a falta de preparação para um formato tão curto, e a ausência de conteúdo político dominou em quase todos os frente-a-frente.
O verdadeiro motivo para esta programação não é simples de apurar. Se é certo que as televisões regem as suas programações pelas audiências, e que os debates eleitorais podem não ser, regra geral, o conteúdo mais apetecível, a ética jornalística exigia que se tivesse dado tempo e espaço para que as ideias pudessem ser debatidas – ou, pelo menos, que se procurasse uma duração proporcional à importância do momento. Em vez disso, o tempo que poderia ser dado aos candidatos a deputados foi substituído por espaços de comentário em modo de rescaldo, a fazer lembrar o comentário desportivo. Sobra, então, como justificação a ideia de que o eleitor médio não teria capacidade ou interesse de acompanhar mais tempo de debate, ao contrário dos que acompanham de modo mais próximo a política e que, por isso, teriam interesse na perspectiva do comentariado por vezes noite dentro.
Em vez disso, o tempo que poderia ser dado aos candidatos a deputados foi substituído por espaços de comentário em modo de rescaldo, a fazer lembrar o comentário desportivo.
No tempo do próprio debate, a primazia foi dada a uma espécie de meta-política, muitas vezes posta em contraste pelos próprios moderadores com afirmações em tom de desculpa sobre “os tantos assuntos que ainda temos para falar, para os quais não temos tempo”. Esta opção, também ela difícil de compreender do ponto de vista lógico, justifica-se provavelmente com a relação dos meios de comunicação social com o denominado establishment. Provavelmente graças ao carácter ultra-sistémico dos media portugueses, onde os principais comentadores são, não raras vezes, vindos do poder político, parece haver pouco interesse ou até algum receio em olhar de forma crítica para este sector, e mais interesse em acompanhá-lo como se se tratasse de um reality-show, restrito a um tempo e a um espaço desligados do mundo real, avaliado por métricas próprias do audiovisual. Mesmo que isso passe por explorar os maiores podres da política e por dar protagonismo a figuras e ideias sem qualquer substância que usam o discurso anti-sistema como mero artifício retórico.
Como se a política fosse sobre mais sobre partidos e popularidade, e menos sobre pessoas e problemas. Em cima da mesa, colocou-se o cenário de governação, do PS ou do PSD, as diversas hipóteses de acordo, desacordo, coligação e desgoverno, mais do que dados concretos sobre a vida das pessoas que a política se pudesse propor a melhorar. Como de resto não é exclusividade nacional ou novidade para ninguém, a política debate-se como realidade instituída, não como campo de possibilidades em aberto, posicionamento que se ilustra na irredutibilidade, sobretudo com que o PS – pelo facto de ser o candidato à revalidação do lugar – encarou os debates até com os seus potenciais parceiros.
Em cima da mesa, colocou-se o cenário de governação, as diversas hipóteses de acordo, desacordo, coligação e desgoverno, mais do que dados concretos sobre a vida das pessoas que a política se pudesse propor a melhorar.
O mesmo comprimento de onda moldou os comentários pós-debate. Com os convidados em estúdio – hipotéticos especialistas com lugar cativo nas televisões nacionais – a versar sobretudo sobre a adaptabilidade dos candidatos ao lugar de primeiro-ministro, projetando o que deve ser a imagem de um primeiro-ministro, mais do que informando os pontos em que a política portuguesa se deve focar com dados, factos ou perspetivas concretas. A meta-realidade, de um sistema mais interessado em pensar na sua preservação dentro dos trâmites habituais, tornou-se também neste momento protagonista – talvez como resultado de uma previsível alteração da ordem das coisas na distribuição dos assentos parlamentares. Perante os ataques ao sistema, este parece ter-se dobrado sobre si próprio, estabelecendo na forma os seus limites, ora tentando equiparar os dois lados do espeto, ora tentando dizer em palavras brandas as ideias mais repudiáveis – uma atitude que desprezou a importância do conteúdo no debate político. Assim se explica que todos os debates tenham sido avaliados por sistemas de pontuação quantitativos e que, a título de exemplo Ventura tenha ganho um deles por, cito, falta de comparência, expressa na indecisão da sua oponente. Na política de sombras, o agitar dos braços com veemência é um gesto com maior valor do que a incerteza, mesmo que esta esconda a abertura ao diálogo – na sobrevalorização do aspecto formal, a convicção ganha valor próprio mesmo que sirva um argumentário fraudulento.
A meta-realidade, de um sistema mais interessado em pensar na sua preservação dentro dos trâmites habituais, tornou-se neste momento protagonista.
De modo análogo ao sucedido nos debates, a discussão das soluções para o país não foi o prato forte do comentário; em vez de o espaço de comentário sucedâneo aos debates servir para aprofundar pontos em discussão, os comentadores sujeitos a um certo dever de recato e procurando projectar uma imagem de neutralidade – excludente de subjetividades, preferências e prioridades – procederam antes a um reenquadramento das ideias. Mais um exercício condenado à partida a uma dinâmica circular desligada da realidade concreta – mais focado na forma do que no conteúdo, permitindo, a espaços, uma racionalização de posições de extrema-direita absolutamente dispensáveis a um debate sério num país desenvolvido.
O fact-checking
Se no espaço de comentário a análise, para manter a face da equidistância, se mantinha sobre a forma; o conteúdo tornou-se objeto de interesse sobretudo de exercícios de verificações de factos, ou como habitualmente é apelidado até na televisão nacional, de fact-checking. Se o fenómeno ganhou especial popularidade com o advento da desinformação online, a verdade é que foram os grandes meios de comunicação social a adoptar para as suas grelhas o formato e a fazer dele um espaço que concentra muitas atenções. Do Polígrafo da SIC à Hora da Verdade da TVI/CNN, as abordagens à verificação dos factos são, por si só, um tratado sobre a visão sistémica sobre a política. Dois exemplos mostram o cúmulo do exercício, abrindo aqui o foco para além das eleições nacionais.
O primeiro exemplo vem de França mas chega por se ter passado também por esta altura e refletir o que por cá se debateu. Num debate esperado entre candidatos às eleições, uma televisão francesa decidiu implementar um modelo de fact-checking em direto. E se a intenção era boa, e moderadamente bem pensada – ao concentrar 10 jornalistas na árdua missão –, as críticas mostram os seus limites e sobretudo os seus efeitos. Se é certo e consensual que os jornalistas são importantes intermediários na sociedade, e que o seu papel é informar com rigor e verdade, a sua sobreposição aos políticos, mesmo que seja com a melhor das intenções de corrigir os seus discursos, impele-nos novamente a uma exclusão das subjetividades da vida política, promovendo uma espécie de hiper-racionalização – onde não há figuras de estilo, promessas vãs, humor ou qualquer outra característica humana que fuja à teia dos factos, como se vivemos numa factocracia e todas as relações fossem desse prisma exclusivamente objetivas.
Se é certo e consensual que os jornalistas são importantes intermediários na sociedade, a sua sobreposição aos políticos, mesmo que seja com a melhor das intenções, impele-nos novamente a uma exclusão das subjetividades da vida política, promovendo uma espécie de hiper-racionalização.
Neste caso, um dos factos verificados ilustra na perfeição esta ideia. Perante a afirmação de um político que dizia que as pessoas passavam o inverno às escuras, os fact-checkers decidiram que se tratavam de uma informação falsa quando, na verdade, a inverdade da afirmação se deve ao uso de uma figura de estilo. Este tipo de hiper-racionalização do discurso através do seu re-enquadramento revela assim o potencial do fact-checking para se tornar em mais um instrumento de controlo das grandes narrativas do que propriamente uma adição indispensável ao debate político. Para além disso, esta disposição inverte a ordem lógica da democracia ao colocar os jornalistas como detentores da verdade, acima dos políticos – estes sim, sujeitos a uma eleição e escrutínio democrático –, pressupondo uma qualquer condição de especialidade dos jornalistas e ignorando também, por seu turno, as contingências e idiossincrasias do sector editorial.
Evidemment que des gens retardent au maximum pour allumer leur chauffage dans l'année et la lumière le soir en rentrant chez eux.
— Ariel Guez (@Ariel_Guez) September 23, 2021
Non ils ne passent pas "l'hiver dans le noir." Mais parce que cette formule, c'est ce qu'on appelle une figure de style en fait
Se hoje a oposição ao sistema que se materializa sobretudo no estilo de protesto do Chega, muitas vezes apontado sobre o aparelho jornalístico, seria expectável que este tipo de ideias fundisse e confundisse ainda mais os poderes. Num país que já padece de uma demasiada proximidade entre as esferas política e mediática, com uma grande captura dos grupos económicos sobre a comunicação social com alcance, esta via poderia culminar numa degradação do espaço público e na perda do valor social do jornalismo. Importa referir que, apesar de tudo, os portugueses são dos que mais confiam nos meios de comunicação social mas, como vimos com outras grandes narrativas, esta confiança deve ser ponderada.
O segundo exemplo é bem nacional, mais simples e imediato, sob a forma de um tweet. A poucos dias do fim da campanha eleitoral, o PS fizera uma afirmação de que era de confiança baseando-se nas contas feitas pelo Polígrafo de que António Costa apenas tinha faltado à verdade nove vezes, mostrando na imagem as verificações que deram razão a Costa. Este dado – e grafismo – reveste-se de curiosidade se formos até à fonte da contagem e verificarmos que, com esse valor de inverdades, Costa foi o segundo político que mais faltou à verdade durante o tempo em análise, o que leva a reflexões interessantes.
Por um lado, a transformação das falhas aos factos em números permite uma espécie de contabilização arbitrária de valor duvidoso – na transformação de discursos em números, corre-se o risco de equiparar coisas que não são equiparáveis à luz da racionalidade –; por outro, faz-se a fragmentação do discurso permite a sua reconstrução ad-hoc. Como vimos no exemplo, as inverdades de António Costa tanto podem valer pelo sentido negativo, de ser o segundo nesta lista, como ganhar um spin positivo, destacando-se apenas as verificações concordantes. Um caso que torna evidente a degradação do valor do discurso provocada pela sua fragmentação.
Queres saber em quem votar?
Na mesma ordem de simplificação da política surgem ainda os quizzes eleitorais, a sua maioria feita com base em expressões de membros dos partidários ou citações ipsis verbis dos seus programas. Uma vez mais, este é um exercício que descarta as necessárias subjetividades da prática política, nomeadamente ignorando a questão do compromisso, tradicional às democracias liberais que não sejam completamente bipartidarizadas. Para perceber esta questão basta elencar um exemplo: imagina-se que o PAN tem propostas ousadas no que toca à proteção animal, contudo não é expectável que por muito bons resultados que viesse a ter nesta eleição, as suas exigências fossem muito grandes; pelo que, a apresentação de certas propostas de uma forma “crua” convida a um entendimento literal da política, focado mais na expressão do que no diálogo, mais na proposta do que no compromisso e na capacidade do partido.
A apresentação de certas propostas de uma forma “crua” convida a um entendimento literal da política, focado mais na expressão do que no diálogo, mais na proposta do que no compromisso e na capacidade do partido.
Quando nos perguntam, por exemplo, se “o SNS podia contar mais com privados e sociais”, não nos dizem em que condições seria esse contar, de modo que qualquer raciocínio, para se sintetizar numa resposta, ou passa pela repetição do que ouvimos dos partidos ou por um abdicar inconsciente da nuance na política. O que, novamente, mascara a política de reality-show de partidos em vez de a tornar num espaço dedicado à solução de problemas das pessoas.
As posições partidárias parecem, nesta contração da política, ter-se tornado estereótipos a que se pretende chegar mais do que conjuntos de princípios de onde se pretende partir para a construção de uma política coerente. A título de exemplo olhemos para questão da energia nuclear que depois de citada en passant pelo Livre se tornou num argumento redondo contra o partido pela sua conotação puramente simbólica, numa atitude anti-intelectual, visto que o partido em questão apenas dispunha no seu programa traços gerais sobre a investigação no sector – nomeadamente sobre a energia de fusão, um campo com potencial – e não qualquer tipo de plano concreto, mais ou menos merecedor de um repúdio do género.
No campo particular da definição do sentido de voto, é indispensável também a menção ao papel das sondagens – embora esse merecesse por si só uma análise aprofundada e especializada. Com o advento dos dados, este já tradicional método de análise voltou a ganhar uma importância especial na política portuguesa, algo particularmente notório nas últimas autárquicas e nestas legislativas. Para além de para o registo histórico ficar o falhanço das previsões, a forma como estas marcaram o ritmo de toda a campanha é um sinal claro da obsessão pela forma nestas No campo particular da definição do sentido de voto, é indispensável também a menção ao papel das sondagens – embora esse merecesse por si só uma análise aprofundada e especializada. Com o advento dos dados, este já tradicional método de análise voltou a ganhar uma importância especial na política portuguesa, algo particularmente notório nas últimas autárquicas e nestas legislativas. Para além de para o registo histórica ficar o falhanço das previsões, a forma como estas marcaram o ritmo de toda a campanha é um sinal claro da obsessão pela forma nestas eleições, bem como da falta de rigor e profundidade dos instrumentos e das análises. Uma das sondagens mais sonantes durante o período de campanha foi a tracking poll levada a cabo pela TVI/CNN Portugal, que todos os dias acompanhava o resultado da variação dos eleitores, baseando-se em amostras de cerca de 120 pessoas para cada dia – e só o facto de entre os comentadores ser clara a influência da revelação dos dados no sentido de vota denota a relação perversa entre média e política.
Pistas para a compreensão
Embora estes fenómenos se apresentem como novos, exclusivos da política portuguesa, ou do momento particular do país, o que se vai lendo por aí dá-nos pistas para compreender os vetores principais desta dinâmica – a obsessão pela informação e pela transparência levada ao extremo. A primeira pode enquadrar-se de uma forma alargada naquilo a que o filósofo e professor de ética da informação Luciano Floridi chamou de “4ª Revolução da Informação” – a informatização das sociedades, que, com tudo o que isso implica (desde a digitalização dos serviços à financeirização das economias), alterou a perceção dos humanos sobre si próprios. No meio de tanta informação já não nos vemos e concebemos como seres exclusivamente biológicos, mas antes como seres informacionais em trocas constantes. E é a partir deste pressuposto que podemos observar o crescimento importância da informação nas sociedades contemporânea. Floridi fala-nos, por exemplo, de como hoje se tornou reprovável estar errado ou desconhecer algo, uma ideia que nos dá pistas para compreender um espaço público cada vez mais polarizado, reduzido a posturas cada vez mais declarativas e com menos espaço para aprendizagem e diálogo. Mas não é só no cidadão comum que esta revolução projeta os seus efeitos.
Hoje tornou-se reprovável estar errado ou desconhecer algo, uma ideia que nos dá pistas para compreender um espaço público cada vez mais polarizado.
Num outro trabalho, Capital Is Dead, a autora McKenzie Wark, a académica especialista em estudos dos média e teoria crítica, sugere que a influência das relações de informação no mundo em que vivemos vai muito para além da nossa observação. Para McKenzie, os fluxos de informação têm hoje uma importância comparada aos fluxos de capital, e é nas assimetrias de informação entre classes que se dá uma parte importante da luta política. A autora fala-nos de uma informação fragmentada, mercantilizada, servida como produto de consumo, que reduz o cidadão potencialmente emancipado à condição de consumidor de informação – e, por inerência – da própria Democracia. Desta ideia, destacam-se para este argumento essencialmente dois pontos. O desligamento da informação do seu propósito – de informar o processo democrático e emancipar os cidadãos –, tornando-a numa lógica de consumo que não permite criar uma lógica única do mundo. E, para além disso, a importância do controlo da informação – algo particularmente interessante em países como Portugal, com uma baixa tradição mediática e onde um punhado de grupos económicos detêm os principais todos os principais títulos: em vez de servir à emancipação do leitor, a informação parece servir à perpetuação da sua condição, cada vez mais afastado do poder, cada vez mais sujeito a consumir o que lhe é dado.
“A partir daí poderia construir-se uma imagem dos Estados Unidos como altamente polarizada pela exploração, um país onde o açambarcamento de oportunidades da classe média está a ser corroído pelo que ele chama de neoliberalismo e desindustrialização. Penso que isto pode ser entendido mais claramente em termos de novas forças de produção que instrumentalizam e racionalizam a informação, dando origem a novas formas de propriedade e, consequentemente, novas relações de classe, incluindo uma relação antagónica entre uma classe hacker encarregada de fazer da informação uma novidade (a condição de ela se tornar propriedade) e uma classe vetoralista que possui ou controla o vector de controlo e dominação da própria informação.”
– Tradução livre de McKenzie Wark em Capital is Dead
Já em We Have Never Been Modern, de Bruno Latour, editado em 1991, o autor versa sobre a importância da correlação entre os factos para um entendimento da realidade em toda a sua complexidade. Latour criticava, à data, a fragmentação dos assuntos em disciplinas de especialidade, e em categorias de análise, enquanto apelava a que se desenvolvesse uma perspectiva unificadora do ocidente que nos permitisse compreender de forma mais aprofundada as interdependências que moldam o sistema, e mais de 30 anos depois nada parece ter melhorado nesse aspecto. Se ler o jornal é a forma de rezar do homem moderno, como dizia Latour (“Se ler o jornal diário é a forma moderna de oração do homem, então é um homem muito estranho que está de facto a rezar hoje enquanto lê sobre estes assuntos confusos. Toda a cultura e toda a natureza se agitam de novo todos os dias”), hoje em dia a migração da informação para circuitos menos consolidados ainda fragmentou mais essa reza. O mesmo racional se pode aplicar à política, dada a fragmentação das abordagens, a polarização dos debates e o verniz da técnica sobre as áreas de interesse político, não existe um fio condutor entre as ideias dos vários partidos, muitas vezes mesmo que sejam do mesmo quadrante político. Em vez disso, partidos e políticos posicionam-se quase sempre por oposição dos demais, mesmo que na prática as suas opções políticas possam não ser assim tão diferentes.
Partidos e políticos posicionam-se quase sempre por oposição dos demais, mesmo que na prática as suas opções políticas possam não ser assim tão diferentes.
A imaginação
De resto, a metáfora da reza, enquanto apelo a algo transcendental, metafísico, mesmo nos domínios mais sociais, assume hoje em dia um papel especial, contrastando com a hiper-racionalização de que falara anteriormente. A reza do homem contemporâneo parece ter migrado dos factos para os dados – uma informatização dos mesmos, um fenómeno a que Byung Chul-Han relaciona com o fim da teoria. E se este caminho pode para alguns parecer um progresso, parece no computo geral, representar o fim da imaginação ao serviço da política, como o estádio último de rendição da democracia ao neoliberalismo – ou a uma qualquer forma de política validável por operações de cálculo (o debate sobre o RBI é neste ponto um bom exemplo, como seria fácil arranjar dezenas de exemplos sobre a falta de imaginação nas políticas).
À falta de teorias – e, de uma forma abrangente, de ideias –, a política é hoje em dia, como vimos, composta por dados e comparações que diminuem o seu alcance. Como diz Byung Chul-Han, na sociedade da transparência não há poetas, sedução, nem metamorfoses, o mundo é servido a cru cortado em pequenas porções de fácil consumo com que somos absolutamente empanturrados, criando uma falsa sensação de entendimento: “A massa de informação e imagem oferece uma plenitude em que o vazio ainda é percetível. Mais informação e comunicação por si só não iluminam o mundo. A transparência também não implica clarividência. A massa de informação não produz verdade. Quanto mais informação é libertada, mais difícil se torna fazer sentido do mundo. A hiper-informação e a hiper-comunicação não trazem luz para a escuridão.”
À falta de teorias – e, de uma forma abrangente, de ideias –, a política é hoje em dia populada por dados e comparações que constrangem o seu alcance.
Se todos estes fenómenos podem parecer secundários é importante considerar o mundo que projetem à nossa vista. A ideia de uma sociedade regida inteiramente por factos, hiper-informada e em que tudo é quantificável, a sociedade da transparência, transporta-nos para um espaço onde “não há espaço para a confiança”. Do mesmo modo que na análise dos debates e nos quizzes eleitorais, a componente da convergência entre partidos era deixada completamente de fora, neste modelo de sociedade como ilustrado nesta reflexão, o diálogo é substituído por monólogos concorrentes, e a confiança decorrente das relações é substituída pela desconfiança decorrente da prevalência das declarações – quem acredita em quem fala demais?
É no meio de tudo isto que emergem os fenómenos populistas que apelam a uma transparência radical mas ilusória – como os partidos que falam de corrupção valendo-se do número de propostas sem serem questionados sobre a sua qualidade – que se instrumentralizam vidas de pessoas (como as que recebem o RSI), sem que a desumanidade das teorias seja liminarmente denunciada – e que grassam teorias da conspiração porque escasseia a confiança em qualquer instituição e o mundo pede que demos um sentido concreto a tudo.
É no meio de tudo isto que emergem os fenómenos populistas que apelam a uma transparência radical mas ilusória – como os partidos que falam de corrupção valendo-se do número de propostas sem serem questionados sobre a sua qualidade.
“A sociedade da transparência é uma sociedade de desconfiança e suspeição; depende do controlo devido ao desaparecimento da confiança. Apelos veementes à transparência apontam para o simples facto de que o fundamento moral da sociedade se tornou defeituoso, que valores morais como a honestidade e a retidão estão a perder cada vez mais o seu significado. Como o novo imperativo social, a transparência está a tomar o lugar de uma instância moral que iria desbravar novos caminhos.”
– A Sociedade da Transparência, de Byung-Chul Han
Se durante o exercício https://shifter.pt/wp-content/uploads/2023/04/333930326_6734667403227056_1447582654111296349_n-1.jpgistrativo a transparência é um pilar da confiança, na prática pública da política esconde o vazio da falta de imaginação, e ofusca, com o seu reflexo, os projectos políticos com menos mérito, fazendo-os aparecer envoltos numa aura luminosa para os que só os vêem ao longe. Se num mundo de crescente complexidade e hiper-conexão poderia ser expectável que a socialização da política aproximasse os eleitores dos debates e das decisões, a verdade é que a aceleração do tempo social – e talvez o confinamento provocado pela pandemia – parece ter dado lugar a uma espécie de hiper-identificação, como no fenómeno das bolsas GameStop. Se nesse caso, milhares de pessoas correram a fazer-se de investidores, neste correram a fazer-se de políticos, especulando não com activos financeiros mas com realidades e projectos políticos, mais baseados em hypes da internet do que em informação real, concreta e valiosa.