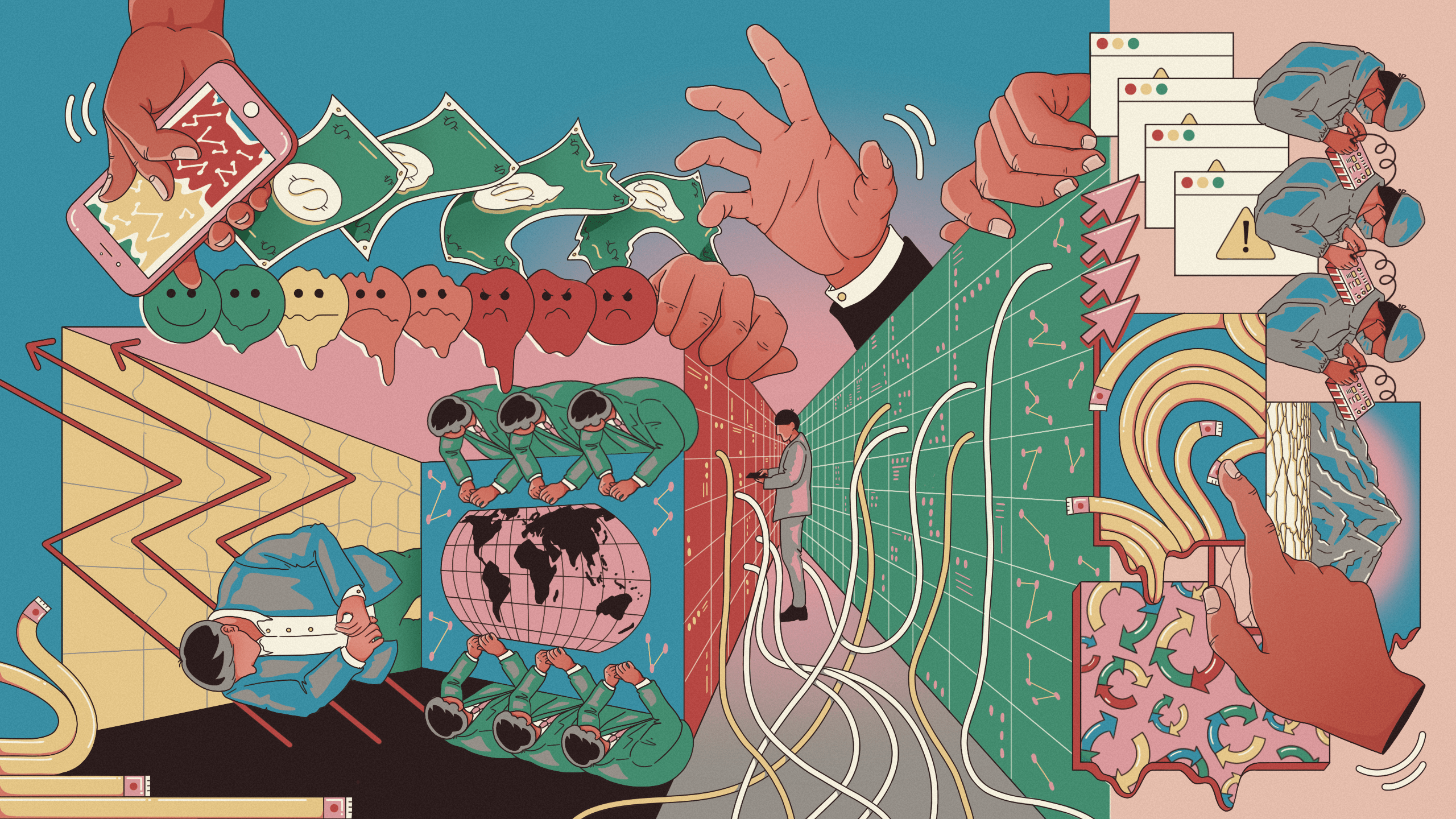Numa entrevista recentemente concedida à RTP 3, o jurista e actual Presidente do Conselho Directivo do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT), Jorge Bacelar Gouveia, declarava haver um “fenómeno novo”, associado a uma “nova cultura hip-hop”, “que pretende usar da violência [e tem] uma identidade de agressividade e de afirmação de grupo que passa pela delinquência”. Nas redes sociais, assumiu-se que estas declarações apresentavam como uma novidade uma cultura urbana que existe há tanto tempo quanto Bacelar Gouveia e tornaram-se, por isso, motivo de paródia. Mas, para sermos rigorosos, o alvo era um subgénero do hip-hop com um crescimento assinalável em Portugal nos últimos anos: o Drill. O Drill tem merecido alguma cobertura mediática sensacionalista, mas a origem da informação de Bacelar Gouveia vem de uma fonte mais “séria”: o Relatório de Segurança Interna (RASI) mais recente, relativo ao ano de 2021.
O RASI é um documento apresentado anualmente pelo Governo, cuja publicação foi decretada, em 1987, pela Lei da Segurança Interna (revista em 2008), para escrutínio público e parlamentar do trabalho das autoridades policiais nacionais. Nas suas páginas, apresenta-se um balanço quantitativo e qualitativo da criminalidade nacional participada e identificam-se as principais ameaças à segurança interna. As populações dos “bairros degradados”, “bairros problemáticos” e, actualmente, “Zonas Urbanas Sensíveis” (ZUS), são um dos focos principais destes relatórios desde a sua origem, especialmente no que concerne às rubricas dedicadas à “delinquência juvenil” e à “criminalidade grupal” – aspectos presentes no retrato de Bacelar Gouveia – que se consideram ter “maior incidência” nestas zonas. Segundo o RASI de 2021, é possível “inferir a existência de homogeneidade” nas características da criminalidade grupal, destacando-se a faixa etária – compreendida entre os 15 e os 25 anos – e “uma multiplicidade de factores, de lealdade ou de associação, seja através da identificação do grupo (gangue) como bairro, grupo musical (geralmente hip-hop ou drill) ou mesmo o meio escolar frequentado” (p. 11). Mais à frente, vai-se mais longe e afirma-se que “deve salientar-se a preponderância da subcultura hip-hop como uma das principais formas de expressão de grande parte destes jovens, nomeadamente, através da gravação e edição de videoclips, com roupas e cartazes alusivos ao respectivo gangue ou bairro” (p. 48).
A nomeação insistente de uma expressão artística particular, e da sua associação a um fenómeno criminal, não costuma ser tão explícita nos RASI. Não obstante, a sua aparição, mais do que o resultado da violência que o Drill expressa nos seus vídeos e letras, é sintomática de algo mais profundo. Corresponde, desde logo, à antiga prática de situar as causas de certas manifestações de violência e “desordem pública” em determinadas culturas, territórios e sujeitos, nomeadamente urbanos e juvenis e, frequentemente, racializados. Vai, por isso, muito além da confusão infantil entre a representação e a realidade que sempre perseguiu diferentes formas de expressão artística – uma confusão atrativa para os poderes instituídos e para a comunicação social, pois sempre serviu, convenientemente, para virar certos problemas de pernas para o ar e situar as suas causas naquilo que são, no fundo, as suas excrescências e manifestações. Interessa-nos, por isso, ir além do diagnóstico e das referências conjunturais que o RASI nos oferece sobre um ano particular, para fazer sobressair as tendências que são transversais à mentalidade que produz estes relatórios.
“O crescimento de uma extrema-direita violenta era há muito notório e era referido nos RASI, mas merecia incomparavelmente menos atenção e espaço do que a dedicada à criminalidade de “contornos nitidamente racistas” alegadamente praticada por indivíduos de “origem africana”.
O inimigo público negro
Os RASI sofreram algumas mudanças ao longo dos anos. A apresentação dos dados estatísticos foi adoptando um modelo crescentemente sistematizado e a linguagem usada tornou-se cada vez mais padronizada. Por essa via, matizou-se o peso de desigualdades estruturais e reduziu-se a evidência de certos processos discriminatórios. Por exemplo, as referências qualitativas e quantitativas a determinadas “raças” ou grupos étnicos e a associação explícita destes com a criminalidade tornaram-se praticamente residuais e foram substituídas por uma “geografia da criminalidade” – ligada aos “bairros problemáticos” ou, na formação actual, corrente nos RASI desde 2009, “Zonas Urbanas Sensíveis” (ZUS). Esta substituição aconteceu gradualmente, em sintonia com algumas transformações que se deram na sociedade portuguesa e no mundo. Por um lado, tal como sugerido, resultaram de um cuidado em obscurecer a persistência de mecanismos de exclusão e de produção das desigualdades que estruturam a sociedade; por outro, reflectem a crescente neoliberalização da sociedade portuguesa, aliada a uma lógica securitária que se intensificou no pós-11 de Setembro, com a demissão do papel social do Estado e a emergência de uma lógica eminentemente securitária que procura limitar a sua presença e intervenção a um forte aparato policial.
Diagnósticos como o que o SIS fazia no RASI de 1995, em contracorrente com as teses então dominantes, sublinhando que as “escaramuças” com a polícia que se davam em “bairros degradados ou periféricos” tinham uma escala modesta no país (p. 84) e remetiam para as “causas socioeconómicas” – e defendendo, inclusivamente, que o Estado deve afirmar presença nesses bairros “não necessariamente pela Polícia” – desapareceram por completo dos relatórios nos últimos 20 anos. Nas 338 páginas do RASI de 2021, palavras como “pobreza” ou “desigualdade” não aparecem uma única vez e “racismo” só surge em referência a planos que visam combatê-lo no desporto. Não aparecem, nunca, como factores explicativos ou contextuais para as realidades e para as populações que descreve.
Nos primeiros RASI, até aos primeiros anos de 2000, era estabelecida uma relação explícita e directa entre determinados grupos étnicos e ameaças à segurança interna e à ordem pública. Em 1993, por exemplo, num tom que se repetiria nos seguintes, a P.S.P. destacava “a criminalidade praticada por grupos de indivíduos, maioritariamente de origem africana, em geral com uso de violência, fenómeno este cada vez mais frequente em determinados locais de forte concentração e circulação de pessoas, nomeadamente em transportes públicos”. Essa criminalidade, segundo o relatório, tinha “contornos nitidamente racistas” – uma afirmação que procurava inverter, e com isso justificar, as formas de violência contra minorias então em crescendo na sociedade portuguesa, defendendo-se que tal criminalidade “torna a população mais intolerante” (destaques do autor; p. 67 e 69). Tinham passado poucos anos do homicídio de José Carvalho, militante do PSR, por skinheads neonazis e estávamos em vésperas dos incidentes racistas que resultaram no homicídio de Alcindo Monteiro, no Bairro Alto, em Junho de 1995. O crescimento de uma extrema-direita violenta era há muito notório e era referido nos RASI, mas merecia incomparavelmente menos atenção e espaço do que a dedicada à criminalidade de “contornos nitidamente racistas” alegadamente praticada por indivíduos de “origem africana”.
A criação de um inimigo público racializado mantém-se por alguns anos, sem relação evidente com as variações nas taxas de participação criminal. O destaque concedido aos fenómenos da “criminalidade grupal” e “delinquência juvenil”, categorias em que se determinou inserir a criminalidade em causa, emerge nas teses deste período e mantém-se até aos dias de hoje. A sua representatividade estatística nos valores de criminalidade globais, contudo, sempre foi ínfima. Para usarmos apenas os números da PSP, que operam em território urbano e suburbano, em 1996, por exemplo, estas categorias correspondem a 1,8% da criminalidade geral, e, em 2021, correspondem a cerca de 2%; ou seja, números praticamente insignificantes que não registam variações assinaláveis em nenhum ano. Apesar das generalizações que visam toda uma comunidade – “de ascendência africana” ou “raça negra” ou, posteriormente, das “Zonas Urbanas Sensíveis” –, é pontualmente admitido que os números que se verificavam nas taxas de delinquência juvenil e criminalidade grupal eram devidos a “plurireincidências” e não a um acréscimo do número de autores (ou seja, crimes tendencialmente cometidos pelos mesmos indivíduos; e.g. 2000, p. 68). Não se estava, além disso, perante nenhuma forma de criminalidade organizada (cf. 1998, p. 29), mas sim de actos “efémer[os] e praticamente espontâne[os]” (1994, p. 14) ou de natureza “oportunística” e sem planeamento prévio, por vezes surgida em contextos de “euforia colectiva” (e.g. 1997, p. 59), ou seja, o que noutros relatórios designam por “pequena criminalidade de rua” (e.g., 2000, p. 3). Mesmo assim, o pânico estimulado a partir das alegadas práticas criminais de “cidadãos de origem africana” leva a que o próprio SIS ceda ao alarmismo mediático e policial e anuncie ter “recolhido informação” sobre “criminalidade grupal”, no ano de 1999, nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto (2000, p. 57), áreas onde se concentra a grande maioria das chamadas ZUS.
Do corpo ao território
Por volta de 2000, as conexões explícitas que se estabeleciam entre crime e minorias étnicas e raciais desaparecem quase por completo da narrativa dos relatórios (excepção ao ano de 2004 em que a P.S.P. volta a discriminar a criminalidade praticada por “caucasianos” e por “negróides”, p. 102). Não obstante, os processos de profiling e targeting de determinados sectores da população – como atesta o exemplo com que começamos este texto –, permaneceram, até aos dias de hoje, um pilar estruturante das leituras feitas das ameaças à segurança interna e contribuíram para moldar as práticas policiais no território. Os alvos dessa intervenção continuaram a ser, em grande medida, as mesmas populações economicamente depauperadas e racializadas, mas operou-se uma mudança que eliminou a cor e fez sobressair a vinculação territorial. Em poucas palavras, os territórios periféricos – “bairros problemáticos” e ZUS”– passaram a ser o sujeito responsável pela disseminação dos tipos de criminalidade em causa e o protagonismo concedido ao sujeito “racializado” ou étnico foi aparentemente abandonado.
No RASI dedicado a 2005, os “núcleos suburbanos” são apresentados como “santuários de criminalidade” (p. 252) e, no ano seguinte, o SIS apresenta os mesmos “núcleos suburbanos” como locais que “propiciam o aparecimento da marginalidade e da delinquência, constituindo pólos de irradiação da criminalidade no meio urbano e de refúgio para os seus agentes” (p. 18). No relatório referente ao ano de 2008, “fruto da constante análise científica da geografia da criminalidade” (p. 168), a P.S.P. anuncia que “as zonas urbanas mais problemáticas foram objecto de uma atenção excepcional” e alvo de “diversas operações especiais de prevenção criminal” (p. 66). Nos anos que se seguem, essa atenção perde a excepcionalidade e passa a ser anunciada, anualmente, como uma “intensificação” (e.g. 2009, p. 9; 2010, p. 6 – isto apesar de também em 2010 se afirmar, “como em relatórios anteriores, [que] os conceitos de criminalidade grupal e delinquência juvenil apresentam um valor e interesse muito limitado, tanto sob o ponto de vista estatístico como analítico”, p. 118). Entre 2010 e 2020, as “operações de manutenção da ordem” em ZUS aumentaram de 165 para 24365 (e as de “reposição da ordem” de 13 para 1013)! A presença do Estado nestes territórios passou a cingir-se quase unicamente à “presença e visibilidade da acção policial” (2010, p.6).
Esta mudança, apesar de iniciada anos antes, ganhou uma nova solidez e orientação, em 2008, com o início da apresentação de uma estratégia anual de segurança. A actuação “preventiva” e, especialmente no caso dos serviços de informações, a “detecção e alerta precoce de ameaças e riscos (…), acompanhando, monitorizando e caracterizando os fenómenos que se configuram como ameaças globais” afirmam-se como os princípios orientadores da estratégia de segurança (2009, p. 91). Para estas mudanças, contribuiu o impacto dos atentados de 11 de Setembro de 2011 e o impulso que deu ao reforço das políticas securitárias, mas, também, a reconfiguração do papel dos Estados na sociedade. O abandono paulatino, pelo Estado, de um papel mitigador dos problemas e das desigualdades socioeconómicas, providenciando recursos, serviços e bens básicos acessíveis a toda a população – um cenário prestes a acelerar-se com a crise e as mudanças de paradigma dos anos seguintes – fez-se pelo reforço da função securitária.
“Como é evidente, a aposta na acção preventiva não teve em vista a redução da acção repressiva; antes pelo contrário, como já se viu, esta tornou-se “especialmente dirigida” e intensificou-se em territórios e sobre populações historicamente marginalizadas e estigmatizadas.“
A ameaça ubíqua e o medo como factor de controlo social
Uma das preocupações que se estabelece, então, como prioridade aponta para a gestão da “percepção” da população relativamente à segurança ou para o que, logo no relatório de 2002, se chamava a “insegurança (…) de ordem social e psicológica” (p. 9). Tal como sempre aconteceu com os fenómenos da “delinquência juvenil” e da “criminalidade grupal”, e com a sua associação a determinadas populações e territórios, não estavam em causa apenas delitos criminais (recorde-se que os dados quantitativos presentes nestes relatórios são unicamente referentes a participações, o que não resulta necessariamente de crimes). Mas o papel das denominadas “incivilidades” na disseminação do medo entre a população ganha outra relevância. Nas palavras do relatório em que pela primeira vez aparece o termo, associando-as às populações e à criminalidade que temos focado, sublinha-se que “até só mesmo a passagem desses grupos numa rua pode criar um medo generalizado do crime” (2001, p. 103). Em 2008, invocando novamente o efeito das “incivilidades”, reforçava-se a importância concedida a estes fenómenos e enfatizava-se mesmo a necessidade de “valorizar o medo”: “o discurso do medo deve ser muito valorizado, porque se tal não ocorrer fica prejudicada a confiança que os cidadãos depositam nas instituições formais de controlo social” (2008, p. 42).
Esta importância concedida ao “medo”, e ao seu potencial contagioso enquanto “medo generalizado”, conecta-se com outra mudança, mais profunda, que se dá nas práticas policiais e que emerge no mesmo período. O foco desloca-se para a capacidade de antecipar e prever ameaças, elaborando perfis “crimógenos” [sic] ou “terroristas”, através da produção de “informações” e da aposta em “programas e modelos de policiamento especialmente dirigidos a determinados grupos sociais” (2010, p. 124). No pós-11 de Setembro, expressões como “preterrorismo” e “precrime” e modelos de policiamento “antecipatórios” ou “preditivos”, disseminaram-se ao ponto da banalização, com a promoção da União Europeia, e serviram para normalizar práticas tendencialmente irrestritas de investigação, vigilância e repressão sobre as populações. O “medo” de atentados terroristas e da existência de um inimigo invisível e interno que tais conceitos invocam, permitiu uma operar uma ressignificação da ideia de “prevenção”, transformando-a num esforço quase adivinhatório de “previsão”. A ameaça tornou-se mais difusa e todos passamos a ser potencialmente suspeitos. Com isso, legitimou-se a necessidade de uma vigilância e a monitorização permanente sobre toda a população, mas, em especial, sobre todos aqueles identificados como “outros”, cujos “costumes”, “culturas” ou “estilos de vida” pudessem conter um “mal” capaz de corroer os “nossos” valores e a nossa sociedade.
Esta ubiquidade do “medo” e da “ameaça” não deixou de ter, por isso, alvos específicos, onde o risco seria mais latente. As ZUS mantêm-se como centros da “geografia criminal” e como “pólos de irradiação da criminalidade”. Mas o seu perigo é conectado a ameaças mais amplas e extravasa as fronteiras espaciais dos “bairros” ou dos “núcleos suburbanos”. Um perfil subcultural ou contracultural, caracterizado ora pela “perda dos valores culturais e morais de referência na sociedade” (2003, 40), ora por estilos de vida antagónicos ao hegemónico, com “códigos de socialização autónomos” (2009, p. 44), encontra-se com um “perfil político” que contêm em si o gérmen de uma ameaça generalizada ou até de uma guerra civil que põe em causa o Estado de Direito (já em 1994 a P.J. alertava para a possível emergência futura de uma “subclasse”, uma “contracultura que vive em permanente estado de guerra civil com a ordem civil dominante”, cf. 44). De acordo com os relatórios, tais “códigos de socialização autónomos (…) tendem a eximir-se à autoridade do Estado” (2009, p. 33); e os territórios onde tais códigos existem revelam-se permeáveis “à instrumentalização e mobilização para acção subversiva, por parte de grupos de intervenção social antissistema, que exploram, de forma oportunista, os problemas reais das comunidades, direccionando responsabilidades e motivando indivíduos jovens para a integração de plataformas de luta antissistema e/ ou movimentos de resistência contra a autoridade do Estado” (2011, p. 31). Conectam-se, além disso, com uma ameaça externa, através da emulação de grupos e ideias existentes noutros países, divulgados pelos média, pelos “filmes exibidos pelo cinema e televisão” (2001, p. 105), pela internet e, em 2021, no caso do Drill, através de “videoclips”. Não por acaso, a partir de 2006, a vigilância das ZUS passa a integrar as tarefas dos Serviços de Informação, como o SIS, e a constar anualmente nos RASI, com base no mesmo diagnóstico de “risco” ou “ameaça” (logo referente a algo nunca concretizado) até aos nossos dias.
Como é evidente, a aposta na acção preventiva não teve em vista a redução da acção repressiva; antes pelo contrário, como já se viu, esta tornou-se “especialmente dirigida” e intensificou-se em territórios e sobre populações historicamente marginalizadas e estigmatizadas. Na mesma medida, a eliminação do factor racial como categoria de identificação criminal não significou uma superação do racismo enraizado na sociedade e nas instituições portuguesas. Paradoxalmente, teve o efeito de reforçar a segregação e a discriminação racial, tornando-a praticamente invisível e inominável. Com a eliminação do factor racial, potenciado pela segregação estruturante do território português, o debate público sobre racismo e sobre o peso do colonialismo em Portugal, que nunca foi feito, tornou-se ainda menos premente: o problema passou a ser caracterizado em torno da “desintegração cultural”, de um “deficit de cidadania” e ou da existência em potência – como ameaça – de comportamentos e costumes disruptores da ordem pública e do Estado de Direito. O comportamento criminal ou ameaçador deixou, no fundo, de convocar explicitamente uma especificidade inscrita na natureza, determinada pela “raça”, e passou a corresponder a uma ameaça “cultural” e “identitária”, latente, disseminada e exterior a um “nós”, contagiosa como um vírus, e, portanto, independente, em última instância, das desigualdades inscritas na sociedade portuguesa e da degradação das condições de vida.
“Para a comunicação social, os RASI pouco mais são do que material pronto a ser transformado em manchetes rápidas e sensacionais. Contudo, podem e devem servir para mais.“
Resquícios coloniais
A identificação do hip-hop, ou de uma das suas expressões, como ameaça pode, neste cenário, parecer risível. Mas dificilmente pode ser considerada estranha. O hip-hop revelou-se, desde a sua origem, um terreno fértil para os média e para as autoridades expiarem alguns dos temores, pecados e falências civilizacionais. Como cultura eminentemente urbana, e surgida em comunidades particularmente fustigadas pela exclusão, pela pobreza e pela violência, os seus protagonistas cedo construíram um imaginário baseado no meio e na vivência quotidiana que conheciam. As suas letras e performances ofereciam um relato, vindo da linha da frente, sobre territórios que se queriam distantes e isolados e, mais significativamente, iluminavam formas de violência que se queriam inomináveis e comprometiam toda uma sociedade; formas de violência que tinham as suas raízes bem mais fundas do que a violência mediática e espetacularizável dos gangues, das armas e das drogas a que se procurava reduzir comunidades inteiras e que serviam de manto para esconder outros problemas mais sérios.
A mesma perseguição recaiu sobre praticamente todas as expressões culturais associadas às classes baixas e, em particular, às comunidades de origem africana que antecederam o hip-hop. Para nos cingirmos a estas, na perseguição aos “batuques” em territórios coloniais, vistos como uma ameaça civilizacional pelo “barulho infernal” que geravam e por induzirem a desordem e a embriaguez2, passando pelo medo dos ritmos, demoníacos e nocivos para a saúde do jazz, chegando, enfim, ao hip-hop e aos seus múltiplos géneros, estamos perante uma mesma racionalidade colonial de criação de um “outro”, em cujos comportamentos e costumes se encontram as causas da desordem e disrupção social que legitimam todo um aparato securitário e segregacionista.
As estatísticas e as apreciações qualitativas presentes nestes relatórios, e logo o alarmismo que se procura extrapolar a partir de alguns dos seus dados, não são um mero reflexo da “criminalidade real” nem tão pouco das “ameaças” iminentes ou potenciais, aparentemente surgidas como ervas daninhas, deslocadas das dinâmicas sociais e económicas dominantes. Por outras palavras, não têm apenas um papel “passivo”; têm, acima de tudo, um papel “activo”, condicionando e interferindo na realidade que procuram retratar com aparente distância e objectividade. Para além de manipularem os sentimentos de medo e insegurança na população, brandindo ameaças visíveis e invisíveis, tais dados, e os diagnósticos que a partir deles se constroem, condicionam e legitimam a forma como se concebem as práticas de intervenção policial e a legitimidade com que estas são encaradas publicamente.
Para a comunicação social, os RASI pouco mais são do que material pronto a ser transformado em manchetes rápidas e sensacionais. Contudo, podem e devem servir para mais. Em Portugal, em geral, os episódios que expõem a persistência do seu passado colonial, e os efeitos da discriminação e repressão que se abatem sobre certos sectores da sociedade, são vistos como acidentais e pouco ou nada representativos da realidade nacional, sendo, por isso, incapazes de sustentar um debate necessário. A negação das formas de racismo que estruturam a sociedade portuguesa é uma constante. Mas, como uma leitura dos RASI revela – apesar das suas características e parcialidade, pois os dados e análises são essencialmente baseadas nas informações selectivas das próprias polícias –, os processos de inscrição, em certos corpos e territórios, da origem de alguns dos “males” que “ameaçam” o país redefiniram-se, mas nunca desapareceram. No fim de contas, a exclusão económica, social e política e o racismo continuam a afectar as populações que sempre afectaram, e continuam a estar marcadas no mapa com a mesma nitidez. E uma das formas de esconder a violência de todo um sistema, passa por isolá-la e situá-la em sujeitos e comunidades específicas.
1- Todos os RASI publicados desde 1991 podem ser consultados e descarregados nesta página: http://www.ansr.pt/InstrumentosDeGestao/Pages/default.aspx
2- Um exemplo que Flávio Almada também invoca num vídeo sobre o mesmo RASI de 2021: https://youtu.be/jqi92P2PrTo