As dinâmicas do nosso mundo são diferentes daquelas com que os nossos antepassados, mesmo os nossos pais, tiveram de lidar: cada vez mais se estreita a relação entre o mundo real e o digital. As interações entre ambos, seja de forma banal, através das redes sociais ou de uma forma mais crítica, como em precisas operações cirúrgicas, fazem-nos dar asas à imaginação e, inconscientemente imergem-nos num plano em que estes sistemas se relacionam de tal forma que já não é possível determinar onde começa um e onde acaba o outro. Esta sensação de fusão alastra-se para outras dimensões do nosso quotidiano e os limites outrora estanques diluem-se.
Onde começa o trabalho e acaba o lazer? Onde acaba o profissionalismo e começa o sacrifício? Onde começa a arte e acaba o design? E o que ganhamos ou perdemos nesta difusão? Silvio Lorusso, artista, escritor e designer, doutorado em Ciências do Design, e com uma ligação recente a Portugal onde é vice-director do Center for Other Worlds da Universidade Lusófona de Lisboa, reflecte sobre tudo isto tendo como ponto de partida intersecção entre o tecnológico e social e a sua visão enquanto designer. O seu livro de estreia, ENTREPRECARIAT: Everyone Is an Entrepreneur. Nobody Is Safe, publicado em 2019, é uma das expressões dessa reflexão, que também ganha forma em diversos projectos artísticos.

Em Entreprecariat, Lorusso explora a cultura que se criou em torno do trabalho e o culto gerado em torno do empreendedorismo, contrastando-o com a realidade da precariedade e a percepção que a sociedade cria dos diferentes graus profissionais, aludindo ao conceito de David Graeber de “trabalhos de merda”. Entreprecariat, cujo título funde entrepreneur com precariat, ilumina a lógica da delegação, explorando um universo em que trabalhadores individuais fazem outsource da parte precária e pouco criativa da sua atividade com o intuito de arranjar tempo para se dedicarem à parte empreendedora ou de gestão. O objetivo é repensar as categorias que usamos para catalogar determinados empregos, como “intelectual” ou “criativo”, e o valor que lhes atribuímos.
Foi partindo dessa leitura que falámos com Lorusso que ao longo da sua carreira se tem debruçado sobre tópicos estruturantes das ‘novas sociedades’ como a noção de trabalho, o nosso futuro tecnológico e os desafios que os artistas do século XXI têm pela frente, numa troca de ideias por e-mail, entre perguntas provocadoras e respostas reflexivas.
“A horrível verdade da cultura fake it ‘till you make it é que as percepções são tão reais como as ações.”
Mesmo nas reflexões sobre trabalho, a abordagem de Lorusso vai para além da dimensão superficial. Numa importante derivação, dedica parte da obra a pensar e conjecturar sobre a forma como o trabalho adquire uma dimensão estrutural quer nas sociedades quer nos indivíduos. Se por um lado a dedicação das sociedades ao trabalho tirou muitos milhões da pobreza extrema, numa consequência obviamente positiva desta mudança, por outro o trabalho tornou-se central na identidade de cada um com tudo o que isso implica.
Salvo raras excepções, a nossa profissão é o que nos acompanha durante a maior parte das nossas vidas e é o maior conversation starter que temos (acho que nunca vamos querer abdicar do mítico “como está o trabalho?”). Mas como Lorusso propõe, neste jogo de sombras, a distinção entre a percepção e a realidade é muito mais ténue do que por vezes pensamos: dando origem a uma espécie de cultura que propõe o fingimento como forma de perseguir objectivos, e como nos explica, mais uma vez, dilui as barreiras do que geralmente acreditamos ser altamente objectivo
“A horrível verdade da cultura fake it ‘till you make it é que as percepções são tão reais como as ações. Feitas as contas, manifestos radicais são projeções que exigem ser implementadas. E sendo assim, o ponto não é defender uma posição purista em que o que é verdade está claramente separado do que é mentira, ou realidade da ficção, mas sim decidir que ficções merecem tornar-se realidade.”
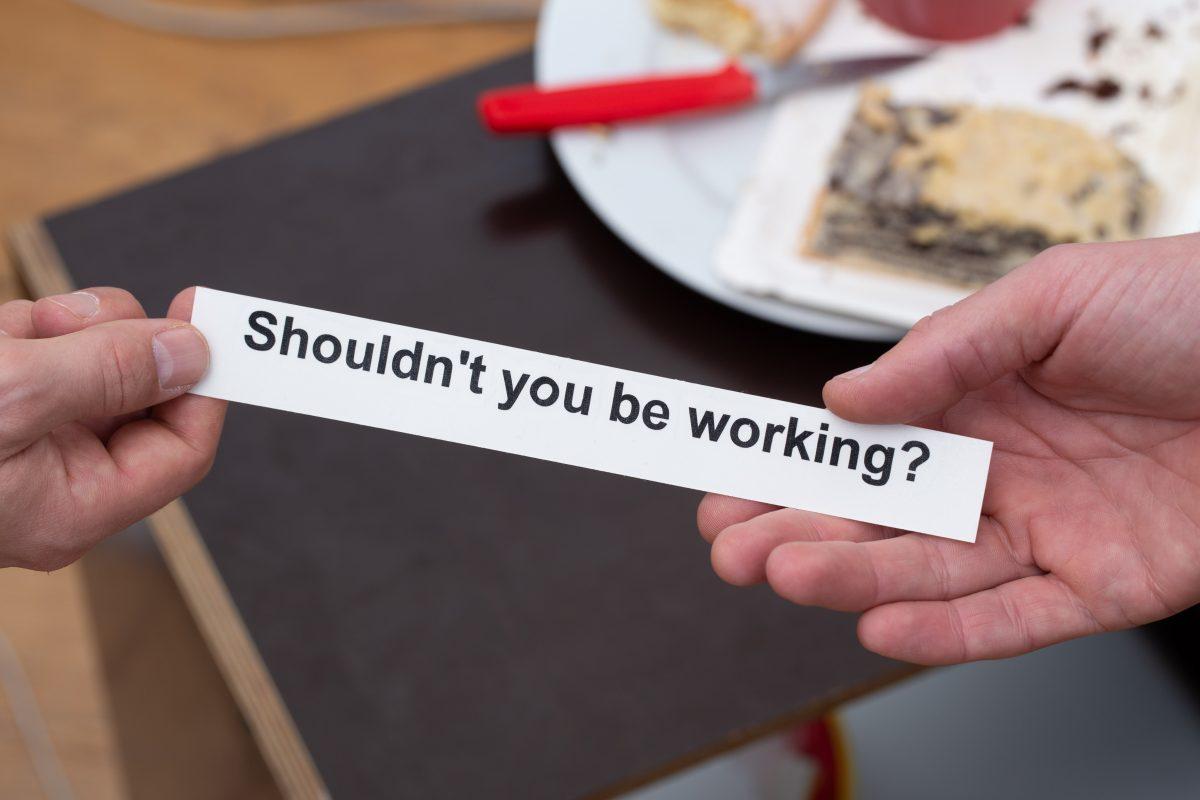
As consequências, fruto da obrigatoriedade do trabalho e dos valores que nos são incutidos desde tenra idade acabam por ser inevitáveis, o trabalho é um elemento central nas vidas contemporâneas e através do qual devemos pôr os nossos propósitos em acção. Ainda assim, a constante busca da realização no trabalho de sonho continua a esbarrar na necessidade de pagar as contas com um emprego comum, num confronto com vários desfechos possíveis. Neste capítulo, Lorusso divaga a nosso desafio sobre a possibilidade de largarmos a ideia de trabalho obrigatório para a nossa sobrevivência individual, dado o nível de produção das sociedades contemporâneas, e dando azo à criação de um mundo consideravelmente diferente.
O muito debatido Rendimento Básico Incondicional (RBI) aparece como dedução da ideia de que todos os cidadãos merecem uma vida digna e sem as pressões associadas à pobreza ou à falta de trabalho.
“Não sou economista e não posso falar sobre as tecnicalidades ou a viabilidade de um RBI. Antes da pandemia, pensei no RBI como experiência de pensamento, um poderoso “e se” capaz de mudar os termos da conversa que existe em torno do trabalho. Depois, o COVID apareceu e em determinadas partes do mundo, essa experiência de pensamento tornou-se realidade. Na Holanda, que é onde moro, artistas com um número fiscal tiveram acesso a um pseudo-RBI que não precisava de muita burocracia. Foram tempos estranhos: houve muita ansiedade mas também uma sensação de alívio. E talvez seja esta mesmo a essência fundamental do RBI: não é uma panaceia absoluta mas sim um medicamento que faz parte de uma estratégia económica e cultural maior.”
Se muito pode ser dito sobre o propósito da vida, e a que devemos dedicar o nosso quotidiano, actualmente o supremo indicador de sucesso é o aumento da nossa produtividade individual (e consequentemente coletiva). Apesar de já ser certo e sabido que esta mentalidade não é um bom caminho, ainda é comum sentirmos que temos ser produtivos 24/7 e duvidarmos de nós próprios quando isso não acontece. Lorusso sugere neste caso que o importante é um reenquadramento dessa noção vaga que é a produtividade.
“Há que manter em mente que a produtividade é uma qualidade relativa, mesmo em termos utilitários: novas ideias florescem em momentos de lazer, uma boa noite de sono torna-te mais perspicaz. Posto desta forma, não existe nenhuma atividade completamente não-produtiva. É uma questão de mindset: se pensarmos em atividades como um meio para atingir um fim, estaremos sempre presos num ethos produtivo, mesmo que as atividades em questão sejam de ócio. No passado, a religião fornecia um “espaço seguro” para atividades em e para si. A estas atividades damos o nome de rituais. Como é que criamos rituais sociais que geram o seu próprio significado numa sociedade secular? Como é que voltamos a injetar o sagrado nas nossas vidas?”.
Na ausência do sagrado geram-se autênticas mitologias assentes no louvor à produtividade, como a cultura das startups. Estas pequenas empresas não têm nada a perder e tudo a ganhar, graças ao survivorship bias que nos é incutido desde a sua génese. O ambiente social incentiva-nos constantemente à criação da nossa própria startup (depois da pergunta “como vai o trabalho” vem sempre “e já pensaste começar a tua própria empresa?”) mas falha em avisar-nos de que, de uma forma muito pragmática e brusca, neste mundo só existem dois finais prováveis: ou a empresa falha e nunca chega a levantar voo ou torna-se sucedida ao ponto de chamar a atenção de alguma empresa das Big Tech e acaba por ser absorvida ou por se desviar do seu propósito inicial.
“O mito da startup é mais elástico do que o mito da empresa. Os valores culturais ligados à empresa são apenas uma parte dos valores apegados à startup. A ideia da startup mobiliza o tropo da viagem do herói, encarnado pelo fundador que “consegue chegar lá”. A startup também simboliza a fé na tecnologia como uma força messiânica (a startup de excelência é uma empresa tecnológica). Para além disto, a startup fala da promessa meritocrática das oportunidades iguais, o ethos do trabalho árduo, o elogio da juventude… a lista podia continuar!”.
“Não é possível mudar estratificação social com um protocolo”
Noutro extremo, os artistas são dos agentes mais vulneráveis da sociedade, muitos chegando ao cúmulo de ser odiados enquanto vivos e adorados quando mortos, sem conseguirem um meio de subsistência para o seu trabalho. Para além disto, com o grande crescimento da relevância das redes sociais nas nossas vidas, vemos uma crescente industrialização da criatividade, através da monetização destas plataformas, e uma desvalorização generalizada: na Internet tudo parece instantâneo, até mesmo atividades que demoram décadas a aperfeiçoar e a percepção de valor sobre o trabalho dos artistas decresce.
“Dos artistas que conheço, praticamente ninguém trabalha só como artista. Cada um tem trabalhos secundários, sejam em educação, design, publicidade, programação, restaurantes, etc. É importante clarificar de uma vez por todas que o artista puro, ou seja, o artista que trabalha só como artista é uma excepção estatística. Dando uso à linguagem das startups, é um unicórnio. Manter em mente um “artista multi tarefas” mais frequente levaria a mudanças radicais na educação e crítica artística, nas estruturas de financiamento e na elaboração de políticas”.
Esta noção de excepção estatística é relevante porque na sociedade presente, há a tendência para olhar para a tecnologia como uma solução plausível para todos os nossos problemas. Não é de espantar que a mais recente iteração da Web, a já muito falada Web 3.0, promete não só resolver alguns dos problemas inerentes da arquitetura mais predominante hoje em dia (a centralização do poder em algumas plataformas específicas), mas também atenuar a precariedade no mundo da arte através dos muito debatidos Non-Fungible Tokens (NFTs).
“Uma tecnologia só nos consegue levar até certo ponto: não é possível mudar estratificação social com um protocolo. Especificamente, duvido que a Web 3.0, que a mim parece ser um termo abstrato para um conjunto de tecnologias que ainda não existem, consiga radicalmente transformar a classe do artista na sociedade. Claro, artistas que não são totalmente reconhecidos pelo circuito tradicional de arte contemporânea estão a atingir autonomia financeira e portanto artística através destes meios, mas temos de perguntar a nós mesmos: quão grande é esta multidão? Não pretendo minimizar a mudança, mas sim resistir a entusiasmos exagerados. Dito isto, tento ir contra o meu ceticismo instintivo espoletado pela retórica altamente idealista que rodeia a Web 3.0 e acompanho com curiosidade o trabalho de equipas de artistas que estão a experimentar com estas ferramentas e ideias. Para além disto, temos de ter em atenção que o mercado da arte em geral é verdadeiramente o pior, portanto é fácil fazer parecer bom quase qualquer coisa em comparação.”

“Para gerar novas formas de viver, os designers não devem largar os computadores, mas sim a ficção que os coloca no topo dos processos de decisão.”
No seu livro de 1971, Artista e Designer, Bruno Munari descreve o trabalho de um designer como algo que “…não é pessoal mas de um grupo: o designer organiza um grupo de trabalho segundo o problema que deve resolver. Não trabalha para uma elite.”. Silvio Lorusso faz parte de uma facção dos designers para quem pensar a sociedade numa óptica de resolver problemas – mesmo que seja apenas detectando-os – é parte fundamental da prática. Para além da criação de objetos gráficos, designers podem ter um papel ativo e influente na organização e melhoria dos sistemas sociais atuais, sendo certo que idealmente o farão em prol da comunidade e nunca de uma elite, mas é preciso ganhar consciência de que esse não é, actualmente, o seu habitat natural.
“O redesign social tem sido de facto o foco dos designers, tanto do presente como do passado. O redesign social está no centro da narrativa da disciplina, desde a escola de Bauhaus até a Silicon Valley. No entanto, isto é de facto uma narrativa, uma forma de decepção pessoal que esconde o papel real da maioria dos designers: meros executadores de planos de outrém. Para gerar novas formas de viver, os designers não devem largar os computadores, mas sim a ficção que os coloca no topo dos processos de decisão. Uma compreensão mais realista da sua posição que poderá levar a novas e diferentes alianças com as comunidades. Verdade seja dita, a palavra “design” é um eufemismo para bricolage: designers estão inevitavelmente imersos em condições pré-existentes e estão sempre em dificuldades com limitações. Historicamente, a disciplina tem valorizado determinadas restrições em relação a outras, especialmente as mais formais. A inclusão de uma matriz de restrições mais ampla no campo de visão dos designers iria afetar tanto a formulação de problemas de design como a sua resposta.”
A busca por respostas é nobre e acompanhar-nos-à enquanto existirmos como espécie, no entanto, é necessário compreender que mais importante do que querer perguntar é estar pronto para receber perguntas com um cariz mais complexo de volta.
Mais do que ideias fortes e prontas a consumir, esta curta conversa com Silvio Lorusso, devolve-nos uma série de perguntas para reflexão (o chamado food for thought) e apresenta-se, não como um guião detalhado de pares problema-solução, mas sim como um conjunto de ideias que nos pode ajudar a vislumbrar um pouco para além do nevoeiro que rodeia o nosso futuro incerto.





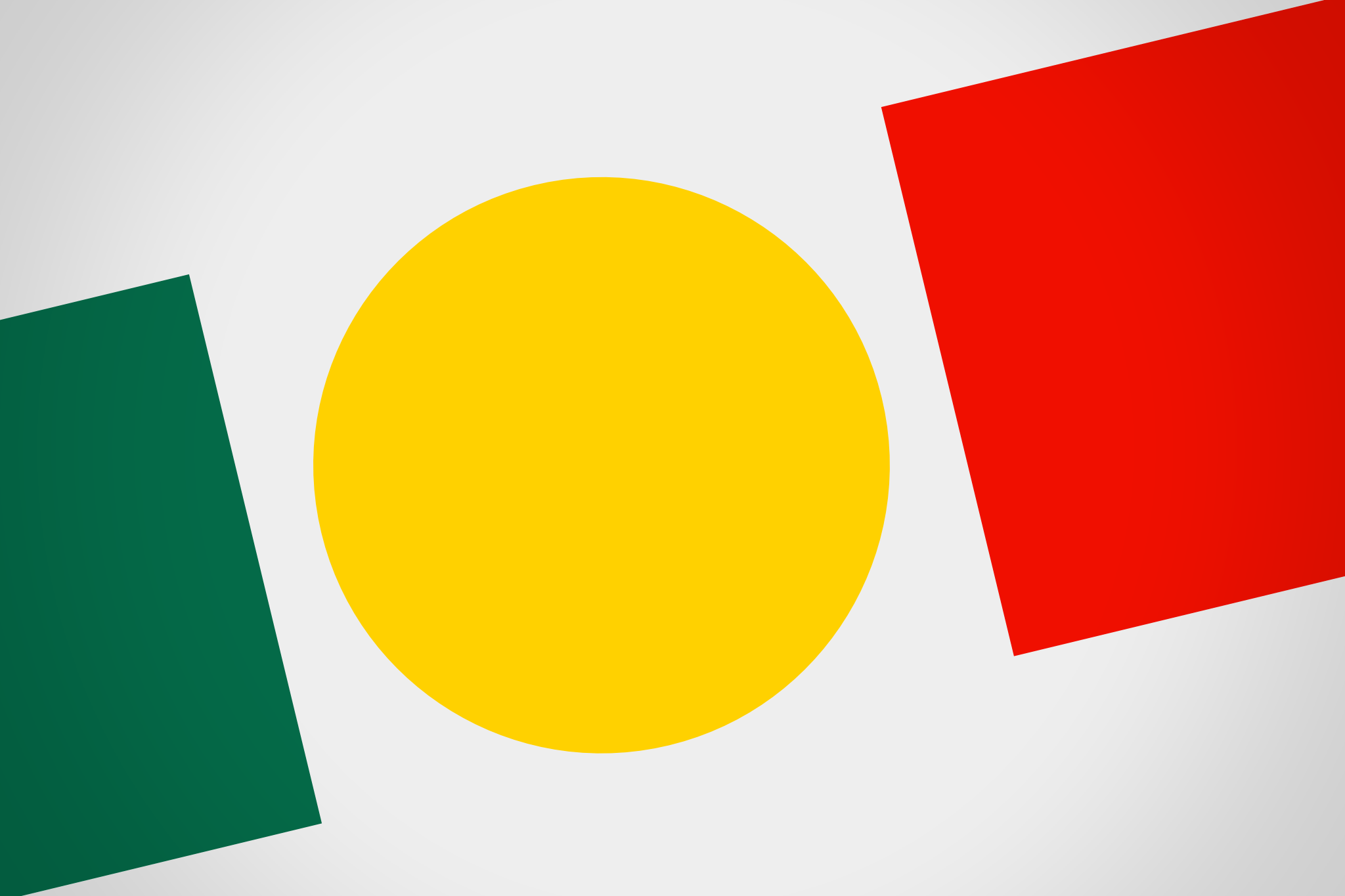
You must be logged in to post a comment.