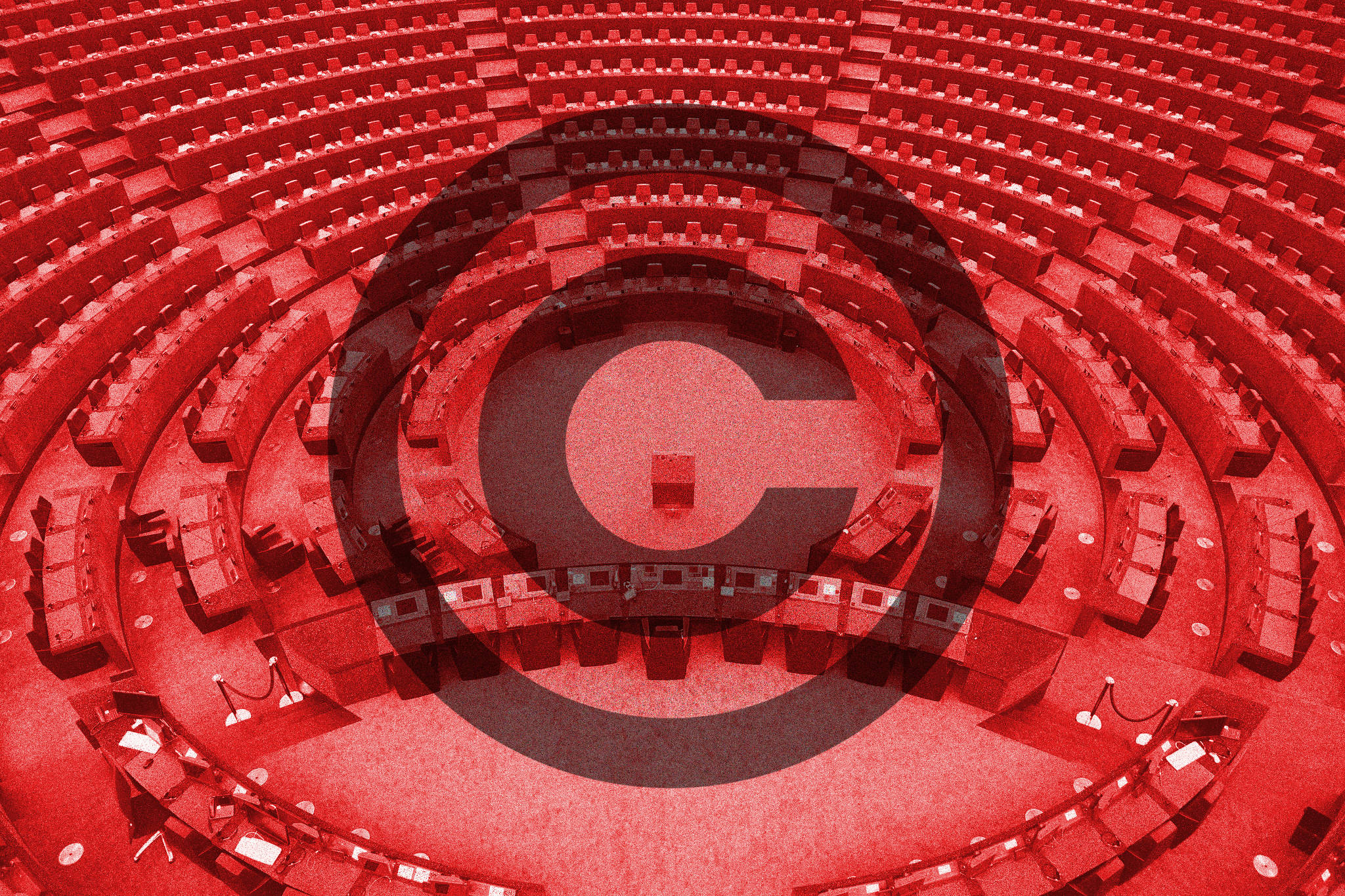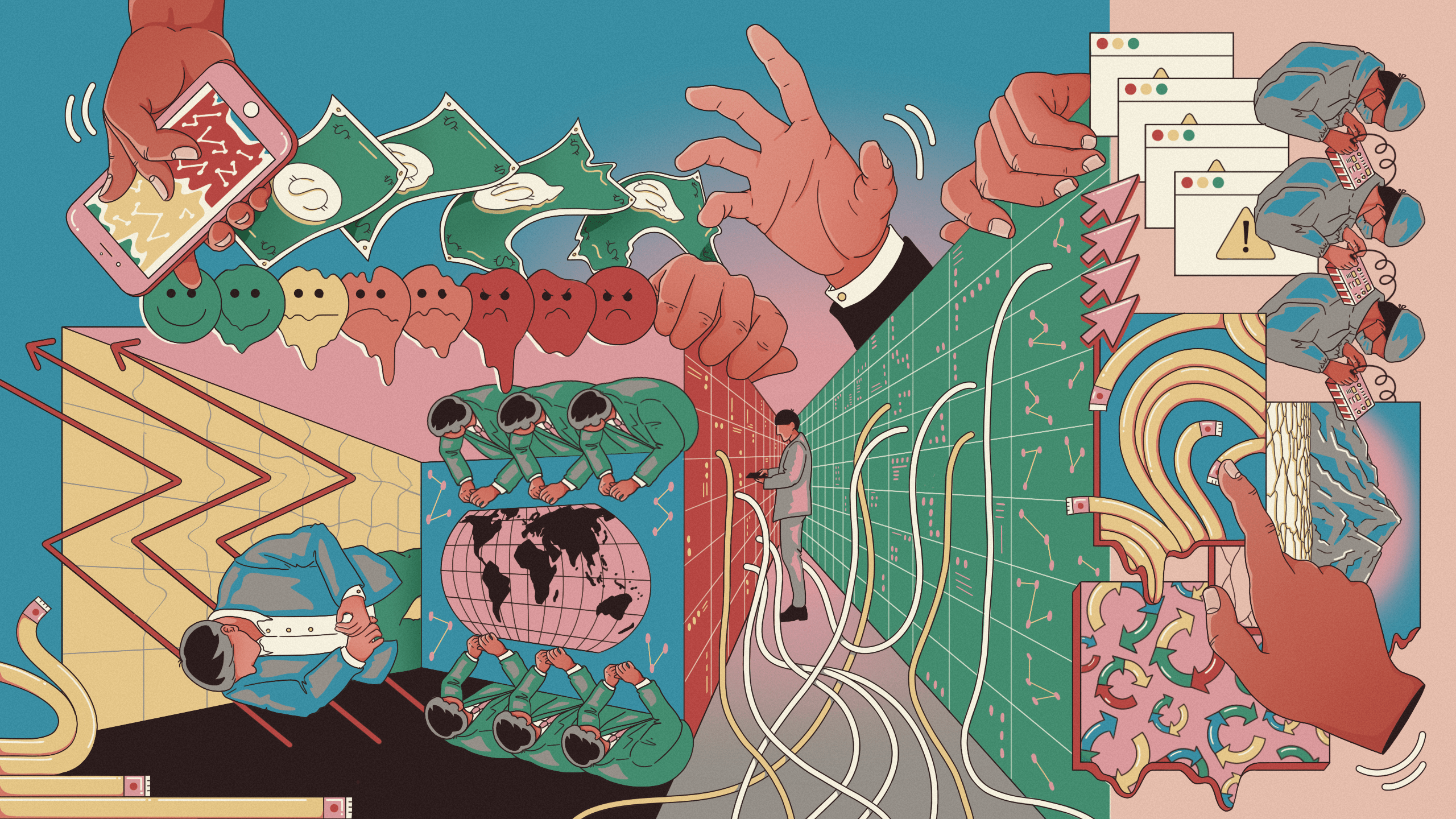Desde 2016 que nos círculos de decisão da União Europeia se tem vindo a trabalhar na reforma da directiva que regula os direitos de autor, procurando adaptá-la aos novos mercados, mais concretamente, ao mercado digital. O debate já vai longo e nesta fase existem três versões da proposta em discussão. Uma da Comissão Europeia, outra do Parlamento e uma terceira do Conselho da União, órgão no qual estão representados os 28.
Estamos na fase do trílogo; o momento em que as três partes se encontram para discutir e propor alterações no texto de cada uma até que, dos três, resulte uma versão final a ser transposta para a legislação de cada país. É nesta fase se podem fazer mais e maiores alterações mas em sentido inverso esta é uma das fases mais difíceis de acompanhar por quem vê de fora. Em suma, sabemos que a directiva não está fechada e que, portanto, os Artigos 11 e 13 ainda não estão totalmente definitivos.
O entendimento estava previsto para o dia 13 de Dezembro, a última reunião do trílogo, mas, devido à complexidade da matéria e à discordância entre as partes, uma nova reunião foi marcada para a segunda semana de Janeiro. Este será, por assim dizer, o penúltimo passo. Existindo acordo no texto e se forem estabelecidos novos princípios de entendimento seguindo o sentido de voto das fases anteriores – algo que não parece estar a ser levado em consideração e que, de resto, tem levado a críticas ao condutor das negociações, Axel Voss –, a proposta de directiva seguirá para uma votação final.
Remember Parliament changed from voting against in July to voting in favour in September? Main argument was that an exception to #Article13 for small businesses was added. Today, @AxelVossMdEP scrapped that exception. We’re back to the July version, basically. #SaveYourInternet
— Julia Reda (@Senficon) December 13, 2018
Yesterday, negotiators from across the political spectrum expressed their dissatisfaction with @AxelVossMdEP negotiation stile. @POLITICOEurope has more: https://t.co/teUXNHl99g #SaveYourInternet pic.twitter.com/noeDRWjTsH
— Julia Reda (@Senficon) December 13, 2018
Ainda assim, só depois da aprovação em plenário e da finalização da directiva cada país da União terá a tarefa a transpor para o seu quadro legislativo, podendo implementar ou propor algumas particularidades a nível nacional desde que respeitantes do espírito integral da proposta — algo particularmente difícil de gerir atendendo ao carácter global das plataformas digitais.
Como chegámos até aqui?
Em Setembro de 2016, a Comissão Europeia apresentou uma primeira proposta para rever e actualizar a questão dos direitos de autor para o digital. “A evolução das tecnologias digitais alterou a forma como as obras e outro material protegido são criados, produzidos, distribuídos e explorados, tendo surgido novas utilizações, bem como novos intervenientes e novos modelos empresariais”, lê-se no documento. “Embora os objectivos e princípios estabelecidos pelo quadro de direitos de autor da UE continuem a ser válidos, é necessário adaptá-lo a estas novas realidades. É igualmente necessário intervir a nível da UE para evitar a fragmentação do mercado interno”, isto é, reduzir as diferenças entre os regimes nacionais de direitos de autor no contexto de um Mercado Único Digital.
2016 não foi, todavia, o ano da primeira tentativa europeia de uniformizar e adaptar para o digital as leis nacionais relativas a direitos de autor. Uma directiva em 2001 (Directive 2001/29/EC) procurou, sobretudo, responder ao tratado internacional de direitos de autor estabelecido 1996 – o Acordo de Direitos Autorais da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Se em alguns aspectos a directiva de 2001 foi bem sucedida, noutros nem tanto, dada a velocidade da revolução digital. Em 2012, a Comissão Europeia começou a pensar numa revisão da reforma feita uma década antes, com a realização de uma consulta pública e a publicação, dois anos depois, de um relatório sobre o “estado das coisas”.
É por esta altura que surgem três nomes-chave na história sobre a directiva que começou a ser discutida em 2016: Jean-Claude Juncker, que em 2014 assumiu a presidência da Comissão Europeia; Günther Oettinger, o Comissário Europeu para a Economia e Sociedade Digital; Julia Reda, eurodeputada também alemã mas pelo Partido Pirata e que, ao rever a directiva de direitos de autor de 2001, defendeu uma revisão da mesma; e Axel Voss, eurodeputado alemão pela CDU (União Democrata-Cristã) e redactor dessa primeira proposta de revisão, que começou a ser trabalhada pela Comissão Europeia no final de 2015.
Desde a apresentação da primeira proposta em Setembro de 2016, o documento da Comissão Europeia percorreu uma série de comités, debates e emendas. No dia 25 de Maio de 2018, o Conselho da União Europeia, órgão no qual estão representados os 28 Estados-membro, deu o seu aval e a proposta, sem grandes alterações, seguiu para o Parlamento Europeu. Foi já nesta instituição que a proposta de directiva passou pelas mãos dos eurodeputados do comité parlamentar para os assuntos legais, entre eles o português Marinho e Pinto. Dada luz verde, seguiu para plenário, onde foi votado e rejeitado em Julho, e depois, em Setembro votado novamente e desta vez aprovado. A última fase passa pelas já referidas negociações à porta fechada entre Comissão, Parlamento e Conselho: o objectivo é, a três, definir o texto final que irá dar lugar à directiva final que, por sua vez, depois da votação final no início de 2019 novamente em plenário parlamentar, terá de ser transporta para a legislação nacional de cada país para, aí sim, ser por fim aplicada.
Apesar da directiva conter 24 artigos, o debate dá-se sobretudo em torno de dois, o Artigo 11 e o Artigo 13 e é nesses que focamos a nossa reflexão.
Artigo 13: uma reforma necessária e uma ilusão tecnológica
Os detentores de direitos de autor precisam de ser recompensados pelos seus trabalhos, seja offline, seja online; e as regras actuais deixam as plataformas digitais à mercê da auto-regulação. O YouTube, por exemplo, desenvolveu o sistema Content ID para, de forma automática, identificar o upload de vídeos com conteúdo protegido por direitos de autor, permitindo aos respectivos detentores actuar de uma de três formas: 1) bloquear completamente o vídeo; 2) permitir que o vídeo esteja disponível mas ficar com uma parte das receitas que o seu criador faz; 3) receber estatísticas desse vídeo, informação que poderá permitir-lhe tomar uma decisão estratégica.
O Content ID permite liberdade de upload no YouTube ao mesmo tempo que salvaguarda os direitos de autor, e é resultado da vontade da empresa subsidiária da Google de “não ter chatices judiciais” e de ser posta em causa por violações. É um exemplo de auto-regulação que pode ser encontrada noutras plataformas, mas que implica um elevado investimento em desenvolvimento por parte da empresa — estima-se que a tecnologia utilizado pelo YouTube tenha custado 100 milhões de dólares, não estando por isso ao alcance de uma start-up, por exemplo.
De qualquer forma, mecanismos como este já mostraram não ser completamente eficientes na gestão destes domínios, o que levanta uma série de questões sobretudo sobre o Artigo 13: terá a tecnologia capacidade de operacionalizar a lei da forma que se prevê? Quais são os custos deste desenvolvimento e como se garanta que todas as empresas e plataformas competem para igual se estiverem dependentes do desenvolvimento de algo tão custoso? Esta detecção resolve o problema?
Porque não devemos confiar nos algoritmos? 5 casos em que falharam
Para se responder a esta questão é preciso, portanto, situar o problema e o porquê de haver partes tão interessadas nesta reforma. Em causa está um value gap, isto é, a diferença entre o valor que um conteúdo rende e a percentagem desse valor que fica realmente para o seu criador; numa rede que vai muito para além de artistas e plataformas de consumo, e onde os detentores e gestores de direitos de autor têm um papel determinante na redistribuição dos lucros, torna-se indispensável perceber como se estabelecem todas as dinâmicas.
Se é certo que as plataformas tecnológicas são dos negócios mais lucrativos do mundo e que vivem de conteúdo produzido por terceiros, não é disparatado dizer que: 1) procuram remunerar quem faz o upload de conteúdos; 2) são dos principais canais de promoção e divulgação de cultura e geram receitas indirectas – quem iria aos concertos do Conan Osiris se não visse aquele share massivo do “Adoro Bolos”? Por outro lado, também já todos vimos exemplos de media tradicionais a usar material proveniente destes canais sem qualquer preocupação com o licenciamento. Os golos de um jogo de futebol com a fonte “YouTube” já começam a aparecer e o uso indevido de material é prato do dia.
A proposta da União Europeia é tão confusa e subjectiva — na medida em que entrega o poder de decisão a uma tecnologia ainda não existente — que nem os defensores do seu avanço parecem totalmente convencidos. Em reação ao último trílogo, uma carta aberta assinada por uma série de entidades detentoras e gestoras de direitos de autor revela a preocupação destes com a ineficácia da lei no cumprimento do seu objectivo — remunerar todos justamente. A discussão tem feito correr tinta, sobretudo num confronto de posições entre YouTube/Google e detentores de direitos, o que indicia a forma como está a ser pensada com base em casos específicos; portanto, com uma perspectiva pouco universal e que nos deixa mais despertos para aquilo que não sabemos. Quanto é o YouTube paga os artistas? Como? Quem gere? Quanto desse dinheiro chega realmente a quem produziu o material?
Por outro lado, é preciso olhar para o ecossistema, do ponto de vista social, e perceber quem tem mais poder negocial. Mais do que deter o monopólio do entretenimento ou do conteúdo, as grandes companhias tecnológicas detêm o monopólio da nossa atenção. Como fazíamos referência, hoje em dia é difícil de imaginar um artista que seja descoberto ou promovido fora destes circuitos. E será que o Artigo 13 tornará essa missão mais justa? Talvez não, por dois motivos. Por um lado, obrigar as tecnológicas a pagar à priori licenças de direitos de autor pelos conteúdos para que possam permiti-los na sua plataforma pode reduzir a competição entre empresas, tornando quase impossível para um agente mais pequeno entrar neste jogo. Por outro, o poder negocial das plataformas que detém bases de utilizadores massivas pode simplesmente fazê-las optar por outro tipo de entretenimento de qualidade duvidosa. Pensemos nos tops do YouTube e quanto daquele conteúdo é licenciado. Os direitos de autor devem ser um entrave ao acesso a cultura de qualidade?
O ponto previsto passa por responsabilizar as grandes plataformas digitais e não os utilizadores que carreguem o conteúdo — daí ter sido criada uma excepção, entretanto em dúvida, para as pequenas plataformas. A questão será perceber como socialmente esse problema é colmatado. Será que, sem o conteúdo registado/filtrado, os utilizadores migrarão para fora desses serviços? Como se garante que todas as formas de direitos são respeitados e que a sua compensação é justa; basta pensarmos, por exemplo, numa música que recorra a um sample para que tudo se complique — imaginar os algoritmos a gerir tudo isto é ainda mais complicado.
Remember Parliament changed from voting against in July to voting in favour in September? Main argument was that an exception to #Article13 for small businesses was added. Today, @AxelVossMdEP scrapped that exception. We’re back to the July version, basically. #SaveYourInternet
— Julia Reda (@Senficon) December 13, 2018
Artigo 11: boas intenções não garantem resultados
Quanto ao Artigo 11, o caso é igualmente bicudo, ou não se tratasse de uma espécie de extensão aplicada às publicações de imprensa. Quem o defende ressalva vários motivos visíveis, como o perigo do plágio online, as fake news (ou desinformação) e a perda generalizada de força dos media tradicionais – neste caso também pela perda de receitas, algo semelhante ao value gap. A questão complica-se quando se pensa no potencial da solução proposta para lidar com qualquer um destes problemas. Em suma, o Artigo prevê que as plataformas que de algum modo agreguem notícias e as promovam recorrendo a partes que as compõem (títulos, sub-títulos, imagens, etc) tenham de pagar uma licença à entidade gestora desses direitos conexos. A questão é complexa, por isso, vamos por pontos.
O perigo do plágio e da cópia, dolosa ou não, é uma realidade na web e com poucos meios de regulação dedicados a combatê-la. O uso e abuso dos conteúdos disponíveis online é uma realidade e nem sempre justa. Todavia, este problema não advém da falta de legislação, mas antes do seu desconhecimento ou incumprimento involuntário.
A questão dos direitos de autor online é desde há muito tempo abordada online, sendo que um dos pontos principais deste debate costuma ter a ver com a criação de mecanismos simples de se perceber – foi assim que nasceu a licença Creative Commons, com o seu código visual simples e intuitivo a promover o cumprimento das normas estabelecidas pelos criadores. O ambiente digital nasce da possibilidade da cópia infinita e é difícil que esse espírito manifestado em tão grande escala seja controlado por leis. É uma questão civilizacional sobretudo social, e a prova disso são os exemplos caricatos de incumprimento da lei actual mesmo por parte de quem suporta um quadro legislativo mais coercivo.
Ó Sr. Deputado @Manuel___Santos então o Sr. Deputado que até aprovou o artigo 11, agora partilha publicamente um artigo **inteiro** de uma publicação de imprensa? Ou já deixou de apoiar o artigo 11? https://t.co/FDwP16TrU0
— paula simoes (@paulasimoes) November 27, 2018
Quando ao perigo das fake news, é real e também merece a nossa atenção, mas a sua relação com esta proposta não é inteiramente lógica. Ao ser criada uma barreira à partilha de material noticioso, protegido por direitos de autor, o efeito secundário disso pode ser a diminuição da circulação de informação verdadeira, substituída por desinformação. É bom lembrar que os utilizadores da internet são racionais, mas que os níveis de literacia digitais ainda são baixos; de resto, estudos mostram que as notícias falsas se propagam 70% mais rápido do que as verdadeiras, havendo incompreensão sobre as políticas de licenciamento este fenómeno pode aumentar ainda mais. Neste campo, a exigência deveria ser uma maior rapidez por parte das tecnológicas para eliminar o material desinformativo, possivelmente em cooperação com as entidades reguladoras do sector em cada país, de uma forma descentralizada e não inteiramente auto-regulatória – como é feito até hoje. Quem regula a comunicação social em Portugal é a ERC e é importante que os novos media não esvaziem o seu poder.
A perda generalizada de poder dos media tradicionais é de facto um problema mas é preciso questionar também em que ponto a lei consegue alterar o sentido das coisas. A percepção pública sobre a comunicação social tem um papel fundamental neste ponto da matéria e, mesmo a substituição de informação por desinformação, contribui para a perda de interesse dos cidadãos. Neste capítulo, é preciso perceber como funcionam as redes sociais num modo abstracto: nunca as vimos ficar sem conteúdo por achar que o que têm para nos mostrar é falso ou desaconselhável. Se o telejornal é mais curto por haver menos notícias ou um jornal traz menos folhas, as redes sociais são sempre aparentemente infinitas, não existe o conceito de escassez.
A criação da obrigatoriedade de pagar uma licença ou, que seja, um imposto sobre cada visualização de um conteúdo protegido por direitos de autor conexos é, por assim dizer, uma segunda vaga na tentativa de regular o novo ecossistema informativo. A ideia já foi testada em Espanha e na Alemanha, sem sucesso. No primeiro caso culminando numa queda abrupta das visitas aos sítios dos jornais, no segundo, levando alguns órgãos a negociar individualmente. Quanto à primeira vaga de que falávamos, pode situar-se no momento de exigência que levou a Google a criar o fundo DNI – uma linha de investimento a fundo perdido em projectos de media, que já deu a órgãos de comunicação social portugueses mais de 5 milhões.
Juntamos estes dois factores porque embora desconexos iluminam a mesma área de sombra na nossa percepção. Se é um dado quase factual que o jornalismo em Portugal seja precário, pode não ser tão linear dizer que não tenha receitas. Por outro lado, estamos perante uma crise ao longo de toda a cadeia, mais do que modelos de negócio, de modelos de operação. É preciso ser directo e frontal e pensar nos milhares que são gastos em directos exaustivos sobre assuntos sem interesse noticioso, desviando-os do circuito realmente jornalístico e dando origem a uma dinâmica de precariedade constante – tanto a nível do produto final como do processo que lhe dá origem.
Em suma, a reflexão que queremos transmitir com este artigo é que, de facto, são precisas novas regras para o ecossistema digital mas, sobretudo, que os velhos sistemas sejam actualizados e mais transparentes para que todos conheçamos as suas particularidades e se possa definir by design um modelo equitativo para todos. Medidas como as que são propostas com ónus na interação entre os internautas – que impedem a sua partilha livre – geram incerteza quanto à legalidade de certas práticas e podem pôr em causa o normal funcionamento da comunicação social (no seu sentido literal), que hoje em dia tanto depende das redes sociais de larga escala. Se a ideia for operacionalizar estas medidas através de algoritmos, tanto pior. Perante um sistema tão complexo e tão omisso como são os media, em que a internet é rainha, a exigência deve ser de transparência a todos os intervenientes e não a cedência ao interesse de alguns. E aqui recorde-se, por exemplo, que as editoras se recusam a divulgar a percentagem de receitas que partilham com os músicos, que a taxa de audiovisual que pagamos na nossa factura da luz se perde algures, que as deliberações do ministério público sobre o que pode ou não ser transmitido caem em saco roto, por aí.
Toda a directiva é mais extensa e inclui mais Artigos, alguns dos quais pertinentes e ajustados à realidade actual pelo que o exercício aqui exposto pretende relacionar apenas o potencial da lei com a realidade que vivemos nos campos mais polémicos para que percebamos que esta não é uma questão que interesse apenas a youtubers, artistas e jornalistas, mas que interessa a todos nós que perdemos o controlo ao perdermos a noção de como as coisa funcionam de facto.
Mário Rui André colaborou neste artigo.