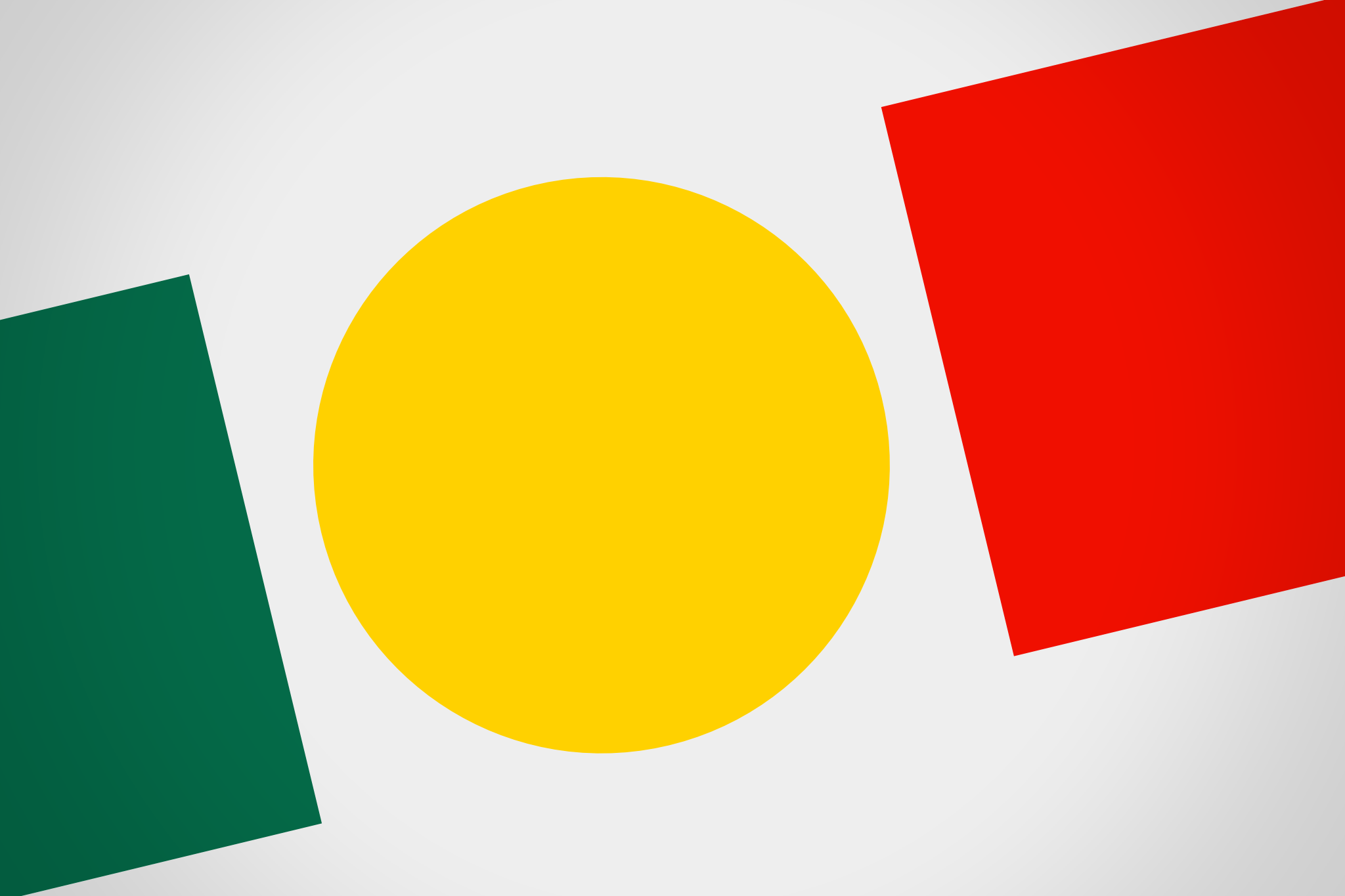Este texto foi adaptado do original publicado na Revista Literária Lote #2 de Setembro de 2020.
Sometimes when my eyes are red / I go up on top of the RCA Building / and gaze at my world, Manhattan
Allen Ginsberg
Há um medo do ócio que Michel de Montaigne bem expressa no seu curto ensaio dedicado ao tema. O espírito, segundo o humanista francês, é a metade de um ciclo de fecundidade que, tal como um terreno, precisa de cuidado e plantação para conter a “proliferação de cem mil espécies de ervas selvagens e inúteis”1. Um espírito sem tema de atenção que o cultive acaba a “percorrer à toa os campos bravios da imaginação” e a desenterrar as mais variadas razões para a dispersão da alma. Do que Montaigne esperara ser uma maneira de se descobrir pacificamente, o ócio revelou-se uma torrente desestruturada apenas arredada pelo trabalho do seu registo. Este “horror ao vazio” é um marco cultural das religiões abraâmicas, nunca coibidas de denunciar o potencial pecaminoso do ócio. “For idleness / is chief mistress / of vices all”2, canta-se por engenho de Henrique VIII, ainda que a sua cura – companhia, caça, canto e dança – reflicta a noção nobiliárquica de ocupação, e não o tolher que sanciona a virtude. A Bíblia retrata negativamente a inactividade e enfatiza o valor do trabalho3. “Por causa de hesitações deteriorar-se-á a cobertura ; / E por causa do ócio das mãos a casa deixará entrar chuva”4: a malícia do abastardamento do trabalho é um espírito condenado à decadência, e este abandono pessoal afecta a comunidade por ser um empecilho ao seus e ao modo de vida cristão que postula o trabalho de seis dias e o descanso ao sétimo. “Para que caminheis correctamente perante os de fora, e não preciseis de ninguém”5, explica S. Paulo aos Tessalonicenses, advertidos a que se concentrem nos seus afazeres e não sejam um fardo. A diligência é igualmente proveito dos outros, por deles não se depender. Esta responsabilidade individual para com a comunidade é um tema central da moralidade cristã e que tem no trabalho uma das manifestações mais correntes. Assim como das boas obras se ganha a salvação, a contribuição para o bem geral é um barómetro de virtude e um sinal de vitalidade espiritual contra a corrupção da inércia. Deste sacro prisma, a imoralidade do ócio está em subverter o nosso caminho para a salvação. A independência da alma trabalhadora face ao vício tem significado político nas propostas de Thomas Jefferson, que concebia numa economia agrária a possibilidade de auto-subsistência e da autonomia necessária à boa cidadania. “Dependence begets subservience and venality”6: quem é dependente de outrem não tem meio de agir moralmente. A chegada da modernidade e dos pensamentos iluminista e romântico veio mexer as águas neste tópico. As reflexões de Jean-Jacques Rousseau são ainda de uma natureza dual, pois apesar de julgar corrupta a prática social do ócio – ideias que terão impactado Jefferson –, da preguiça solitária emergiria, ao invés, o reencontro com um instinto original7. O labor em empresa comum não passa de uma necessidade que o humano quer ultrapassar para retornar a si; os deveres mundanos dividem o indivíduo na partilha com o exterior, e a renúncia das obrigações confere-lhe o espaço para a recolecção do espírito. No fundo, “é para chegar ao repouso que cada um de nós trabalha”8 se considerarmos que o “cultivo do eu depende do puro ócio, de ser oblívio à acção utilitária”9. Esta reavaliação é pertinente perante um mundo crescentemente material e às portas da Revolução Industrial, contra a qual o idealismo romântico se insurge.
Os avanços tecnológicos ditam a progressiva mecanização do trabalho e a adaptação a novas estruturas económicas. A população manietada no labor rural muda-se para as cidades e as suas cinturas fabris, que se adensam. Um novo ritmo de indústria entre massas impõe-se e os ciclos mais demorados da ruralidade (que são os da Natureza) dão lugar à compactação especializada da urbe, onde todos têm um nicho de actividade para servir o próximo que não se conhece. O indivíduo que servia o grupo guia-se a partir daí por si próprio, afastado do sentido comunitário numa multidão anónima. Dedicamo-nos à missão materialista do sustento pessoal na rotina, que é o cumprimento da sua compartimentação temporal, um reflexo da especificação produtiva e da divisão laboral capitalistas. O resultado é o “irremediável isolamento dos homens nas suas preocupações privadas”10 que Walter Benjamin viu nas massas urbanas de Edgar Allan Poe. Neste colectivo, o fraccionamento patenteia-se ainda mais nos mecanismos fabris. A actividade concentrada em aglomerados citadinos e a constante participação da tecnologia aceleram o circuito produtivo, traduzindo-se em mais por realizar em menos tempo, o que força a maior compartimentação e a sua recorrência por longos períodos. O progresso tentou agilizar a mesma através de utensílios de uso facilitado que pedissem os gestos mais imediatos e intuitivos. Benjamin traça a origem no fósforo e segue pelo telefone e a máquina fotográfica que requerem “um único movimento abrupto da mão [que desencadeia] um processo de vários passos”11. A profusão dos mesmos na nossa rotina – toda ela uma superestrutura de passos repetitivos – aproxima-nos das máquinas e do seu funcionamento: “os movimentos uniformemente constantes de um autómato”12 são os da movimentação do dia-a-dia assistida pela tecnologia, arregimentadora do horário produtivo. Se a isso juntarmos a mescla de estímulos que a compartimentação temporal dos outros e a sua execução por intermédio tecnológico traz ao espaço partilhado por todos estes agentes – factores de inospitalidade para o “choque” da cidade13 –, percebe-se na modernidade urbana a determinante mecanização do indivíduo, que se protegeu num “absorvente mimético do choque”14, servindo-se do mesmo papel intermediário da tecnologia na resposta à carga de estímulos. Esta alienação espiritual acentuou-se na constância utilitária, que nos submeteu a padrões alucinantes para manter o valor laboral – abrindo-nos à ansiedade material – e que o relativizou numa mercadoria como outra qualquer a circular para consumo. Esta mudança significou uma transmutação da salvação individualmente comunitária para a desagregação dessa alma redimível numa rede de relações materiais entre desconhecidos. O trabalho não deixou de ter virtude, embora num molde de valorização económica; incrementou, todavia, a nova apreciação romântica pelo ócio, e nele se encontrou um refúgio da frieza do mundo industrioso.
É em sua crítica que Robert Louis Stevenson defende o baldas, a juventude desprendida da alienação escolástica – antecedente da laboral – para levantar a cabeça dos livros e ver em carne o que a rodeia. Este contacto directo com a realidade insinua um princípio rousseauniano de entrega às origens, neste caso ambientais; não é nos livros e na inevitável preparação da sobrevivência corrente que se desflora o mundo, é antes “ao teu redor, e no esforço de olhar, que adquirirás os quentes e palpitantes factos da vida”15. A outra figura que se revê nesta máxima é o flâneur. “O observador é um príncipe que goza por todo o lado do seu estatuto de incógnito”16; é entre o anonimato das massas que o flâneur se esconde da sua serventia rotineira, e na caminhada sem destino ele contesta a compartimentação utilitária e “a divisão do trabalho que torna as pessoas especialistas”17. A alienação desta divisão é um contexto dissociativo do nosso envolvimento com o circundante e nós próprios, e em cuja alimentação encontramos, junto do automatismo, a ansiedade material e o tédio da rotina – regularidades onde assentam as “cinzentas pedras da calçada” e o “cinzento fundo do despotismo” em que Benjamin coloca a sede empática do flâneur, que lhes responde18. Esta sede é o ócio da flânerie e o que as etapas rotineiras, por regra, não permitem ao cidadão do quotidiano. O crítico alemão aponta a predilecção desta figura da modernidade pela auscultação das mercadorias nas montras, em sintonia com a mercantilização das habilidades laborais; começando nas arcadas parisienses e passando para as ruas, é nos grandes armazéns que morre, vagueando “através do labirinto das mercadorias tal como antes vagueava pelo labirinto da cidade”19 – um percurso auto-referencial que ganha propósito no consumo de mercadorias. A utilidade impôs-se ainda mais com o tempo; o flâneur trocou a comunhão com “pedras da calçada, fiacres, e lâmpadas a gás” para ser “agricultor, vinicultor, (…) magnata de aço”20. Hoje, até a deslocação à densidade do mercado, esse mínimo passeio de lazer, é afectada pela rede internauta e as compras online. A facilidade comercial dá-nos mais tempo para a produção ou para o descanso, embora tenha autoria no nosso enclausuramento. O alheamento da não-movimentação é a paragem seguinte na apostasia da reacção genuína, já de si dilapidada pela tensão laboral e a perpetuação urbana da excitação sensorial, choques que se seguem indiscriminadamente uns aos outros nas luzes, barulhos e ecrãs acordados a toda a hora. A trivialidade desta condição colabora na gradual inaptidão perante o aborrecimento, visto que nos desenvolvemos a precisar sempre de algo com que preencher a imobilidade. Caminhar sem destino, um ócio sem referência, está caído em desgraça; mas novas formas, contemporâneas, de abalar o mercantilismo urbano desenvolveram-se.
II
Fumar erva é uma delas. Misturado com o obsoleto prazer de deambular21, retiramos muitas lições sobre a relação entre a canábis e o nosso modo de vida. Acendo um charro e ligo um interruptor se sair de casa sem plano que não em frente. A rua despropositadamente aproveitada arriba à bolinha que começa a expandir o crânio, e ao receber os barulhos e as formas dos carros e das pessoas, nunca estáticos no seu decorrer, estou a pelar a superfície de um conteúdo que recebo na proporção de um areal para as ondas. Saio desligado da função que só conta a intenção de passagem e faz da estrada uma mera transição de um lado para outro; os prédios agora erguem-se para me cumprimentar e estão sitos na relação presencial que estabeleço e não ignoro. Os nervos tilintam-se numa nuvem que suga das sensações esta companhia para a intimidade do estado alterado, sentido numa redoma aumentada a cada novo inquilino. São interiores à moda dos que o flâneur desenvolveu primeiro nas arcadas, “algo entre uma rua e um interior”22, e depois nas avenidas. A caixa avoluma-se então na singularidade das sensações excitadas, em muito comparável aos invólucros que Benjamin viu no burguês individualista e no seu eco doméstico23. A interioridade da intoxicação puxa de alguns fenómenos.
As acções mecanizadas do hábito desenvolveram-se em contextos de especialidade na origem que a repetição da travessia e dos seus choques danificam. A anulação acumulativa da mesma impressão dos mesmos sítios e a cegueira da incessante estimulação resultam nos múltiplos deslizamentos inconsequentes para o próximo passo, o que, à partida, desocupa o espaço da nossa permanência. A obediência a este processo restringe-nos ao objectivo prático e às suas instruções, uma habituação árida que banaliza ainda mais as sensações e endurece a prevalência do tédio. Adjaz-lhe a angústia na realização produtiva, a comum mas estridente moeda de troca na edificação do estatuto utilitário. A devoção vitalícia a este fim segura-se nestes dois extremos: a resignação sensaborona à construção, que anestesia, e a fobia ao seu desmoronamento, que solicita a servil persistência de resolução. O desejo pela novidade alóctone a este alheamento salta à vista nas aberturas operacionais da máquina. Se disponíveis no percurso pedonal a caminho de uma etapa, não tardamos a soltar ideias e ruminações em resistência à vulgaridade exterior. A nossa mente tem pernas quando as usamos porque caminhar é uma actividade relativamente automatizada na sucessão de passos e reflexos musculares. Tal como o duche, esta estrutura liberta a cabeça da atenção na acção, e as divagações mentais aparecem. Uma ajuda auditiva costuma ser bem-vinda. Apressamo-nos, quem tem possibilidade, a colocar os headphones e a ouvir música; há, por vezes, uma ânsia em fazê-lo, quase que antecipamos a fatia do dia em que descemos a rua escutando a obsessão musical do momento. A condução automóvel identifica-se parcialmente nesta situação, e aí o rádio ou a playlist no telemóvel intervêm. De igual modo se procede no repouso que substitui o gesto automático, como quando andamos de autocarro e perdemo-nos em pensamentos ao som do que for. Umas vezes são rápidas guilhotinadas no aborrecimento do desígnio material, dando cor à repetição dos compartimentos temporais; outras ainda, amarram-nos para o impacto da pressão laboral e acariciam-nos com o prazer que na altura escasseará. São também aprimoramentos agradáveis da enchente estimular e pensativa que respira na desguarda do bloqueador maquinal. Quantas vezes não caminhamos mundanamente imaginando-nos num filme, como se este momento morto fosse, na narrativa que estabelecemos nas entranhas da cabeça, um prelúdio ao protagonismo extraordinário? A música e as divagações condimentam as torrentes e garantem-nos do mais a acercar; a longa-metragem que expectamos abafa a rigidez do horário, amenizando a trivialidade das nossas acções; e se atravessamos a rua ou andamos de autocarro ouvindo música e devaneando mentalmente, o entretenimento levam-nos à empatia por o que vemos tal qual a teríamos por um bom plano cinematográfico, uma rejeição significativa da alienação a que se votam os alicerces da ambiência e uma forma de lhes atribuir alguma importância. As redescobertas animadas são semelhantes ao que nos espera o ócio. Descansar é resolver a corrente de estímulos da rotina numa descarga recreativa, reactiva à relação disfuncional entre a dormência e a tensão. Blaise Pascal já nos acusava de não sabermos estar em silêncio num quarto, e se era desgraçado nessa quimera então, actualmente será risível a uma multidão. As redes sociais criaram uma malha permanente de contacto de que não nos livramos; a espontaneidade da comunicação é possível nos chats de várias ordens, e os smartphones possuem já os seus meios de transporte que se juntam à oferta de união quase instantânea se houver um plano de última hora. Se os outros dormem ou não respondem, temos os que nos incitam a espreitar o que deles seleccionam publicar nessas redes; se disto nos aborrecermos, o universo de entretenimento na internet não nos desilude e providencia-nos companhia virtual pelos estímulos de filmes, séries e vídeos de fácil acesso. O ócio acontece em regime de cumplicidade com uma outra parte em contínua emissão. O silêncio e solidão que Pascal nos pedia nunca pegaram na natureza irrequieta do Homem, ainda menos num regime de “perpétuo entretenimento total”, segundo a paródia de Father John Misty. De um ponto de vista freudiano, esta procura sem cessar pela estimulação lembra o fundamento obsessivo de um trauma. É um sonho recorrente, construído por nós, na senda dos que Freud descreve reencenarem o momento traumático para “domar o estímulo retroactivamente”24. A sobrecarga que cria o trauma é o choque no seu efeito mais intenso, mas a acumulação de versões mais pequenas e menos violentas na vida citadina já está longe de nos traumatizar: o que nos inquieta é antes a colisão da sua aparição corriqueira com a ansiedade da obrigação produtiva, e o quão distante este embate nos põe de um bem-estar uníssono. A disparidade aduba-nos com um desejo impulsivo por uma reescrita da ordenação destas duas facetas, o que nos conduz a uma nova abundância estimulante. Revivemos a linguagem urbana para nela aniquilarmos o tédio da abundância e, ao mesmo tempo, reaver a agradabilidade que pode incubar. A galopante tecnologização a que assistimos expandiu o seu papel intermediário ao permitir um recinto de constante estimulação satisfatória, e nele mergulhamos em fundição do prazer com as regras do hábito citadino. O fumador de erva quer o mesmo, mas noutros moldes.
Entro numa avenida. Não caminho para a faculdade, mas tenho o mesmo reflexo de absorver a genética da rotina. Recorto as fachadas e pessoas nos olhos aprofundados pela erva, assimilados num microscópio nervoso que injecta calor nos pormenores mais vulgares e normalmente desprezados. Acumulo bocas com que conversar nas cores a desbaratar superfícies, rebentadas que estão na escala de integração ocular, ou no cochichar das folhas varridas pelo vento que é como o dos amigos a fumar na esplanada. Não perco tempo a rever as associações da corrente interior que me assalta com as provocações; toda a espécie de memórias e imagens, imparáveis numa sucessão com força própria, interceptam-me na claridade dos estímulos que as elevam. O aumento da realidade, o “espelho ampliador”25 baudelairiano, assenta na intensidade sensorial que estica os pedaços captados para o campo energético da nossa receptividade, sentido como uma redoma; esta aproximação excita-nos cá dentro, e esta transladação pela extrapolação da percepção deposita o espólio numa fabricação interior da avenida que, se recuperada, construiria uma cidade por imagens, comparações e expropriações que a ampliação foi buscar, qual peça de consciência desinibida de um Arcimboldo em ácidos. A relação de uma corrente mental com a saturação da matéria não é de descurar. A proximidade ao objecto da nossa atenção, cortesia do “espelho ampliador”, reforça o impulso empático, uma variação ensurdecedora dos intervalos da rotina. A mente desenfreada pela erva, alimentada por um mundo vibrante e apetecível, entra num frenesim reagente aos estímulos condensados da afinidade material e da integração na redoma. A torrente associativa pesca imagens para os ler e torna-se num diário das equivalências aos baques do exterior. Se a mesma é arrebatada de incrementada musculatura pelas tais pernas no acto mecânico de caminhar, e se sem destino que não o do passo seguinte, as associações explodem sem um fim designado à vista. Benjamin parece revelar imenso sobre esta funcionalidade no seu Rua de Sentido Único. A partir de pequenos motivos guardados nos títulos dos textos (muitos deles de ambiente urbano, como “Estes Espaços para Arrendar”, “Atenção aos Degraus!”, “Local de Construção”), reflexões variadas descendem do que se suspeitaria ser os pensamentos (primeiramente sensações) que esses objectos geraram. Lemos nestes textos um testemunho do que deflagra com a devida dedicação aos estímulos urbanos, cuja falta está na rotina; se a tentamos compensar, de maneira mundana, nas já mencionadas intermitências e no ócio epiléptico, ao fumar erva criamos uma interioridade que saca de estímulos com uma força impressionante e que nos esbarra em igual grau na empatia pelos mesmos. A sua acumulação é a dos objectos que o flâneur, evasor da actividade mercantilizada, exuma do cinzentismo rotineiro. Sentimo-la reverberando na redoma abastecida pela canábis, porquanto a atenção dada ao que observamos retorna pelo impulso associativo e pela extensão dos objectos. Para além desta frescura inusitada, sensibilizante dos estímulos para deles quebrarmos distâncias, aquele reflexo da interioridade intoxicada é um dos motivos por que geramos afinidade nesta recolha: encontramo-la nas coisas por soltarem imagens que nos auxiliam a relacionar com elas. Ocorre um processo de flânerie mental. Basta estar sentado em casa para a “ebulição imaginativa”26, mas o caminhante jorra a sua subjectividade por tantos caminhos quantos os seus com o empurrão do charro. Nesta empatia veloz, os serviços de streaming, a música e os devaneios nos intervalos da rotina são um grau apoquentado de acção na recreativa reabsorção do choque.
Desfrutar das expedições herbáceas pode ser mais raro que as intermitências e a televisão, e no entanto agilizam a visão holística que une a convivência do presente deformado com a fortuna do sujeito interior. Passando pela rua a anoitecer, os bares acendem as janelas. Encosto-me ao vidro, cuidadoso para não partir a cabeça do submarino em que me montou a erva. Os gestos emoldurados dos clientes raspam nos cartazes da parede, e nela sinto a falta dos do Toulouse-Lautrec. Num ápice saturo-me com as suas cores, incandescentes como as lâmpadas iluminando os cabarets. O pintor guardou a noite parisiense que nem uma máquina fotográfica, e logo vejo-me a desejar ser uma também. Uma diferente, contudo: queria antes o registo permanente da minha mente. Henry Miller idealizou uma secretária a quem pudesse ditar enquanto andasse; ora eu preferiria ter os cabos da máquina de escrever directamente ligados ao cérebro, mandando o tac-tac-tac de todos os meus pensamentos. Numa proporcional avidez de recolha, propendo-me ao intumescimento em redor do bar e quero mastigar as curvas dos varandins ou a verdade palpável das da rua, quero empalmar o alcatrão envelhecido e a imprecisão dos magotes grumosos; enfim, entendo nas traseiras funcionais da cidade um perímetro de restituído valor contemplativo, ou um pátio concreto de poesia. O fascínio e a sua opada folhagem rompem-se-me na medida de uma equivalência que é a das paisagens parisienses do Camille Pissarro. As impressões de luz e movimento são um ditado da rua ao pintor, a sua secretária, e não passam de memórias instantâneas a dar pulmões ao bulício da Boulevard Montmartre. Daí nasce uma Paris decomposta por espontaneidade, uma obragem que se reconhece na da minha consciência intoxicada, confeitando as maratonas associativas e sintónicas a partir das suas próprias impressões de luz e movimento. Toulouse-Lautrec escolta-me ao supermercado onde pretendo matar a fome que sobrevém a todo o fumador (os infames munchies). As cores luminosas dos produtos equiparam-se às dos seus cartazes, outros veículos de intenção comercial. Ao jeito do flâneur benjaminiano, demoro-me a pegar nos sacos vermelhos e nas pastilhas amarelas. Não me incomoda o peso do tempo: num dia ordinário, compro o jantar apressado; quando perscruto o supermercado e penso nas cores do Lautrec, vivo novo encontro com os restos urbanos, renegados pelo maquinismo, e alivio-me do tédio e da ansiedade material da rotina. Esta empatia é de origem única. Os produtos, os varandins ou o alcatrão não são lúcidos; a sua extensão na redoma faz-se de língua parlante, mas a condensação é minha. A pergunta e a resposta, a extensão e a flânerie mental, são geradas por um só agente. A união entre as duas partes é uma conciliação de dois efeitos contrários: a observação que arrecada os estímulos, o formulário do flâneur, e a marca subjectiva na matéria. Esta marcação é a que G. K. Chesterton confere a Charles Dickens, que “estampou a sua mente” por onde passou27. O fumador de erva coloca-se na mesma posição – particularmente se a meandrar pela cidade. É passando por ambientes nesta abstracção – “caminhando sonhadoramente num lugar” – que projectamos o interior no exterior, mutilando o objecto com a nossa assinatura. A pura, conscienciosa observação pode recolhê-lo, atentar-nos para a sua frontalidade, mas a absorção inconsciente etiqueta os dados segundo a nossa subjectividade, agudizando a sua susceptibilidade à provocação certa que os desenterre. É por isto que Dickens sente um “choque a atravessar o sangue”28 ao cruzar-se com uma tabuleta igual a outra que antes sorvera “num sombrio devaneio”. Este choque é a efectivação da condição desta memória, e a rendição da sensação ao significado subjectivo. A eliminação deste desfasamento é uma das vontades nas intermitências divagantes e musicais. Ao lado do acolhimento recreativo dos choques e da imediata, atractiva recepção dos restos, queremos logo reconhecer a importância interior do que perdemos no desligado percurso utilitário. A erva acentua a nossa disponibilidade para estes fenómenos e sintetiza os dois lados da acção contra-alienação: ao ampliar a objectividade, dá-nos a presença que o cumprimento da compartimentação rotineira nos leva a pisar; ao avultar a subjectividade, e a corrente de consciência com que aninha os estímulos carregados, estampa-nos empaticamente no lugar que ocupamos de uma forma mais intensa – e, sem dúvida, divertida – que o mais cinematográfico riff de baixo. A erva induz a itinerância na dilatação do objecto, que é uma tentativa de eliminar a sua separação do sujeito, acentuada pela dissociação quotidiana.
III
Encontro um jardim. De fome acorrentada, a querer descansar das guinadas na estufa de toponímia, dou dispensa de serviço às pernas e sento-me num banco debaixo das árvores. A rapidez reaparece, mas nesta letargia evolve para faíscas que amaciam; a recuperação dos instantes anteriores é progressivamente difícil, ainda que as sensações mantenham prolongamentos de complexidade emocional; da clareza e força do momento fica esta impressão, e a rememoração destes estados está ao nível de encapsular fumo. As pós-imagens da rapidez são matéria em gradual desfoque, como numa pintura da Alexandra Pacula. Em boa verdade, mais do que encapsular fumo, a anamnese das pungências é tomar o charro pela beata. A cidade estampou-me, e eu nela, mas da caça dos seus restos veio o que sinto ser um resto em si mesmo, murcho, pálido; sou, efectivamente, “os detritos de um sonho inacabado”29. O impacto da substância deve-lhes, ainda assim, uma parte do seu esqueleto. Podemos delinear a experiência do presente segundo “a consciência que se tem do corpo como o centro de acção”, e cujas percepções se estendem além do seu instante, “prolongando o passado até ao presente e assim preparando o futuro”. Os trabalhos da erva no miolo de quem fumou furam a memória a curto prazo, desestabilizam estas pontes e acrescentam mais partidas à sucessão de protagonismo. As correntes de pensamento repetem-se entre intervalos de pés assentes no chão em que nos libertamos da cabeça latejante e garantimos ser “o centro de acção”30, a definição de um início que uma nova corrente pulveriza em direcção a outro. A redoma mais parece uma série de balões, cada um virgulando o pico anterior já parcialmente nublado, e neste caminho fragmentado “dir-se-ia que se vivem várias vidas humanas no espaço de uma hora”31. A precipitação das sensações, atravessando pontos de exponenciação e decadência, e os efeitos na fisiologia da memória convertem a intoxicação num recomeço permanente de consciência.
Esta repetição de inícios é um exagero dos mecanismos da rotina. Na compartimentação de acções, o sujeito obedece a um plano de organização produtiva transferido indiferentemente para a sucessão das jornadas. Benjamin compara o trabalhador cedido à tecnologia e o jogador de cartas, “o ocioso”, interpretando nos seus regimes uma sequência de recomeços que afecta a continuidade da experiência e a totalidade do sujeito que resulta da reunião memorialística ao longo do tempo. O reflexo de mão do jogador, renovado a cada ronda, é igual ao do trabalhador, que “não tem ligação com o gesto anterior precisamente porque repete esse mesmo gesto”32: é assim que “eles vivem a sua vida como autómatos”33. Aqui já se estabelece uma paridade entre os mecanismos do ócio e do trabalho na modernidade. Antes de haver headphones e pirataria de filmes, o baralho preenchia a expectativa de entretenimento repetitivo. O desenvolvimento tecnológico elevou a bitola, de tão constante a pauta de produção e habitual a instabilidade do seu ambiente. A recorrência acrescida do recomeço desta constância, a sua divisão horária e a abundância do arregimento tecnológico projectaram ainda mais o autómato-rotineiro na hora do descanso e a necessidade de espanto estimulante e cíclico. Tudo é um ecrã onde os estímulos tentam suplantar os precedentes, e nesta competição sisífica nasce a cadeia de uma máquina a nutrir maquinalmente um semblante. Os jogos electrónicos foram a derradeira cópula do baralho com este contexto; as aplicações a que nos entregamos seguem igualmente este caminho na reprodução automática de estímulos, uns a seguir aos outros, asseverando a perda de agência perante o cortejo, tal qual o autómato a circundar os prédios assomado pela aflição produtiva ou a receber, indiferente, os choques. Colamo-nos a essas virtualidades, veras fantasmagorias, para criar satisfação neste automatismo que jugula a exterioridade mas também a opaca. Acabamos com um reino onde o compasso urbano é entretenimento. A erva abate a circularidade da recreação electrónica (a virtualidade auto-referencial de um ecrã) por nos pôr em directa confluência com a matéria, mas não chega para abandonar o mesmo modelo: a consciência que se reinicia permanentemente nos seus emaranhamentos associativos é um ultra-aparelho em segmentação de funções. Nesta estrutura encontramos, no entanto, uma percentagem do apelo no consumo de erva, porque a força alienante da recorrência do hábito material a que se reporta é protestada no abrigo da espontaneidade de uma excitação distintivamente empática e efémera. Isto estremece em particular a dimensão ansiosa da alienação urbana. A angústia da sobrevivência no complexo industrioso deve-se ao medo do falhanço na cadeia produtiva, tanto a um grau individual como colectivo. Isto pode significar o incumprimento da rotina, o atraso nas obrigações utilitárias ou o fiasco na solidificação do nosso contributo, e a incerteza de um lugar nesta cadeia assombra-nos como uma proscrição. A perturbação da repetição automática com que criamos propósito produtivista – e que está subjacente aos diferentes módulos de procura de significado – é o sinal mais vívido da máquina a falhar. Este receio da quebra na recorrência é a preservação da funcionalidade autómata. A sua rejeição não teria lugar, então, “se a máquina aceitasse a possibilidade de acidente, ou não-repetição, atributo exclusivo do Homem?”34 É o que Michel Sanouillet se pergunta ao desfiar as reflexões de Marcel Duchamp sobre o Homem e a máquina, culminadas em The Large Glass (1915-23). Nesta obra, em típica ironia e hermetismo, o artista francês terá engendrado uma reversão: antecedendo “uma sociedade onde o automático e o artificial regulariam todas as nossas relações”35, quis refazer o autómato na autenticidade da agência ciente segundo os seus preceitos. A fase seguinte seria, talvez, desprenderem-se dos mesmos e acercarem-se do nosso carácter, em que se encerra uma naturalidade descomprometida que origina a tal “possibilidade de acidente”. Mas a própria máquina está condenada ao erro, pois o gesto repetido é o que está mais próximo de sair de ordem, e esse descompromisso no comportamento abre-lhe as portas à espontaneidade, cuja unicidade nos eventos contradiz a necessidade de um retorno. A erva revela-se na mais intrigante posição para o fazer. A união da torrente interior ao extremismo empático pelo exterior ocorre numa elaboração de correspondências tão diversificadas quanto a sua imprevisibilidade. A relação entre os dois vórtices é também menos dependente do nexo que a repetição radicaliza e inutiliza: a gama de imagens e raciocínios podem até começar num grau de descendência discernível, mas o fio condutor vai-se dissolvendo com a sobrecarga e os recomeços de consciência, e se os estímulos forem mudando, como no caso do flâneur pedrado, ainda menos interdependências formulares afloram. A radicalidade desta empatia projeccional defenestra o sentido prático de um acto e desmente as regras de reincidência para a sua execução. A despropositada distribuição de atenção e o apagamento de uma tabuada de discernimento resultam numa submissão à espontaneidade e à fruição desinteressada de um ambiente inesperadamente livre: tudo assume a feição de um improvisado acolhimento ao cor do que é alienado na metrópole. Contando com a repetição de estados conscienciosos ocasionada pela erva, e que é a lombada de toda esta experiência, temos, consequentemente, uma estrutura de essência autómata que agrega a rebelião contra a sua manifestação mais abrangente. Nesta indústria de resgate e síntese da pujança material e individual, o humano maquinal da rotina transforma-se na máquina humana do fumador de erva.
Esta busca pela espontaneidade segundo a técnica de existência na cidade é um sistema contemporâneo de reencontro com a naturalidade da isenção de incumbência. A erva descerra estas ligações abandonadas. Conserva-se, portanto, a valorização do ócio e de uma noção de primarismo que nele se restaura, uma remodelação do que Rousseau e Stevenson viram na rejeição do trabalho. A repetição da estrutura autómata nestas forças dispersa as suas memórias solidificadas. Walter Benjamin apontou que “é a experiência que nos acompanha até aos confins do tempo, que nos enche e articula o tempo”36; a durabilidade da nossa construção é a espinha dorsal da identidade globalizante e das mais pequenas e específicas que a constituem, e uma sessão entre charros põe-nos na posição dos “personagens fictícios de Bergson que liquefizeram completamente as suas memórias”37. Afinal, reproduzir violentamente as condições de um autómato é efemerizar a repetição que por si anula a perpetuação, mas limpar a patina da rotina não precisa de durabilidade: o corolário desta violência, distribuída por igual nos efeitos, é legar a pós-imagem que se me desfaz e vacinar-me com a ideia de um patamar bastante obscuro. Sentado no banco, fito a noite avançando sobre os prédios, as árvores do jardim e as consciências de centro accional das horas anteriores; estou na estrada para perder o que pensei, o que associei às pancadas sensoriais, e até parte do que senti. Restará, no dia seguinte, uma múmia de toda a formidável excitação, um deserto do Sahara do que antes fora um imenso território verdejante. O rescaldo da flânerie intoxicada, triplamente transitória, é ainda mais poeirento. As ruínas adiantam a sugestão de hierarquização na percepção sensorial que se sentiu na realidade ampliada, e validam nas mentes mais metafísicas a intuição de que o tangível é unicamente uma pele, ou um estágio inferior ao tal patamar38. A salvação dos restos de uma vida mecanizada – mesmo que fugaz no seu ponto alto – prontamente traz esta impressão porque destronar as palas rotineiras é o grau mais material de ultrapassar a superfície. A cidade revela-se nestes termos um sonho estranho, real: algo que nunca nos mentiu sem dizer a verdade. Está lá tudo o que abnegamos na execução das suas regras, mas também requere uma sondagem incisiva, induzida que seja, para a sua constatação. A erva opera, então, uma amostragem de significação. A limitação da química e da memória fazem dela apenas isso, uma amostragem, conquanto retenha o bastante para uma purgação da singularidade identitária e circunstancial. O impacto fugidio categoriza-a junto das substâncias que deixam o seu benefício para depois desaparecerem, um pouco como uma bebida que ingerimos e cujas propriedades o corpo absorve antes de verter urina. É, por insinuação, a fertilização do espírito que Montaigne vetou ao ócio. A erva engorda as daninha e converte-as em palmeiras destinadas à chama; para quem procura o cadáver do tinido na cinza, é uma terra queimada com muita nutrição para as ideias. Não é por menos que me levanto, espreguiço e, banhado por qualquer coisa, regresso a casa de caderno espraiado e caneta em riste.
1: Michel de Montaigne, “I,8 – Da ociosidade”, in Ensaios – Antologia, trad. Rui Bertrand Romão (Lisboa: Relógio D’Água, 2016), 97. 2: “Pastime with good company”, c.1513. 3: A excepção mais conhecida será a ceia de Jesus em casa de Marta e Maria, mas essa inactividade é a da contemplação espiritual, guiada por um sapiente pastor. Aqui, a descura do trabalho é tão justificável quanto o Domingo do Senhor. A inactividade despropositada é que não. 4: Ec. 10: 18. 5: 1Ts 4:12. 6: Thomas Jefferson, apud Lisi Krall, “Thomas Jefferson’s Agrarian Vision and the Changing Nature of Property”, Journal of Economic Issues 36, nº1 (Março 2002): 131. 7: “The extent to which man is naturally lazy is inconceivable”. Apud Pierre de Saint-Amand, “The Great Project of an Idle Life”, in The Pursuit of Laziness: An Idle Interpretation of the Enlightenment, trad. Jennifer Curtiss Gage (Princeton University Press, 2011), 59. 8: Jean-Jacques Rousseau, apud ibid. 9: Ibid., 67. 10: Walter Benjamin, “The Paris of the Second Empire in Baudelaire”, in The Writer of Modern Life, ed. Michael W. Jennings, trad. Howard Eiland, Edmund Jephcott, Rodney Livingston, e Harry Zohn (Cambridge, Massachusetts /London, England: The Belknap Press of Harvard University Press, 2006), 83. 11: Walter Benjamin, “On Some Motifs in Baudelaire”, ibid., 190. 12: Karl Marx apud ibid., 191. 13: “Fear, revulsion, and horror were the emotions which the big-city crowd aroused in those who first observed it”. Ibid, 189. 14: Ibid., 191. Na pág.192: “The shock experience (…) which the passer-by has in the crowd corresponds to the isolated “experiences” of the worker at his machine”. 15: Robert Louis Stevenson, “An Apology for Idlers”, in An Apology for Idlers (London: Penguin Books, 2009), 6. 16: Charles Baudelaire, O Pintor da Vida Moderna, trad. Teresa Cruz (Lisboa: Nova Vega, 2015), 20. 17: Benjamin, “The Paris of the Second Empire in Baudelaire”, 84. 18: Ibid., 69. 19: Ibid., 85. 20: Ibid., 84-85. 21: “The figure of the flâneur. He resembles the hashish eater, takes space up into himself like the latter”. Walter Benjamin, “From The Arcades Project (1927-1940)”, in On Hashish, ed. Howard Eiland, trad. Howard Eiland e outros (Cambridge, Massachusetts/London, England: The Belknap Press of Harvard University Press, 2006), 141.
22: Benjamin, “The Paris of the Second Empire in Baudelaire”, 68. 23: Ibid., 77. Confira-se também, em Rua de Sentido Único, “Apartamento de dez divisões palacianamente mobilado”. 24: Apud Benjamin, “On Some Motifs in Baudelaire”, 176. 25: Charles Baudelaire, “O Poema do Haxixe”, in Os Paraísos Artificiais e Outros Textos, trad. João Moita (Lisboa: Relógio D’Água, 2019), 87. 26: Baudelaire, “O Poema do Haxixe”, 99. Ou “uma sucessão de pensamentos sugerida e comandada pelo mundo exterior e pelo acaso das circunstâncias” (pág. 106). Também apelidada de “imaginação alegórica” (Benjamin, “From The Arcades Project (1927-1940)”, 138). 27: Benjamin, “The Paris of the Second Empire in Baudelaire”, 99. 28: Apud G. K. Chesterton, Charles Dickens. A Critical Study (New York: Dodd Mead & Company, 1917), 47, https://archive.org/details/charlesdickensa00chesgoog/page/n60/mode/2up . 29: Charles Baudelaire, “Le Pseudo-Épilogue”, in Les Paradis Artificiels (Librarie Générale Française, 1972), 237. 30: Benjamin, “On Some Motifs in Baudelaire”, 275n8. 31Baudelaire, “O Poema do Haxixe”, 98. Na pág. 69: “A eternidade durou um minuto. Uma outra corrente de ideias assalta-vos. Arrastar-vos-á durante um minuto no seu turbilhão vivo, e esse minuto durará ainda uma eternidade”. 32: Benjamin, “On Some Motifs in Baudelaire”, 193. 33: Ibid., 194. 34: Michel Sanouillet, prefácio a The Essential Writings of Marcel Duchamp, ed. Michel Sanouillet e Elmer Peterson (London: Thames And Hudson, 1975), 9. 35: Ibid., 8. 36: Benjamin, “On Some Motifs in Baudelaire”, 195. 37: Ibid., 194. 38: Benjamin, o dividido entre matéria e espírito, chamou-lhe o “ambíguo piscar de olhos do nirvana” (Walter Benjamin, “Main Features of My Second Impression of Hashish”, in On Hashish, ed. Howard Eiland, trad. Howard Eiland e outros (Cambridge, Massachusetts/London, England: The Belknap Press of Harvard University Press, 2006), 27).