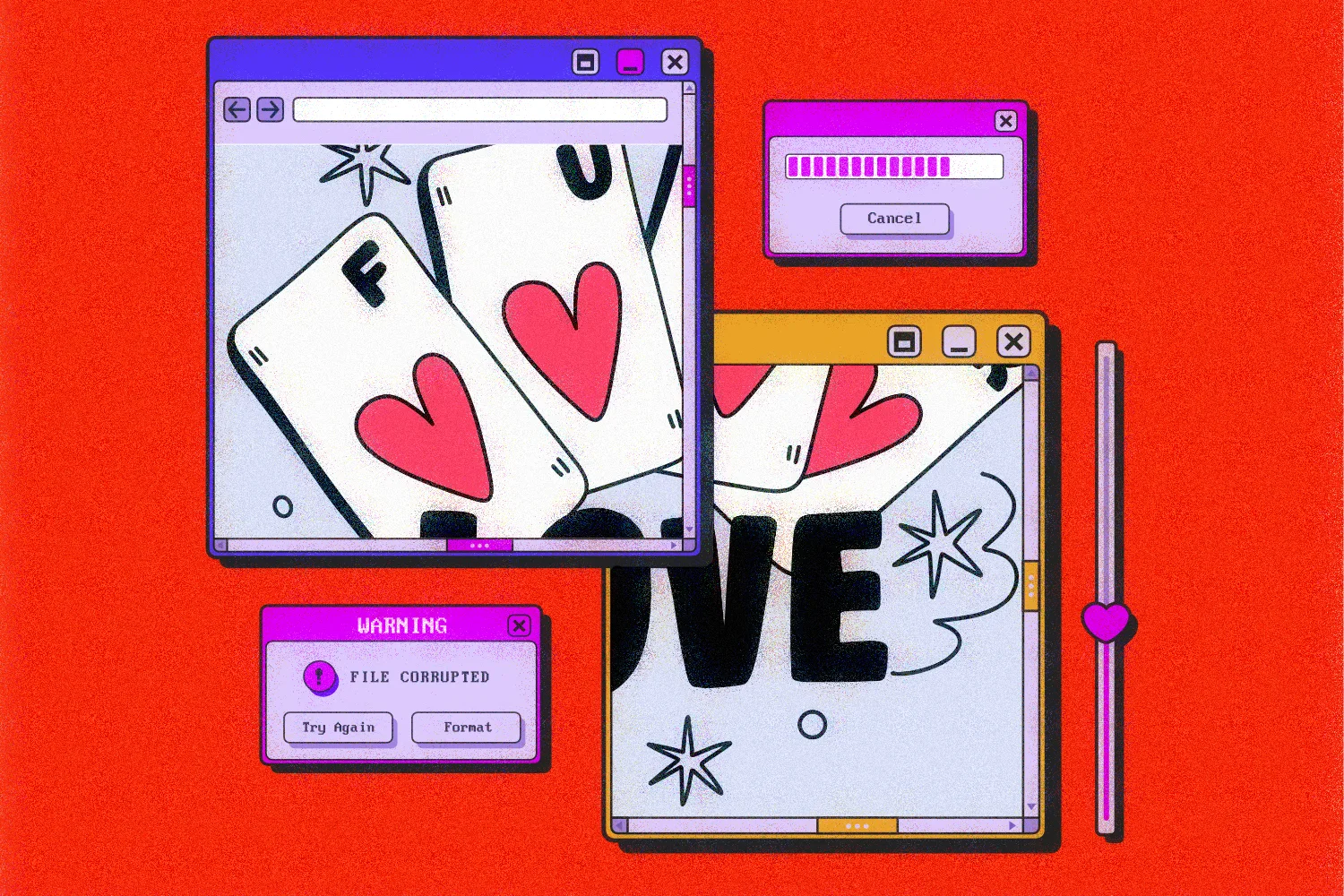Nas redes sociais há bullying, desinformação, burlas e pressão para encaixar em padrões de beleza irrealistas, entre outras coisas lamentáveis que podem afetar a saúde mental das pessoas jovens (e de qualquer idade). É também nas redes sociais que vês um tutorial para aprender a cuidar melhor das tuas plantas, onde melhoras a tua pronúncia em inglês, onde aprendes que existe a Linha SOS Criança — e, muito provavelmente, por onde chegaste até o Shifter. Nas redes sociais acontecem coisas de todo o tipo. São uma parte muito importante da experiência de vida da maioria das pessoas. E é por isso que deveríamos ter muita cautela antes de excluir delas algum grupo.
A proposta de lei para proteção de crianças em ambientes digitais que o PSD submeteu à Assembleia da República parece já ter decidido pela exclusão. Pretendem aumentar a “idade mínima digital” para os 16 anos, de modo a que ninguém possa utilizar as redes sociais com autonomia antes dessa idade. No conjunto de espaços digitais potencialmente proibidos entram, segundo o texto apresentado, tanto plataformas de redes sociais como “serviços de partilha de imagens e vídeos, serviços de alojamento de conteúdos e aplicações de comunicação”. Na verdade, isto pode incluir quase qualquer coisa. Por esta definição, a lei pode deixar os menores encurralados num canto minúsculo da internet; por outras palavras, excluídos de uma parte importante da sociedade.
Restringir as redes sociais é uma medida que ganhou popularidade devido à preocupação razoável com a saúde mental dos mais jovens. O projeto de lei, por exemplo, diz apoiar-se em “evidência científica acumulada”. O problema é… que essa acumulação não existe, como nos demonstra quem aborda o tema com amplitude e rigor (fun fact: quem observar a primeira nota ao pé do PDF do projeto de lei fornecido pelo PSD, reparará que foi escrito com ChatGPT).
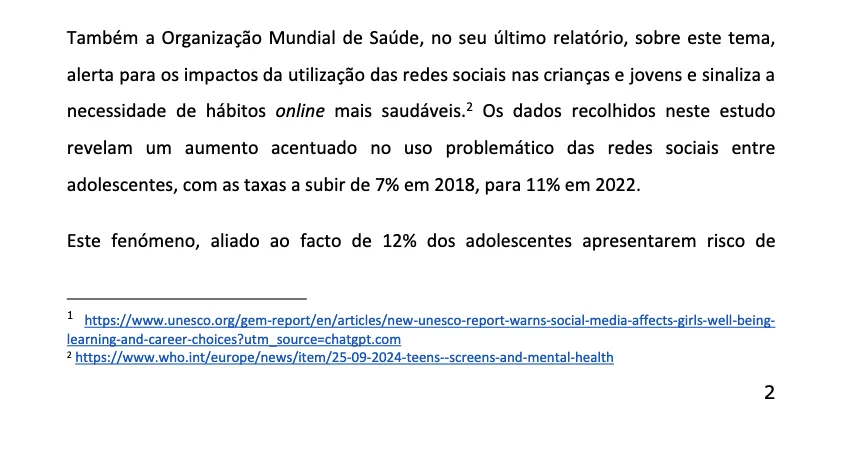
Olhando para a comunidade científica, podemos citar um estudo recente em que foram questionados 120 especialistas globais. 93,7% deles concordam que a evidência disponível é insuficiente para validar a afirmação de que “impor e garantir uma idade mínima de 16 anos para abrir contas em redes sociais beneficiaria a saúde mental dos adolescentes em geral”. Ou seja: não se sabe.
O que se sabe é que o apoio a esta medida cresceu ao calor de best-sellers que despertam sérias dúvidas, como o já muitíssimo criticado A Geração Ansiosa, de Jonathan Haidt, um propagador de pânicos morais que promove ideias reacionárias baseando-se em estudos que não parece ter lido. É verdade que a ansiedade e a depressão juvenis diagnosticadas aumentaram mais ou menos ao mesmo tempo que se generalizou o uso das redes, entre 2010 e 2015 (embora a tendência tenha começado antes). Mas nesses anos ocorreram outras coisas: a crise económica empurrou muitas famílias para situações sufocantes de precariedade, e, nos EUA (país onde se originam muitos destes estudos), começaram a fazer-se avaliações de saúde mental a toda a população adolescente em consultas de rotina.
Não só a chegada das redes sociais não é o único fator que se correlaciona com o agravamento dos dados sobre a saúde mental jovem, como, convém lembrar, correlação não é causalidade. Que duas coisas ocorram ao mesmo tempo não indica que uma causa a outra, nem qual é a causa e qual o efeito.
Cabe perguntar, neste caso, se a relação não é inversa: se não serão os problemas psicológicos a levar ao aumento do uso de redes. Quando observamos estudos longitudinais, que acompanham o uso de redes e o estado mental ao longo do tempo, esta opção parece explicar grande parte da correlação. Como não é de espantar, as pessoas jovens que sofrem de depressão utilizam mais as redes sociais. Também é interessante o resultado de um inquérito bianual realizado pelo Ministério da Saúde de Espanha, cujos últimos resultados estimam que o número de adolescentes que têm uma relação problemática com a internet (que passam demasiado tempo online) tenha diminuido para níveis de 2019. Ou seja, a pandemia, que quase impossibilitou socializar presencialmente, parece ser um fator bastante relevante para explicar o uso excessivo das redes.
Outra coisa que sabemos é que há jovens para quem o efeito das redes é neutro ou positivo. Pensemos em pessoas LGTBIQA+, neurodivergentes, racializadas ou com outras diversidades, que encontram comunidade, apoio e espaço para a criatividade nas redes. Pensemos, além disso, no quão necessária é esta válvula de escape quando se encontram em ambientes sociais ou familiares hostis.
Podemos entrincheirar-nos num sem-fim de estudos que apontam conclusões em sentidos distintos, mas quando observamos metanálises (estudos compilam e analisam um grande número de investigações, excluíndo aquelas que utilizam métodos duvidosos), a balança nunca se inclina para o lado mais tecnofóbico. Por exemplo, esta investigação sugere que o tempo de ecrã explica apenas 0,5% das variações na saúde mental. Ou este outro estudo diz que o tempo passado em redes sociais é um dos fatores que menos influenciam a saúde mental dos adolescentes, estando a falta de apoio familiar muito mais acima.
Apontar o dedo às redes sociais dá-nos uma explicação simples e confortável retira responsabilidade a todos os outros setores da sociedade pelos problemas dos jovens. A verdade incómoda é que não temos boa evidência que mostre que (tentar) tirar os jovens das redes vá ajudar. Aliás, do que temos, sim, a certeza é que as famílias são o meio onde é mais provável uma criança sofrer violência e abuso. E não anda ninguém na Assembleia a propor proibir a família.
O que também sabemos, e está amplamente documentado, é que as redes estão a deteriorar o debate público. Os algoritmos de recomendação destas plataformas têm a capacidade de enviesar a nossa perceção da realidade segundo critérios opacos, controlados por umas poucas empresas que acumulam demasiado poder. Estão desenhados para nos amarrar e exploram os nossos medos e vulnerabilidades com conteúdo altamente emocional. Outras decisões de design, como o scroll infinito e os padrões obscuros, também estão pensadas para nos roubar agência e maximizar o negócio dos dados (negócio que, como também demonstra a evidência, está cada vez mais entrelaçado com a guerra e projetos políticos autoritários).
Perante esta situação, a sociedade civil anda há duas décadas a pedir regulação. Neste contexto, soa muito bem a ideia de exigir às grandes plataformas que façam “recomendações algorítmicas não aditivas e limitadas a conteúdos apropriados” (artigo 10.º do projeto). Mas, lamentavelmente, a razão de ser de ditos algoritmos é aumentar o engagement, isto é, a adição, e nenhum governo no mundo até agora conseguiu forçar a transparência algorítmica, sempre protegida por segredo industrial. Também parece louvável exigir às plataformas que tirem alguns elementos irritantes, como as notificações e a gamificação, sob ameaça de coimas de até 2% do seu o volume de negócios anual (artigos 11.º e 15.º). No caso da Meta, seriam 3.778 milhões de euros. Boa sorte aos funcionários numa repartição em Lisboa que tenham de cobrar estas multas a alguns dos homens mais ricos e poderosos do mundo.
Que seja difícil legislar e aplicar não significa que não se faça, claro. Mas teria mais sentido aspirar a que a União Europeia se encarregasse dessa tarefa de maneira mais determinada e eficaz. A Europa já conta com um corpo regulatório avultado — as leis de serviços digitais (DSA), mercados digitais (DMA), proteção de dados (GDPR) e inteligência artificial (AI Act), entre outras — é pouco credível que um país da dimensão de Portugal possa conseguir muito mais pela via regulativa. No que diz respeito a Bruxelas, o governo de Montenegro tem remado na direção contrária à regulação, apoiando o ‘Omnibus Digital’, um projeto da Comissão Europeia para desregular o âmbito digital e diminuir a proteção de dados pessoais. As organizações de direitos digitais qualificam-no como “o maior recuo de direitos digitais na história da UE“.
Proibir, controlar e regular são ações negativas que devem ser acompanhadas por políticas públicas positivas. Se o governo realmente se preocupasse com a violência, a manipulação ou as dinâmicas tóxicas que as crianças enfrentam nas redes sociais, poderíamos esperar programas de literacia digital crítica que ensinem a todos os alunos como funcionam os algoritmos, reforço de canais digitais públicos onde os cidadãos possam encontrar informação atualizada e rigorosa sem ter de recorrer ao Instagram e ao TikTok, promoção de alternativas de software livre e democrático como o Mastodon e o fediverso… Mas talvez estejamos a desejar demasiado de um Governo cujo Secretário de Estado da Digitalização é ex-presidente da Google e ainda tem mais de meio milhão em ações desta empresa.
“Vincular a nossa identidade real à nossa atividade online não só nos torna vulneráveis perante governos. Estamos a falar de uma base de dados demasiado apetecível para todo o tipo de agentes com más intenções, que além disso contam com sistemas de inteligência artificial cada vez mais potentes para automatizar tentativas de roubo, extorsão, assédio, manipulação eleitoral, etc., a uma escala assustadoramente massiva.”
O ponto mais delicado de toda a proibição de acesso às redes sociais é como a implementar: como se vai controlar que apenas maiores de 16 estejam nas redes? O diploma defende que para aceder seja preciso confirmar a idade através da Chave Móvel Digital. Ainda não conhecemos os detalhes, mas atrevemo-nos a prever que, seja qual for a implementação técnica, associar as nossas conversas íntimas e as nossas interações sociais à nossa identidade legal não é uma boa ideia.
Para piorar, o artigo 12.º do projeto de lei abre a porta à fiscalização automática de todas as mensagens antes de serem enviadas por ou para menores de 16 anos. Se por agora nos livrámos do Chat Control que pretendiam impor a partir de Bruxelas, parece que o Governo pretende introduzi-lo por outra via. Isto sabemos por uma crítica da IL; facto que não queremos deixar de assinalar porque ficamos contentes quando a IL se lembra que o L vem de liberal, um adjetivo associado à democracia ocidental.
Parece-nos insólito ter de alertar para o quão delicado é acabar com a privacidade nas comunicações. Na história recente da Europa, temos episódios que nos ensinaram que é preferível não gerar bases de dados que poderiam ser usadas para controlo e discriminação governamental, e o quão importantes são as comunicações privadas para defender a democracia. Qualquer passo atrás soa especialmente arriscado numa época em que vemos governos nas mãos da extrema-direita, outros em risco de cair nela, e um presidente dos EUA a utilizar a monitorização das redes sociais como arma na sua guerra contra migrantes e dissidentes.
Vincular a nossa identidade real à nossa atividade online não só nos torna vulneráveis perante governos. Estamos a falar de uma base de dados demasiado apetecível para todo o tipo de agentes com más intenções, que além disso contam com sistemas de inteligência artificial cada vez mais potentes para automatizar tentativas de roubo, extorsão, assédio, manipulação eleitoral, etc., a uma escala assustadoramente massiva. Dir-nos-ão que os sistemas de verificação e as plataformas onde operam aplicarão os mais sofisticados protocolos técnicos. Mas a história da (in)segurança informática também nos ensina que o único dado completamente seguro é aquele que não está guardado em lado nenhum.
Ou seja: não é só que, como já explicamos acima, estejamos a sobredimensionar o papel das redes sociais nos mal-estares que afetam a população mais jovem. Também estamos a pôr em risco a liberdade e segurança de 100% da população. O deputado social-democrata Paulo Marcelo assegura que o que se abre esta quinta-feira é um processo que se quer “sereno, racional, que envolva a sociedade civil”. Esperamos que este debate esteja à altura da complexidade, da audácia e da valentia que exigem os problemas sociais que enfrentamos, se possível sem tecnofobia nem adultocentrismo.
Marta G. Franco publicou o livro 'Las redes son nuestras. Una historia popular de internet y un mapa para volver a habitarla' (Consonni, 2024). Forma parte do coletivo Laintersección, que colabora com organizações sociais em investigação, formação e estratégias digitais. Viveu intensamente o movimento 15M em Espanha, foi jornalista e mediadora cultural e geriu as redes sociais do Município de Madrid entre 2015 e 2019. Segue trabalhando para que a internet continue a ser um lugar habitável, participando em projetos digitais como Vámonos juntas, Algorights e Pantube.
Apoia a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.
Outros artigos de que podes gostar: