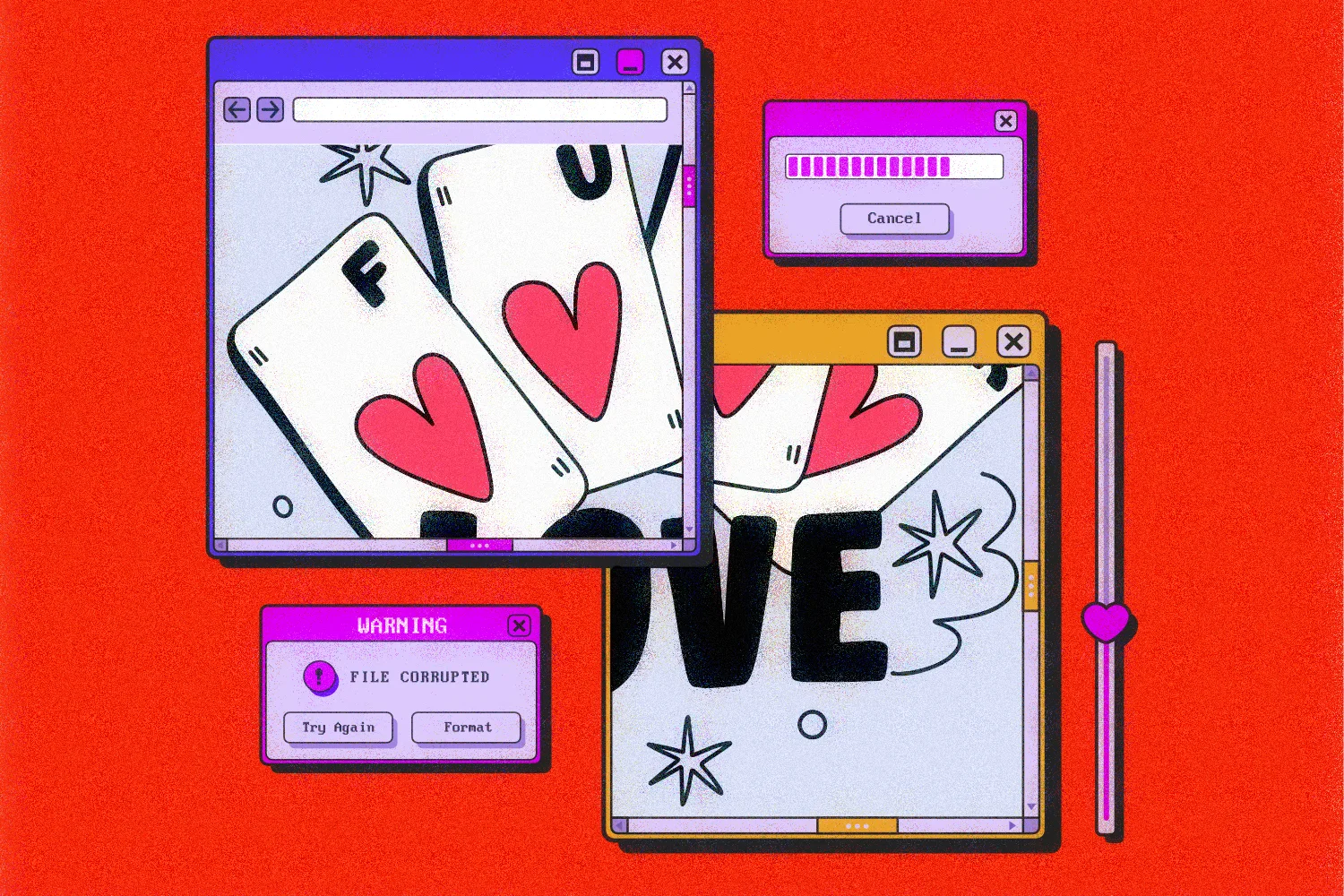Um espectro assombra a política global: o espectro da nostalgia. Nostalgia pela família tradicional, onde apenas um salário é o suficiente; nostalgia pelo Estado-nação etnicamente definido e uniforme; nostalgia por tempos mais simples, pré-internet; nostalgia por uma época em que homens eram homens e mulheres eram mulheres, ponto final.
Na política, a nostalgia tem a reputação de estar intrinsecamente ligada a projetos reacionários. Por exemplo, o filósofo Jason Stanley começa o seu livro de 2018, How Fascism Works (Como funciona o fascismo), com uma discussão sobre como a nostalgia, enquanto olhar saudoso para “um passado mítico puro tragicamente destruído”, é o sentimento fundamental explorado pelo fascismo. De facto, os fascistas originais eram bastante explícitos no apelo a um passado mítico. Num discurso proferido em 1922 no Congresso Fascista em Nápoles, Benito Mussolini declarou: “«”Criámos o nosso mito. . . . O nosso mito é a nação; o nosso mito é a grandeza da nação!”
Hoje, pode parecer que esta nostalgia voltou à vida e está a arruinar o mundo. Mas a nostalgia não tem de ser necessariamente fascista. Pode ser direcionada a períodos de esperança, solidariedade e revolução. A nostalgia tem uma capacidade incomparável de coordenar grandes grupos de pessoas em torno de rituais, memórias e desejos compartilhados. E, ao relembrar o melhor do passado e reinterpretá-lo criativamente à luz das necessidades do presente, pode ajudar-nos a criar novas visões.
Ao crescer nos subúrbios de Lisboa, no início dos anos 2000, o meu feriado favorito sempre foi o dia 25 de abril, a celebração da Revolução dos Cravos. Marca o dia em 1974 em que um grupo de oficiais do exército marchou sobre Lisboa, foi recebido de braços abertos pela população local e pôs fim à ditadura fascista mais duradoura da Europa.
No ano e meio que se seguiu à Revolução dos Cravos, Portugal abandonou finalmente o seu projeto colonial, negociando a independência de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Passou por um período revolucionário efervescente. E o tipo de país em que Portugal se transformaria parecia estar em aberto e pronto para ser decidido por todos.
Como escreve a historiadora Raquel Varela, três milhões de pessoas — um impressionante terço da população — participaram diretamente em conselhos de trabalhadores, residentes e soldados, reunindo-se regularmente para discutir acaloradamente as suas próprias condições materiais e a direção que o país deveria tomar. Os bancos foram nacionalizados e expropriados; 360 empresas foram tomadas e geridas pelos seus trabalhadores. Cooperativas habitacionais foram erguidas com a colaboração de jovens arquitetos e residentes locais em todo o país, construindo novas casas para pessoas que só conheciam barracas.
Os trabalhadores agrícolas que antes viviam em condições próximas à escravatura passaram a controlar as terras que cultivavam. No Ribatejo, como mostra o documentário Terra Bela, trabalhadores sem terra viram-se lado a lado com revolucionários barbudos a revirar os armários dos senhores e a experimentar alegremente as suas roupas. “Agora pareço mesmo um duque!”, gritou um deles, enquanto outros folheavam os livros nas estantes com curiosidade.
A nostalgia tem uma capacidade incomparável de coordenar grandes grupos de pessoas em torno de rituais, memórias e desejos compartilhados.
Talvez não seja surpreendente que, num país onde a saudade — enquanto desejo melancólico por coisas, pessoas e lugares que já não existem — é um modo de vida, a revolução e o período revolucionário que se seguiu sejam recordados com intensa e carinhosa nostalgia. Não há praticamente nenhum protesto progressista, seja sobre habitação, violência policial ou questões económicas, em que não se ouça o grito “25 de abril para sempre! Fascismo nunca mais!”. Quando as comunidades de imigrantes do sul da Ásia no centro de Lisboa foram perseguidas pela polícia em dezembro deste ano, figuras públicas progressistas apareceram no bairro no dia seguinte para distribuir cravos vermelhos, remetendo para aqueles que aparecem nas espingardas dos soldados em todas as fotos da revolução.
O olhar carinhosamente nostálgico para o passado que encontramos aqui está muito longe da nostalgia da extrema direita, resumida no apelo de Trump de “Tornar a América Grande Novamente”, e da sua pulsão reacionária para nos prender numa versão fantasiosa dos subúrbios dos anos 50. É igualmente diferente da estética consumista de assistir a reposições de programa de tv dos anos 90 de calças de fato de treino, deixar o Spotify guiar-nos por outra música que nos é familiar e navegar no Instagram por conteúdos tipo “leva-me de volta para (insira a década)” — aquilo a que o teórico da nostalgia Grafton Tanner chama de retrobait.
Enquanto os tipos mais familiares de nostalgia anseiam por um passado nitidamente imaginado, a nostalgia pela Revolução dos Cravos está encapsulada no slogan “Ainda não cumprimos abril”. O anseio nostálgico é transformado em apego a uma promessa ainda por cumprir.
Todos os dias 25 de abril ao longo da minha infância, os meus pais, a minha irmã e eu dançávamos, de pijama, durante toda a manhã, ao som das canções de intervenção dos anos 70 durante, cantando que “o povo é quem mais ordena”. O meu pai, que era adolescente na época da revolução, contava sempre as mesmas histórias: sobre as ondas de prisioneiros políticos em êxtase que desciam a colina de uma das prisões políticas mais infames do regime, recém-libertados após meses de tortura; das tardes na praia que se transformavam em discussões acaloradas entre as alas jovens dos partidos comunista e maoísta sobre os detalhes do Livro Vermelho e do Manifesto Comunista; sobre passar o verão de 1975 no sul rural, vivendo em condições precárias num celeiro com outros jovens comunistas para ensinar trabalhadores agrícolas mal-humorados a ler e escrever.
No início da tarde, prendíamos cravos vermelhos nas nossas camisas e íamos para o centro de Lisboa, onde marchávamos pela Avenida da Liberdade. Inevitavelmente, encontrávamos amigos da família que só víamos uma vez por ano. Todos os anos, havia pessoas de todos os tipos, desde ativistas antirracistas ou queer a sindicalistas da velha guarda, desde membros do Partido Comunista a famílias geralmente apolíticas que talvez votassem no centro-direita.
A nostalgia reacionária distorce o passado e recusa-se a reconhecer qualquer progresso desde que aquele mundo mítico tão almejado foi roubado
Donald Trump, Vladimir Putin, Viktor Orbán e os seus aliados globais compreendem bem os prazeres da nostalgia. A nostalgia que a direita contemporânea apregoa tem um objeto de desejo claro: um passado mítico em que famílias nucleares heterossexuais podiam viver numa casa suburbana com um único salário, onde as mulheres eram felizes em casa a cuidar de muitos filhos e esperavam obedientemente para servir aos maridos um copo de uísque depois do trabalho. É verdade que, pelo menos nos Estados Unidos e em muitas democracias europeias, o pós-guerra foi uma época de menor desigualdade, maior densidade sindical, maior militância trabalhista e prosperidade para muitos. Mas a direita reacionária canaliza a nostalgia por esse período precisamente para as características mais questionáveis.
A nostalgia reacionária distorce o passado e recusa-se a reconhecer qualquer progresso desde que aquele mundo mítico tão almejado foi roubado; cultiva o ressentimento pelo paraíso perdido e a ansiedade em relação à mudança. E, como constatamos todos os dias, a nostalgia reacionária não admite objeções para tornar esse mito rígido a realidade de todos, quer o desejem ou não.
A nostalgia reacionária tem uma longa história em Portugal. O regime fascista aproveitou a nostalgia da época gloriosa dos “descobrimentos” marítimos do país, quando os portugueses «deram novos mundos ao mundo», para fabricar o consentimento para a guerra contra os movimentos de libertação nas colónias. Infelizmente, essa nostalgia ainda hoje está viva, e bem viva, no país. Nas eleições deste ano, o partido de extrema-direita Chega obteve mais de 20% dos votos, mais do que triplicando a sua quota eleitoral em três anos e ultrapassando o partido de centro-esquerda como a segunda maior força política do país. O seu líder comparou-se explicitamente ao ditador António de Oliveira Salazar, que liderou o regime fascista em Portugal entre 1932 e 1968.
A resposta dada na marcha da Revolução dos Cravos que celebrava o seu quinquagésimo aniversário em 2024, foi uma multidão de mais de duzentas mil pessoas a marchar pela avenida, com cravos vermelhos presos nas camisas, entoando «Fascismo nunca mais!». Quando a minha namorada e eu chegámos ao início da marcha — a minha primeira vez de volta desde que deixei o país para ir para a faculdade aos dezoito anos —, fiquei impressionada com a quantidade de pessoas que lá estavam. Ajustando ao tamanho das áreas metropolitanas de Lisboa e Nova Iorque, seria como se um milhão e meio de pessoas se tivessem reunido para marchar pela Quinta Avenida.
O clima era de exultação. No topo da marcha, ativistas com uma enorme tarja que dizia «Abril exige habitação» subiram à estátua no meio da praça. Reformados carregavam tarjas exigindo melhorias na saúde pública. Uma jovem com um casaco de couro carregava orgulhosamente um cartaz que dizia «Lesbianize April» (Lesbianize Abril). No final, um grupo de ativistas subiu à estátua, exibindo orgulhosamente a bandeira palestiniana. Cartazes pop art com cravos sobre fundos de cores diferentes, espalhados por toda a cidade, celebravam as muitas conquistas da democracia portuguesa, desde o direito ao salário mínimo em 1974 até à legalização do aborto em 2007.
A nostalgia pela revolução leva centenas de milhares de pessoas às ruas. Pode lembrar-nos da miséria humana que uma viragem antidemocrática traria.
Se a nostalgia reacionária é forte em Portugal, também o é o poder de um passado revolucionário comum para coordenar uma multidão em torno do valor da democracia — a nostalgia como um forte elemento unificador dos valores democráticos, e não como uma bota a pisar os nossos pescoços.
Nesta versão da nostalgia, não há desejo de voltar a 1974. O foco está no que a revolução tornou possível e para onde podemos querer ir. A marcha não é uma reconstituição histórica, com homens fardados, tanques do exército e civis vestidos com calças à boca de sino a aplaudir. É um protesto, que se renova todos os anos para se concentrar nas questões mais urgentes do momento. Aqueles que marcham pela avenida assumem os valores da revolução — paz, pão, habitação, cuidados de saúde e educação para todos, como enumera uma famosa canção de Sérgio Godinho dos anos 70 — e os incorporam, remodelam e redirecionam de acordo com as necessidades atuais.
A nostalgia pela revolução leva centenas de milhares de pessoas às ruas. Pode lembrar-nos da miséria humana que uma viragem antidemocrática traria. E no ano passado, além dos limites legais das comemorações oficiais da revolução, a nostalgia ofereceu um vislumbre de algo mais transformador.
Enquanto passeava agradavelmente pela Avenida da Liberdade, um grupo de ativistas da cena anarquista de Lisboa invadiu uma escola abandonada no bairro gentrificado (e turisticamente explorado) de Santa Engrácia.
Chamaram ao espaço ocupado «Centro Social de Santa Engrácia». O plano era que o edifício abandonado funcionasse como aquilo a que o sociólogo urbano Ray Oldenburg chamou de “terceiro lugar”, um espaço informal de convívio que não é nem o trabalho nem a casa, e que ele defendia ser o coração da democracia.Os terceiros lugares estão ameaçados em todo o lado. Em Lisboa — uma cidade vendida a quem pode pagar um Visto Gold (uma autorização de residência baseada no investimento no país, geralmente através da compra de imóveis) — e convertida numa Disneyland hipster para nómadas digitais, estão estão a desaparecer constantemente
Em 1974, o país também enfrentou uma crise habitacional. Cinquenta mil pessoas viviam em barracas só em Lisboa. Após a revolução, famílias inteiras, muitas vezes lideradas por mulheres, mudaram-se para habitações vazias, desde torres de nove andares quase concluídas até palácios de ricos que fugiram do país aterrorizados após a revolução. Algumas dessas ocupações foram lideradas por ativistas e prestavam serviços que normalmente não estavam disponíveis para os pobres: clínicas de saúde pública, maternidades, creches ou cantinas.
Essas ocupações tiveram vida curta. Quando o país se estabilizou numa democracia liberal pacífica, após a eleição do partido de centro-esquerda apoiado pelos EUA em 1976, ocupar prédios ao abandono tornou-se ilegal. As famílias foram despejadas com a promessa de habitação e as propriedades foram devolvidas aos seus proprietários pré-revolucionários. Com o tempo, ter casa própria substituiu a abolição da propriedade privada como sonho norteador. Pelo menos foi assim para todos, exceto para um punhado de esquerdistas nostálgicos que ansiavam pelo período pós-revolucionário.
Em vez de funcionar como um caleidoscópio distorcido, a nostalgia pode servir como um indicador: aqui está um gostinho da utopia.
Este anseio nostálgico pode parecer revelar um dos principais pecados da nostalgia: distorce a nossa visão do passado ao ignorar os seus aspetos negativos. Realisticamente, Portugal em 1974-75 não era uma utopia. A maioria das pessoas continuava miseravelmente pobre. A situação política e económica era extremamente instável. Cerca de meio milhão de colonos regressaram, desorientados, desempregados e amargurados após a independência das colónias portuguesas. E havia muita agitação e violência da direita. O período só parece uma utopia com uma visão bastante limitada.
Mas qualquer reflexão sobre o mundo é necessariamente seletiva. Somos seres limitados. Podemos sentir nostalgia por características positivas distintas de um período sem acreditar que esse período foi uniformemente positivo e reconhecendo que houve progresso desde então. Em vez de funcionar como um caleidoscópio distorcido, a nostalgia pode servir como um indicador: aqui está um gostinho da utopia.
Se a utopia fosse real, mesmo que por pouco tempo e em escala local, também seria uma possibilidade viva para o futuro, algo concreto e alcançável. Se já vivemos assim uma vez, podemos fazê-lo novamente. A nostalgia pode ser aproveitada, não para ansiar por hierarquias rígidas de classe e raça e pela família tradicional, mas para destacar que podemos viver de acordo com valores diferentes; que podemos, por exemplo, ocupar prédios abandonados para habitar coletivamente, sentar juntos, brincar e cuidar uns dos outros.
Visitei o prédio ocupado pela primeira vez alguns dias depois da marcha, num final de tarde. Na área exterior, coberta por uma vegetação exuberante, jovens de vinte ou trinta e poucos anos com cabelos compridos e franjas reuniam-se em grupos a beber cerveja e conversar. Crianças brincavam com pouca supervisão dos pais. Mulheres na casa dos setenta revisitavam o edifício há muito fechado, onde algumas delas tinham estudado há muitas décadas. Havia pessoas a pintar murais nas paredes, desde frutas brilhantes e arco-íris até absurdos (“punks não fazem batota nos jogos de cartas!!” ao lado de uma pintura ingénua de um diabo a jogar cartas) e slogans políticos (“aborto para todos”; “a Revolução dos Cravos começou em África”). Todos pareciam ocupados com qualquer coisa: a limpar, a organizar o espaço, a transportar móveis, a levar comida e produtos de limpeza para a despensa comum. Aparentemente, não havia ordem nas coisas, mas a despensa estava cheia, uma refeição estava a ser preparada e uma festa estava marcada para mais tarde. Parecia que, durante todos aqueles anos a ouvir memórias da revolução, eu tinha estado à espera disto.
Enquanto passei os dias seguintes no prédio da escola ocupada, participando de assembleias, cozinhando, ouvindo música ao vivo e assistindo a documentários temáticos, a nossa nostalgia revolucionária manifestou-se de maneiras que nada têm a ver com a lembrança ociosa de assistir a reposições na TV. Quando deixamos a nossa nostalgia explodir na vida coletiva, nunca estamos apenas ansiando por um passado perdido. Mesmo que os projetos em que nos envolvemos olhem romanticamente para um período passado, eles não podem deixar de responder aos desejos que temos agora: neste caso, construir uma cidade que seja para os seus habitantes, não mero alimento para as forças impessoais do capital ou os apetites dos viajantes globais do Airbnb.
Nos Estados Unidos, não existe uma revolução de esquerda unificadora pela qual se possa ansiar coletivamente. Mas não faltam períodos de efervescência progressista, ação coletiva vigorosa e sonhos ferozes.
Na verdade, uma espécie de nostalgia revolucionária já faz parte da prática progressista num canto da política de esquerda geralmente considerado alérgico ao passado: o movimento LGBTQ. Todos os anos, o Orgulho não corporativo une uma coligação diversificada em torno da memória coletiva de Stonewall. Ao lembrar que “o Orgulho foi um motim”, também olhamos para trás, para 1969, em Greenwich Village, como uma promessa de libertação sexual e de género ainda por cumprir, e comprometemo-nos novamente a lutar por ela.
A nostalgia revolucionária também foi fundamental para os acampamentos estudantis de 2024 pela Palestina. Os acampamentos ecoaram conscientemente as mobilizações estudantis em massa contra a Guerra do Vietname no final da década de 1960 e início da década de 1970, tanto em estratégia como em princípios éticos. Foi a nostalgia que tornou os protestos inteligíveis para um público amplo, desencadeando uma onda que se espalhou muito além dos Estados Unidos.
A estrutura da nostalgia progressista é a mesma nestes casos e na Revolução dos Cravos: fazer um esforço ativo para produzir uma memória partilhada de um momento revolucionário; destacar os valores pelos quais os nossos precursores lutaram; e, então, usar as celebrações desse passado para nos comprometermos novamente com valores partilhados e nos organizarmos em torno de como os podemos tornar vivos hoje.
A nostalgia que sinto em torno da data de 25 de abril — por uma revolução que não vivi, pelos dias felizes da infância, pela ocupação de uma semana do ano passado — diz-me que as utopias são possíveis.
Há muitas experiências na história dos EUA pelas quais vale a pena sentir nostalgia. Podemos olhar para trás e ver os belos murais encomendados pela Works Progress Administration durante o New Deal e aproveitar essa energia para encontrar inspiração noutros programas importantes do período. Ou recontar a história da greve Bread and Roses (Pão e Rosas) de 1912, que uniu cerca de vinte mil trabalhadores de mais de cinquenta e uma nacionalidades em Massachusetts, inventou novas táticas e popularizou o slogan «Pão para todos e rosas também». Ou celebrar a Marcha em Washington por Empregos e Liberdade, orientando-nos em torno de uma agenda de justiça racial e económica para todos.
Em Lisboa, em abril de 2024, a ocupação acabou por durar apenas uma semana, com a polícia a chegar de madrugada para expulsar os ativistas que dormiam no interior. Hoje, o edifício ainda lá está, fechado e sem uso. Para mim, essa semana transformou-se num novo conjunto de memórias nostálgicas.
A nostalgia que sinto em torno da data de 25 de abril — por uma revolução que não vivi, pelos dias felizes da infância, pela ocupação de uma semana do ano passado — diz-me que as utopias são possíveis. Estas utopias não são cenários determinados perdidos num passado longínquo — o da casa suburbana e da esposa obediente que alguns querem impor —, mas desejos abertos de liberdade coletiva à espera que os articulemos em conjunto.
Em Portugal, Abril continua a ser uma promessa a cumprir. Noutros lugares, outros abris permanecem nas sombras, à espera de serem descobertos, saboreados e transformados em fontes de força e unidade.
Este artigo foi originalmente publicado na Jacobin e traduzido com autorização do autor e do editor.
Carolina Flores é filósofa e professora auxiliar de filosofia na Universidade da Califórnia, Santa Cruz. Investiga e escreve sobre conhecimento e ignorância, crença e mudanças de opinião, estilos de pensamento, identidades sociais e como moldam as nossas perspetivas, delírios e (ir)racionalidade. É mestre em matemática e filosofia pela Universidade de Oxford e doutorada em filosofia com uma pós-graduação em ciência cognitiva pela Universidade de Rutgers. Divide o seu tempo entre Lisboa e basicamente-Silicon-Valley, enquanto encontra forma de abandonar definitivamente o coração do império.
Ver todos os artigosApoia a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.
Outros artigos de que podes gostar: