
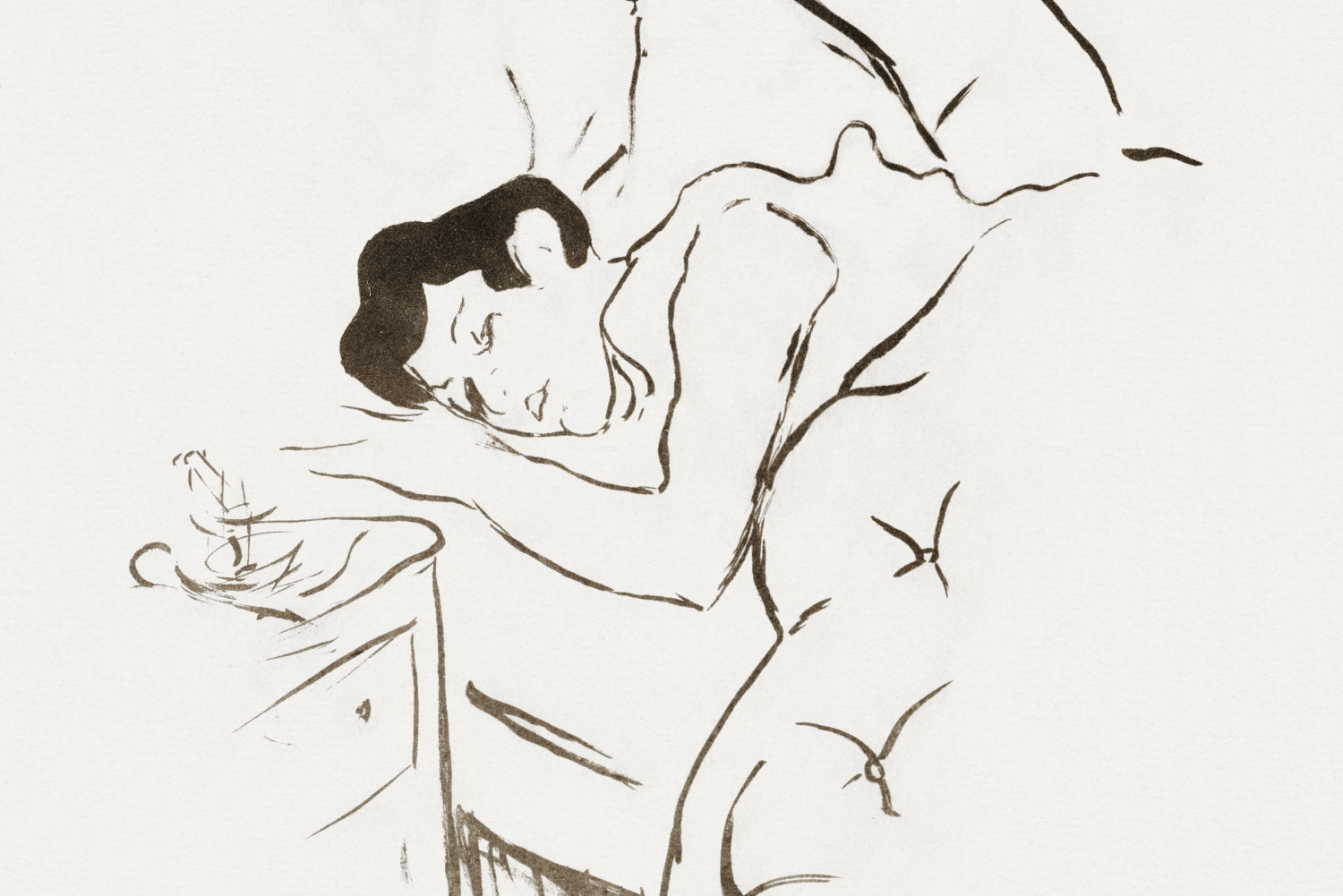
Chego de emergência a Lisboa, depois de esvaziar um apartamento em dois dias e voar dezasseis horas a partir de São Francisco. Tenho vinte e nove anos vividos em precocidade mimada, entre a inutilidade pretensiosa de um doutoramento em filosofia e uma adolescência tardia em festas queer. E agora estou num hospital, com a M., a minha namorada, à espera da sua histeroscopia. Oscilo entre ver a pessoa com quem vou de festa em excesso sensorial absurdo, e uma senhora grisalha com rugas recém-adquiridas à volta dos olhos apreensivos, vestida com uma bata azul de hospital, a entrar de cadeira de rodas para um bloco operatório.
Vejo-a horas depois, por volta da uma da manhã, quando a trazem ao quarto do hospital.
Descubro, ao vê-la entrar, que tinha imaginado que a sua cara se iluminaria ao encontrar-me à sua espera. Em vez disso, vem em choque e com raiva por ter sido deixada, por acidente, a morrer de frio no recobro, ao ponto de terem de a aquecer de emergência.
Depois reparo no saco de urina que vem pendurado ao lado da cama. Quando as enfermeiras se vão, aproximo-me, toco-lhe o cabelo, beijo-lhe a cara e os lábios. Cheira, não a si, mas ao que mais tarde venho a identificar como desinfetante, e a algo sinistro e apodrecido que imagino que seja o resultado de ter tubos gástricos enfiados pela garganta. Tenho medo de olhar para o seu corpo coberto de mantas.
Durmo quase nada, uma mistura de jet lag, ansiedade, e de despertar com o ruído intervalado das meias cirúrgicas a comprimirem-lhe as pernas. Na manhã seguinte, começo a aprender todas as coisas que um adulto saudável normalmente faz por si.
Água. Ajuda-me a levantar a cabeça para beber água. Traz-me comida. Trazes-me os meus óculos? E o meu livro? Cuidado, por favor não toques na cama ao passar. Ajusta-me a altura da cama. Assim não, com mais gentileza. Estás-me a magoar. Ajuda-me a levantar-me. Cuidado com o saco de mijo, está preso. Põe-me as pantufas. Tira-me as pantufas. Dá-me a mão. Senta-te ao meu lado, onde te veja, por favor. Podes ver se o saco de mijo está cheio. Achas que devo chamar a enfermeira?
Entram enfermeiras, fazem perguntas, trazem comida, trazem medicação, tiram-lhe cateteres do corpo, injetam-lhe coisas. Eu estou exausta. Apercebo-me que terei de fazer isto mais vezes na minha vida, de certeza, e em situações com muito piores perspetivas. Choro a pedaços, mas tento fazê-lo silenciosamente, com a cara virada contra a parede.
A noite seguinte é a pior noite. A M. quase desmaia depois de mijar: sento-a de emergência na cadeira, trago-lhe água com açúcar, carrego no botão de pedir ajuda. A enfermeira diz-nos que é normal e segue com o seu trabalho. Vejo pânico na cara da M. Enche-se de dor. Dão-lhe paracetamol na veia, não faz grande coisa. Carrego no botão de pedir ajuda. As enfermeiras estão ocupadas. A sua cara contorce-se. Começo a sentir um desespero acre a esmagar-me o peito. Desrespeito o que suponho que são as regras e saio do quarto à procura das enfermeiras. Calculo que não seja uma emergência para padrões de um hospital, mas para mim é.
Duas horas depois, dão-lhe uma dose alta de Tramadol. Fala-me com desejo do calor opiáceo que lhe chega aos braços e às pernas, mas que não chega para apagar a dor. Estou a entrar no sono quando me acorda: dói-me, achas que me dariam mais? Não sei se é ela a falar ou o Tramadol, mas mete-me medo, estou a alucinar de não dormir, não suporto vê-la sofrer. Saio de novo. As enfermeiras estão claramente a começar a perder a paciência connosco, as lésbicas histéricas da histerectomia do último quarto num piso de mulheres casadas a recuperar de cesarianas. Sinto-me ridícula com o meu cabelo curto e acne e calças de pijama com dinossauros a tocar instrumentos musicais, que trouxe de propósito para o hospital porque ela gosta de dinossauros, porque a fazem sorrir, porque me diz que sou adorável quando as visto.
Vêm, finalmente, três enfermeiras de voz delicodoce, que se aproximam da cama em conjunto e lhe sugerem (na minha memória, num uníssono terrífico) tomar um ansiolítico, que ela tinha recusado antes. Claramente, deixou de ser uma sugestão. Ela aceita. Não gosto de a ver a ser tratada assim. Gosto ainda menos que me pareça adequado, e do alívio que sinto ao pensar que talvez consiga dormir umas horas.
Engano-me. Ansiolítico ou não, ela continua acordada com dores. Levanta-se e deambula pelo quarto. Está a sofrer de algo pior do que uma dor pós-operativa, mas também muito mais ridículo: o intestino dela ainda não voltou a funcionar e está cheio de gases que lhe dão a sensação terrível que vai explodir. A enfermeira traz laxante em clister. «Mete-se pelo rabiosque!», instrui, com a alegria infantil que, no hospital, substitui qualquer precisão anatómica. De joelhos no chão da casa de banho, à frente de M., que cheira a Betadine da cicatriz no seu abdómen, a tocar-lhe no ânus e a dizer-lhe que, por favor, tente descontrair, a pedir-lhe desculpa repetidamente enquanto a sua cara se contorce de dor. Continuarei a pedir-lhe desculpa quando esta cena se repete, e quando, já em casa, me cabe pegar numa agulha e injetá-la com anticoagulante cada dia às oito da manhã, e outras vezes sem razão nenhuma.
O tempo no hospital é viscoso, coagula em recantos de dor e preocupação, estica, dobra-se sobre si mesmo em dias e noites que não se distinguem. Ela vai recuperando. Apoia-se em mim com ternura enquanto passeamos para trás e para a frente no corredor do hospital. Recebemos algumas visitas, mais para me animar a mim do que a ela. Volta a ter vontade de comer. Ganha cor na cara. Tomamos duche. Quatro dias depois saímos. As semanas seguintes são de recuperação lenta, mas constante.
“Em boa sociedade não se fala do que envolve cuidar de alguém que esteja realmente frágil. Estas situações constituem uma fronteira, um tabu, que muito ultrapassa o pudor em falar de sexo e de violência, temas que têm sempre algo de excitante.”
Não conto isto por ser um drama extraordinário. Pelo contrário, conto-o por ser perfeitamente banal: uma cirurgia de rotina, que corre bem, com final feliz. Pediu muito menos de mim do que exige cuidar de pais com demência, pessoas com doenças terminais, bebés e crianças; muito menos do que esperamos das pessoas que trabalham como cuidadoras a cada dia. Seria fácil esquecer as cenas que descrevo, calar-me, não treinar os circuitos da memória que me levam de volta a esse quarto de hospital, em novembro, à cara pálida da M., às indignidades do corpo, ao meu medo e exaustão.
Na verdade, tudo encoraja ao esquecimento. É de mau gosto partilhar isto. Em boa sociedade não se fala do que envolve cuidar de alguém que esteja realmente frágil. Estas situações constituem uma fronteira, um tabu, que muito ultrapassa o pudor em falar de sexo e de violência, temas que têm sempre algo de excitante. Falar de cuidados extremos lembra-nos coisas de que preferimos não ser lembrados: em primeira instância, que somos corpos espumosos, frágeis, dependentes, e em segunda, de que aqueles que amamos o são também. Que basta uma pequena avaria no interior dos nossos corpos — uma célula mutante que se multiplica quando não devia, uma colher de sobremesa de micro- organismos desagradáveis — para nos suspender no tempo viscoso da doença, de esperar consultas, de preparar comida e lavar roupa, da febre, da dor, de horas na cama que nunca são suficientes para descansar.
Para nos escondermos disto, não falamos. Vamos mais longe do que isso: distribuímos trabalho, traçamos teorias, inventamos palavras e construímos os espaços de cuidados em sítios remotos, para afastar do espírito o trabalho de cuidar. Desta forma, afastamos da mente não só os cuidados em situações de dependência extrema, mas também todo o trabalho banal de nos mantermos vivas e saudáveis umas às outras. Este esquecimento tem custos para todos, embora para alguns de nós — as pessoas cuidadoras, sobretudo mulheres, sobretudo pobres, sobretudo racializadas — mais do que outros.
No ano passado, num museu, vi um vídeo em que pessoas de diversas partes do mundo — China, México, EUA, Europa — diziam na sua língua: «Eu vou morrer». Algumas hesitavam antes de falar, outras punham cara austera, outras riam, muitas desviavam o olhar. Ninguém estava confortável. Assistir a este vídeo também não oferecia grande conforto.
O facto de que vamos morrer não é informação nova para ninguém. Há aqui algo de misterioso: o que torna perturbador a lembrança de algo que sabemos, se já o sabemos, se não é uma novidade?
A resposta talvez passe pela diferença entre saber algo e ter essa realidade presente. Há certos factos que sabemos sem margem para dúvidas, mas que preferimos arquivar; aliás, nos quais não pensarmos é condição para viver. Diz-se que a atitude de um filósofo deve ser «Uma vida não questionada não vale a pena ser vivida». Pelo contrário, uma vida exaustivamente questionada não é habitável. Viver em linha mais ou menos reta, trabalhar, passear com amigues, ir a festas, criticar a polémica política do dia, comer com gosto, tudo isso implica confiar: confiar no chão debaixo dos nossos pés, confiar que o dia seguinte vai ser parecido com o de hoje, confiar no ar que respiramos. Confiar, por sua vez, requer uma dependência das coisas à nossa volta — do chão, do ar, dos outros — sem questionar, sem abrir a caixa de possibilidades das surpresas cruéis.
Pensar em cuidados é abrir essa caixa. A possibilidade com que nos confrontamos não é necessariamente a morte, mas algo que pode ser pelo menos tão aterrador: a vida em dependência total dos que nos rodeiam. Ao refletir sobre cuidados, apercebemo-nos que estamos enredados em relações de dependência das quais não podemos escapar — e que podem falhar.
Dependemos de cuidados (que nos alimentem, lavem, vistam, mantenham aquecidos, nos deem atenção e carinho, nos ensinem, nos ajudem a movimentar) por inteiro na infância, na velhice e na doença, frações grandes da vida. E esta dependência organiza toda a nossa vida. Condiciona-nos a poupar dinheiro para a velhice, a escolher morada onde teremos apoio para cuidar de crianças se as planeamos ter, a adquirir seguros de saúde em países onde não existe um sistema público adequado. E a lista continua. Da mesma maneira que a mera ameaça de violência às mãos da polícia organiza toda a sociedade, condicionando o que fazemos e como nos comportamos em público, mesmo quando não sofremos diretamente essa violência, a ameaça de períodos prolongados de dependência extrema organiza os restantes dias das nossas vidas.
E estes períodos são apenas casos extremos da dependência que sempre caracteriza a vida. Dependemos sempre das enormes redes que nos fazem chegar a comida, que nos constroem as casas, que trazem até nós a roupa que vestimos. Dependemos de coisas, pessoas e processos que não compreendemos, que não temos qualquer ideia de como funcionam — como se constrói uma casa? Como funcionam os sistemas de gestão do lixo? Como se faz uma camisola?
Quando trazemos a questão dos cuidados para o meio da sala, a nossa dependência deixa de ser apenas o pano de fundo das nossas ações e transforma-se, ela própria, num objeto de atenção. A partir daí, torna-se impossível não reparar na nossa vulnerabilidade: qualquer uma das coisas e pessoas de que dependemos pode falhar e um dia falhará.
Pensar em cuidados é pensar em dependência. Pensar em dependência é pensar na nossa vulnerabilidade. É compreensível que arranjemos mecanismos de defesa que nos protejam de contactar com isto constantemente.
“As estruturas económicas e materiais que construimos invisibilizam os cuidados. As ruas e os espaços públicos, no geral, não estão construídos para facilitar a presença de pessoas com diversidades de mobilidade, crianças pequenas, velhos.”
Em parte, neste esquecimento estará em jogo um mecanismo psicológico resultante da seleção natural, ao qual alguns psicólogos e filósofos chamam o nosso «sistema imunitário psicológico». A ideia é que os nossos antepassados que passavam demasiado tempo a cismar na inevitabilidade da sua dependência se reproduziam menos e morriam primeiro (não escapavam tão rápido aos leões, imagino). Em contraste, aqueles que flutuavam numa confiança otimista na sua independência passaram os seus genes e com eles a sua constituição psicológica a maior número de descendentes. O resultado, de acordo com esta teoria, é uma constituição psicológica inata que nos protege de pensar no lado triste e duro da vida, e nos leva a andar por aí com a ideia de que somos os mais inteligentes, bonitos e ultra-independentes e que viveremos para sempre, sem doenças e sem necessitar fundamentalmente de nada nem ninguém.
Não sei até que ponto subscrevo esta história. Parece-me mais uma autoanálise de senhores de meia-idade do que uma descrição da Natureza Humana — como, aliás, tende a acontecer com as descrições da Natureza Humana.
Dito isto, aceito que a nossa constituição psicológica possa contribuir mecanismos para que não pensemos em vulnerabilidade e dependência. Mas a história não acaba aqui: não temos um mecanismo de defesa, temos todo um aparato. E este é construído coletivamente e, portanto, não é apenas uma questão da nossa psicologia inata, mas também uma questão política.
As estruturas económicas e materiais que construimos invisibilizam os cuidados. As ruas e os espaços públicos, no geral, não estão construídos para facilitar a presença de pessoas com diversidades de mobilidade, crianças pequenas, velhos. Para mais, cuidar, nas suas vertentes intensivas, acontece nos hospitais, nos lares de idosos, em casas de recuperação, em creches ou na privacidade das nossas casas, timidamente, à porta fechada; tudo caixas negras e, em bastantes casos, geograficamente remotas. Desta forma, a maioria de nós raramente tem que ver ou interagir com pessoas que precisam de cuidados para lá do que a sociedade considera o normal e nem sequer contemplamos o que não cabe dentro desse padrão de normalidade.
Além disso, muito deste trabalho é relegado a pessoas de grupos sociais silenciados. Globalmente, estima-se que dois terços do trabalho renumerado de cuidados, bem como três quartos do não renumerado, seja desempenhado por mulheres. A maioria são mulheres pobres e racializadas. Nos países ricos, a entrada das mulheres brancas de classe média e média alta no mercado de trabalho levou a transferência deste trabalho para as mulheres imigrantes, tantas vezes feitas invisíveis pela falta de documentos. Quando evitamos este trabalho e o transferimos a pessoas a quem retiramos a voz, escondemos os cuidados.
É um ponto feminista já gasto que o trabalho feminizado — em primeira instância, o trabalho de cuidar — é desconsiderado, muitas vezes não sendo sequer visto como trabalho: não entra nas contas feitas por economistas para o PIB; na perspetiva desta disciplina masculinizada, não produz riqueza, não tem valor. Em vez disso, é encarado como uma erupção inevitável da suposta natureza maternal das mulheres.
Entramos assim numa vasta trama de estereótipos de género que nos dão permissão para não escutar. Da suposta natureza cuidadora das mulheres emana um excesso de emoção em detrimento da racionalidade, de onde deriva que a sua perspetiva não merece lugar público. Juntem-se a estes estereótipos raciais e sobre pessoas pobres — numa ironia cruel, vistas como mais dependentes apesar de fazerem a vasta maioria do trabalho de gestão da dependência dos outros — e temos uma rede perfeita de silenciamento de quem poderia prestar testemunho sobre a nossa vulnerabilidade partilhada.
Este silenciamento perdura também no conhecimento produzido na academia. Com exceção a estudos feministas, as teorias da economia e da sociedade abandonam os cuidados para um parágrafo de descargo de consciência. Os motores do mundo, dizem, são o poder, o capital, a acumulação de bens, o sexo, as drogas, a informação: coisas com o glamour de um automóvel caro, coisas que cheiram a gasóleo e couro. São estas, dizem-nos, as coisas que dão forma às nossas vidas, às instituições políticas que temos, a economia, aos nossos corpos e subjetividades.
A nossa necessidade de cuidados é tanto motor do mundo como qualquer um desses fatores. Quando nos focamos na nossa vulnerabilidade e na necessidade de cuidados sempre à espreita, sexo, drogas, poder e acumulação material emergem mais como uma tecnologia de gestão do terror causado pela nossa dependência, do que como motores do mundo.
Claro, aqueles que escrevem teoria podem escapar a reparar em tudo isso. Nas universidades de elite, trabalhadores do sul global esvaziam diariamente (e sem se fazer notar) os caixotes do lixo do quarto aos jovenzinhos de dezoito anos que virão um dia a escrever teoria. Podem escrever, de resto, porque há sempre alguém que lhes esvazia o caixote do lixo sem repararem.
A alta teoria, o funcionamento da economia e do trabalho, as normas sociais de comunicação e de privacidade, a nossa ansiedade existencial: tudo nos ajuda a ocultar o regime dos cuidados. Recentemente, juntaram-se ideologias com sabor a capitalismo tardio, que nos constroem como um novo tipo de ser humano, independente, empreendedor e infinitamente resiliente, que não necessita nem procura dar cuidados.
Na vanguarda, os ultra-ricos investem em tecnologia que permita ultrapassar todos os limites do corpo. Os senhores do mundo tinham por hábito procurar a imortalidade pagando para gravar os seus nomes em igrejas, museus, ou cátedras de universidades. Agora, Bezos, Thiel e companhia, tentam imortalizar-se em sentido literal. Investem fortunas em investigação médica que procure curar, não doenças específicas, mas o envelhecimento em si. Pagam, entretanto, para que congelem os seus cérebros caso venham a morrer antes dessa nova medicina, na esperança messiânica de um futuro no qual poderão escapar inteiramente à tirania de um corpo atraves da cópia das suas ligações sinápticas em super-computadores.
Enquanto os ultra-ricos procuram superar, de uma vez por todas, as indignidades do envelhecimento e o terror da dependência, uma vasta indústria vende a mortais mais comuns a ideia que os cuidados podem e devem ser transformados em auto-cuidado — com o intuito, claro, de nos vender uma vasta gama de produtos que facilitem a nossa ilusão de não necessitar de ninguém.
Nesta visão do mundo, todos somos acima de tudo indivíduos, navegando o mundo em bolhas invisíveis, com limites bem definidos em que as necessidades dos outros não nos devem ser impingidas. Viver bem é proteger essa esfera, explicar aos outros os nossos limites, não tocar nos limites dos outros e afastar-se da toxicidade dos que não tem uma bolha bem isolada, evitando o pecado mortal da codependência, de nos ligarmos, da perspectiva do observador que usa este termo, demasiado a qualquer um outro.
Em vez de procurarmos cuidar uns dos outros, a prioridade é cuidarmos de nos próprios. E “cuidado”, aqui, deixa de ser o trabalho de nos mantermos vivos e saudáveis, para passar a ser o trabalho de nos polirmos como a uma jarra de metal: com cremes para nos mantermos hidratadas e sem rugas, comprimidos para aplacar a ansiedade, mantas pesadas que nos dão a impressão de ser abraçadas enquanto dormimos, ou baralhos de tarô para remover a incerteza do horizonte.
“As fantasias que usamos para ocultar a dependência funcionam também como ideais políticos que estruturam as nossas sociedades, cidades, espaços públicos, instituições, mercados de trabalho. “
Não recomendo, ao reparar em tudo isto, cismar obsessivamente na nossa dependência. Pelo contrário, vamos continuar a necessitar de fantasias que nos permitam evitar cismar, fantasias que nos deixem confiar nas redes de dependência a que pertencemos sem questionar, fantasias que nos mantenham fora do tempo viscoso dos hospitais e tornem a realidade sólida.
O problema é que as fantasias que temos não são grande coisa. As fantasias que usamos para ocultar a dependência funcionam também como ideais políticos que estruturam as nossas sociedades, cidades, espaços públicos, instituições, mercados de trabalho. E, aí, pagamos um preço desproporcional para a paz de esquecer a dependência.
Esse preço inclui toda a desigualdade e injustiça que sustentam a indústria global dos cuidados. Inclui ainda o futuro para o qual caminhamos. A ideia que necessitar de cuidados ou ter de cuidar é uma patologia ou pelo menos um sinal de fraqueza leva-nos a pensar a sociedade como um sítio para os que têm corpos saudáveis e onde não há ninguém dependente. Mas a sociedade ideal não pode ser só para pessoas saudáveis, produtivas, que prescindem da responsabilidade de cuidar — ou seja, só para o sujeito neoliberal perfeito. A sociedade ideal tem que ser habitável por pessoas de carne e osso, não para heróis que não existem.
E há, também, os custos desta ignorância a que nenhum de nós pode escapar: o custo de nos tornarmos desconhecidas de nós próprias, sem ferramentas para lidar com a nossa interdependência, descapacitadas para cuidar ou encarar vulnerabilidade.
Num dos dias em que estive com a M. no hospital, a minha irmã, que é médica, trouxe-me o almoço. Encontrou-me triste, exausta, ansiosa. À saída, disse-me, sem rodeios, que eu não tinha noção nenhuma, que não tinha sabido gerir expectativas. Tinha razão. Não creio que eu seja a única: o delírio de esquecimento é coletivo. Mais cedo ou mais tarde, tu também estarás (talvez de novo, talvez pela primeira vez) num hospital, sem poder fingir independência e sem poder usar nenhum truque da caixa de autocuidados para te salvar do trabalho de cuidar de outra pessoa.
Carolina Flores é filósofa e professora auxiliar de filosofia na Universidade da Califórnia, Santa Cruz. Investiga e escreve sobre conhecimento e ignorância, crença e mudanças de opinião, estilos de pensamento, identidades sociais e como moldam as nossas perspetivas, delírios e (ir)racionalidade. É mestre em matemática e filosofia pela Universidade de Oxford e doutorada em filosofia com uma pós-graduação em ciência cognitiva pela Universidade de Rutgers. Divide o seu tempo entre Lisboa e basicamente-Silicon-Valley, enquanto encontra forma de abandonar definitivamente o coração do império.
Ver todos os artigosApoia a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.
Outros artigos de que podes gostar:



