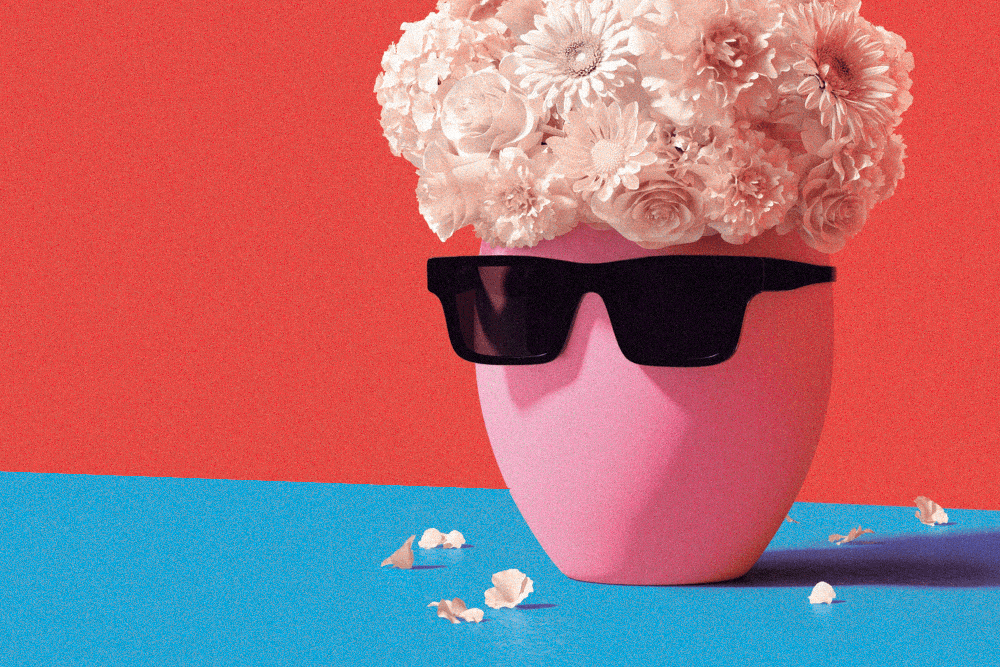Quinta-Feira Santa. Pela janela entra a luz de um sol radiante. Mas eu não sei o que fazer com o dia que tenho por diante. É divertido ou interessante escrever sobre um dia de tédio e aborrecimento? Receio esses dias.
Acabei de ver a série de Ryan Murphy sobre os diários de Andy Warhol. Já me faltava muito pouco. É raro ver séries de manhã, mas hoje é um dia especial.
Quando Warhol veio a Madrid, fui convidado para todas as festas que se organizaram em sua honra. Estávamos em 1983 e ele veio promover a sua exposição de pistolas, crucifixos e facas. Apresentaram-nos repetidamente em cada uma das festas e ele não me dirigiu uma única palavra, a sua forma de reagir era tirar alguma fotografia com uma pequena máquina que trazia constantemente na mão. Os que me apresentavam diziam sempre o mesmo: Este (referindo-se a mim) é o Warhol espanhol. Na quinta vez que lho disseram, perguntou-me porque me chamavam o Warhol espanhol e eu, bastante envergonhado, disse: «Suponho que será por aparecerem travestis e transexuais nos meus filmes.» Encontro embaraçoso. Ele veio a Espanha basicamente para que os milionários, as pessoas que aparecem na revista Hola, lhe encomendassem algum retrato; as festas eram em casas de queques milionários, de nobres e de banqueiros, mas ninguém lhe encomendou nada. Eu ter-lhe-ia encomendado um retrato, mas nesses anos não tinha dinheiro suficiente.
Gostei muito de todas as imagens que, na série, falavam da sua relação com Basquiat; entre eles houve uma verdadeira história de amor sem sexo. É evidente a adoração e o respeito que Basquiat sentia por Warhol, que, a dada altura, se torna seu mentor. Quando decidiram pintar juntos, fizeram uns duzentos quadros, vi-os numa exposição em Paris e adorei-os. O próprio Warhol afirma que Basquiat é melhor pintor do que ele. E eu concordo.
Também me interessa o momento em que a obra conjunta é apresentada em Nova lorque, um evento capital no mundo da arte, que a crítica recebeu sem grande interesse e de forma pouco favorável. Acabou por dizer que Basquiat era o animal de estimação de Warhol. Já ninguém duvida da sua qualidade, mas acho que a crítica nova-iorquina da altura foi mesquinha e cruel. E que provavelmente lhes azedou a experiência extraordinária de pintarem juntos.
Surpreende-me que ambos os artistas fossem tão sensíveis ao que se escrevia acerca deles, achava que estavam muito acima disso.
Surpreendem-me as referências contínuas à homossexualidade de Warhol e do seu meio, surpreende-me que mais de um crítico ou especialista fale da ânsia de Warhol em ser aceite como artista gay e da máscara que acabou por construir conscienciosamente (e com muito talento também) para deixar em casa a pessoa que realmente era e mostrar-se só como a personagem quase grotesca, criada à vista de todos. Sem enganar ninguém. Compreendo que isso possa tê-lo divertido por uns tempos, que só quisesse partilhar com o resto do mundo o seu avatar mais banal, mas passar a vida assim?
Eu pensava que, vivendo ele na cidade menos preconceituosa do mundo, num ambiente artístico de vanguarda, ninguém se lembraria de pensar se Warhol era gay ou não. Também nunca assumiu o segundo grande amor da sua vida, um executivo da Paramount. Bom, pensando bem e tratando-se de meados da década de 1980, suponho que alguém manifestar livremente a sua homossexualidade era como dizer que trazia uma bomba nas calças que podia explodir a qualquer momento.
Imagino que enquanto rodavam Heat, Flesh ou Trash (Paul Morrissey à sombra de Warhol) ou nos primeiros filmes do próprio Warhol, Sleep, Lonesome Cowboys, Chelsea Girls ou Women in Revolt, ninguém pensava nesse assunto. Pobre de mim, tão ingénuo! Ao ver a obra e a vida de Warhol ou de Basquiat, não me passava pela cabeça pensar na sua sexualidade ou na cor da pele de Basquiat, mas, segundo o documentário, muita gente estava pendente desses pormenores.
–
Reconheço que, quando saíram, comprei os diários de Warhol e comecei a lê-los, mas não passei das primeiras páginas. Tudo o que mencionava, pelo menos no início, eram os trajetos de táxi e o valor exato que tinha pagado. Não tive paciência para continuar.
Esta é a primeira vez que escrevo sobre o «agora», ou seja, que tento escrever um diário sobre o momento que vivo (bom, às vezes tomo notas nas minhas viagens de promoção; quando a minha mãe morreu, também queria recordar como me sentia na manhã seguinte, queria recordá-lo com todos os pormenores). Geralmente, aborrece-me escrever sobre mim, mas atrai-me a leitura dos escritores ou artistas que falam de si próprios. Nesse sentido, acho curioso os Diários de Andy não terem sido escritos por ele e que, em vez disso, todas as manhãs, assim que acordava, telefonasse para Pat Hackett e lhe contasse por telefone tudo o que tinha feito no dia anterior (e o preço de cada coisa: creio que a sua obra literária consiste nisso, em anotar o preço de tudo o que fazia, nem que fosse um simples percurso de táxi). Se queremos fazer um registo completo da nossa vida, incluindo os mais pequenos pormenores, julgo que o prazer reside em sermos nós próprios a extraí-los, a recordá-los e a dar-lhes forma à base de palavras. Creio que é esse o jogo de refletir ou de nos sentirmos refletidos na página como se esta fosse um espelho. Interrogo-me se ele terá chegado a ler os Diários depois de publicados. Receio que não. Não o vejo a ler, mesmo tratando-se da sua vida, um calhamaço com quase mil páginas.
–
Cheguei a essa Nova lorque cinco anos atrasado e em plena transmissão do vírus. As pessoas conviviam com a pandemia que tinha levado os artistas mais importantes dessa época e dessa cidade. Estreava Ata-me!, depois do êxito enorme de Mulheres à Beira de Um Ataque de Nervos.
Nova Iorque é uma cidade em reinvenção contínua, que sabe renascer das suas tragédias. Perdi as noites loucas do Estúdio 54, mas nesse ano de 1990 a noite nova-iorquina não perdera a sua loucura, glamour ou atração. Nascia outra época, mas Nova lorque continuava a ser Nova Iorque. As festas e os eventos mais importantes estavam a cargo das drag queens, com RuPaul e Lady Bunny à cabeça. Em muito pouco tempo tornaram-se as rainhas da noite nova-iorquina, juntamente com Susanne Bartsch, que, embora mulher, era mais uma drag. Todas elas souberam dar vida e alegria a uma cidade devastada pela dor e pela perda.
Recordo que mandei fazer em Espanha uns vestidos de cigana com que vesti RuPaul e Lady Bunny, as anfitrias da estreia de Ata-me! na cidade. Acompanhadas por Lisa Minnelli, que acedeu a cantar «New York, New York» enquanto descia as escadas de metal da recentemente inaugurada discoteca The Factory, uma antiga fábrica de eletricidade. No trajeto até às escadas, deu-me o braço e reparei que tremia (acabava de sair de uma reabilitação e ainda estava frágil). Disse-me: «Diz-me o que queres que faça, sou filha de realizador, sabes…»
A vida continuava e havia novas formas de celebração que compensavam não ter chegado dez anos antes. Foi a altura em que as houses davam os seus impressionantes balls nas discotecas da moda. Pude ver como se forjou o voguing desde o seu início. Antes do documentário Paris Is Burning e do «Vogue» de Madonna e três décadas antes da série Pose.
–
Quero referir antes que me esqueça, especialmente agora que estou a falar do rei do pop, o exemplo máximo de arte pop que vi ultimamente. Estava a fazer zapping quando, de repente, aparece num programa um tatuador que desenhou a bofetada de Will Smith a Chris Rock. Mostram o desenho sem volumes, linear, mas muito preciso. Também mostram a perna do primeiro cliente que o tatuou.
Escrever como estou a fazer agora recorda-me um livro que li no último voo para Los Angeles (para assistir à cerimónia dos Oscares), de Leïla Simani, autora de quem já tinha adorado Canção Doce (Prémio Goncourt 2016). Procuro-o e volto a folheá-lo. Intitula-se O Perfume das Flores à Noite. Dá a impressão de que é um livro que ela escreve porque impôs a si mesma escrevê-lo, um livro que começa por falar da sua necessidade de reclusão para poder concentrar-se na escrita. Segundo ela própria confessa, «A reclusão parece-me ser então a condição necessária para que a Vida aconteça. Como se, afastando-me do ruído do mundo, protegendo-me, um outro mundo possível conseguisse por fim emergir». Imagino-a sozinha no lugar onde escreve, sem atender o telefone, recusando qualquer ligação com o exterior, diante do computador, à espera de que alguma ideia a agarre ou começando a escrever justamente sobre essa tensão: o vazio dos dias estéreis. O seu vazio, se se pode chamar assim, é diferente do meu.
Eu cheguei a esta situação de isolamento quase total por não responder aos outros, por não ter trabalhado verdadeiras relações de amizade ou por desatender as que tinha. A minha solidão é o resultado de não me ter preocupado com ninguém a não ser comigo. E, pouco a pouco, as pessoas vão desaparecendo. Em dias como os de hoje, a minha solidão é um peso enorme, não interessa que já esteja habituado, que seja um solitário especialista. Não gosto e, muitas vezes, causa-me angústia. Por isso, tenho de estar sempre envolvido no processo de criação de um filme, mas, embora isso aconteça neste momento com três projetos em vista, há sempre feriados, a maldita Semana Santa, durante a qual a minha atividade pára, porque as pessoas do meu escritório não trabalham e os poucos amigos e o meu irmão saem de Madrid.
*
Venço o meu tédio, visto-me e vou à rua. Madrid está vazia, exceto o passeio frente ao local onde vivo e vagueio, o Paseo de Pintor Rosales, onde se vê muita gente nas esplanadas ou a passear, famílias com crianças, sentados num banco um casal de namorados ou de recém-casados latino-americanos, muito baixinhos, que observam esperançosos as pessoas que passam; também me cruzo com um casal de lésbicas, quase idênticas no seu modo neutro de vestir, nos cabelos masculinos casuais, e também muito baixinhas. São mais velhas. Gostava de saber mais acerca delas, alegra-me uma ter encontrado a outra. Impressiona-me sempre o silêncio dos casais.
Caminho meia hora, 3426 passos, 2,57 quilómetros. Devia ir mais depressa mas não sou capaz, é só meia hora de passeio obrigatório, mas com dor, sobretudo na zona lombar, devido à operação à coluna.
–
«Para escrever, é preciso dizer não aos outros, recusar a nossa presença, a nossa ternura, desiludir os nossos filhos e amigos. Nesta disciplina, descubro tanto um motivo de satisfação, ou mesmo de felicidade, como a causa da minha melancolia», diz Slimani no seu livro. Não concordo com ela, ou não completamente. Eu levei à letra este parágrafo e não me provocou nenhuma felicidade ou satisfação, mas sim muita melancolia. É desagradável, pelo menos para mim, saber que sou mesquinho na utilização do meu tempo, mesmo que o trabalho de escrever e de realizar filmes seja daqueles que nos absorvem totalmente; talvez Leïla Slimani tenha razão e o seu trabalho e o meu exijam muitas horas de clausura, mas eu sinto muita falta do contacto com a vida dos outros e é difícil voltar ao que era antes, quando era um ser social e fazia uma vida mais coletiva, porque com a idade nem tudo nos serve, não basta conhecer pessoas. Pegar no telefone e ligar indiscriminadamente aos amigos do costume nem sempre é um estímulo. E creio que isto é muito negativo, especialmente para alguém como eu, que se alimentou muito do que o rodeava para escrever os guiões: da mãe, da infância, dos anos de colégio com os padres, da juventude madrilena, das dezenas de amigos que frequentava na época da movida, das conversas ouvidas, da extravagância de algumas amizades, também da dor, provocada pelas relações pessoais mais íntimas. Se de alguma coisa tinha a certeza, era que nunca me aborreceria. Agora aborreço-me. E isso é uma espécie de derrota.
Continuo com Slimani e com este livro que me apaixona, O Perfume das Flores à Noite; servir-me-á de guia e de pretexto, como foi para ela um convite que a sua editora lhe fez de passar uma noite inteira fechada num museu. O projeto chamava-se Ma nuit au musée e, concretamente, o que propõe a editora é dormir em Punta della Dogana, edifício mítico de Veneza, antiga alfândega transformada em museu de arte contemporânea, e escrever alguma coisa a esse respeito.
A própria autora reconhece que não tem muito que dizer sobre arte contemporânea, que não lhe interessa o suficiente, mas o que acaba por a convencer é a perspetiva de estar trancada e por isso aceita a proposta. No livro, como eu neste momento, mas com muito mais talento e coisas melhores que contar, Slimani deixa-se levar pelas obras expostas só para si, às vezes sem as compreender, mas que ativam um mecanismo interior que a leva à sua infância em Rabat, ao verdadeiro significado da escrita, ao seu pai e às duas culturas a que pertence, Marrocos e França, sem se sentir totalmente francesa ou marroquina, como se estivesse sentada na junção de duas cadeiras unidas com um glúteo em cada uma.
Também fala de Notre-Dame em chamas e do suicídio das cidades, como Veneza, para onde teve de se deslocar de modo a passar uma noite fechada num museu. Impressiona-me quando diz que a catedral de Notre-Dame se suicidou ardendo, esgotada, depois de a transformarem num objetivo turístico de consumo obrigatório.
«Estar sozinha num lugar donde não poderia sair e onde ninguém poderia entrar. Uma fantasia de romancista, sem dúvida. Todos nós sonhamos com a clausura, com um quarto só seu, onde seríamos a um tempo os presos e os carcereiros.» A simples ideia aterroriza-me. Talvez porque não sou romancista ou simplesmente porque sofro de extrema claustrofobia. O livro é interessantíssimo e li-o de uma assentada. Todas as páginas estão sublinhadas, mas como já disse não concordo com muitas das ideias que a autora expressa. E sinto um estranho prazer em que assim seja.
A dada altura, ela diz que devemos aceitar a nossa sina, seja boa ou má. Eu recuso-me a aceitá-la e esforço-me por melhorá-la, mesmo que o isolamento e a imobilidade não sejam a melhor maneira de melhorar o que quer que seja. Mas uma pessoa vive em paz com as suas contradições. A essas sim, aceito-as.
Para os muçulmanos, continua Slimani a dizer, a vida na Terra é só vaidade, não somos nada e vivemos à mercê de Deus. Palavras duras para um ateu como eu. Não aceito, como ela diz, que a presença do homem neste mundo seja efémera e que ele não deve agarrar-se a ela. Que a nossa existência é efémera é indiscutível, mas é a única coisa a que podemos agarra-nos. Instintivamente, procuramos um motivo e uma explicação, somos seres pensantes.
Os homens, diz Simani, têm dificuldade em aceitar a crueldade do destino. Neste caso, acho que está a falar de mim.
Mesmo que a escrita de um romance ou de um guião exija inevitavelmente muito tempo de concentração e de solidão, nem sempre esse fluxo (que sentimos quando já estamos instalados na história que queremos contar) se verifica diante do computador. A mim ajuda-me muito mover-me. Passear, por exemplo. Se suspendo a escrita para ir passear, a minha mente continua a escrever durante o passeio. De facto, num momento de invulgar descaramento da minha parte, estava a passear quando alguém se aproximou de mim para me dizer alguma coisa e eu desculpei-me dizendo: desculpe, mas estou a escrever. E era verdade, mesmo que parecesse uma boutade; durante as caminhadas, ocorrem-me novas ideias para desenvolver a história que estou a escrever. Também me acontece nos trajetos de carro. E, evidentemente, nas longas viagens de avião. O facto de desaparecerem as referências ao tempo e ao espaço aumenta a minha capacidade de concentração. Tudo o que leio me nutre e me inspira. Muitos argumentos dos meus filmes ou novas ideias que quebraram o bloqueio de escritor, sendo esse o caso, me ocorreram em viagens de avião, rodeado de desconhecidos a dormir.
Gosto dos escritores que falam sobre o ato de escrever e que citam constantemente frases de outros escritores; o livro de Slimani está cheio de reflexões sobre a escrita. «Não acredito que alguém escreva em busca de consolo», diz. Estou de acordo. «Pelo contrário, um escritor está doentiamente preso às suas dores, aos seus pesadelos. Nada seria mais terrível do que curar-se deles.» Não sei, não escrevemos quando estamos felizes, é verdade, nem o fazemos sobre personagens felizes; a tensão e os conflitos são como os beats na música, necessários para contar não interessa que história, fazendo com que esta tenha uma espécie de esqueleto, estrutura e ritmo.
–
Na Quinta-Feira Santa, não liguei a televisão em nenhum momento do dia, mas chega-me aos ouvidos o ruído dos tambores das procissões, o cheiro da cera a arder e os gritos enlouquecidos dos devotos (animados tanto pela fé como pelo álcool), que atiram piropos às diversas virgens nas povoações e cidades espanholas. Também oiço as bombas dos russos a destruírem as cidades ucranianas. Para eles, não há tréguas. O horror da guerra não se permite descanso, nem sequer na Semana Santa.
E, nisto, a noite caiu e eu deixo de escrever.