Será que alguma vez conseguiremos voltar para casa? É inumerável a quantidade de cineastas que têm procurado uma resposta na sua actividade artística. Talvez o mais infame continue a ser o americano Nicholas Ray que deu a resposta ao título de um dos seus filmes (realizado em conjunto com os seus alunos) We Can’t Go Home Again (1973), quando na verdade até este nos diz nos ecos, eclipses e projecções do filme que bem…não sabia. Há quem diga até que este cria uma casa no turbilhão daquele mosaico, uma casa para o cinema que perdeu o seu lar1, ainda que o filme respire mais desespero do que clarividência. Já a artista e cineasta belga Chantal Akerman parecia saber desde o início. Quando em News from Home (1977) se ouvem as palavras da sua mãe Natalia, doces e presas à passivo-agressividade do parente que não compreende o porquê da filha se ter mudado para Nova Iorque no início da década de 1970, ouve-se, claro está, um discurso pensado para ser escrito nas cartas que envia à filha, e que esta repete e contém no filme na sua própria voz. “Querida, fica bem”, e depois “Sabes que vivo para as tuas cartas”, e depois “O teu pai sonhou contigo ontem à noite. Ele estava muito perturbado, porque tu regressaste e depois já cá não estavas.” A voz de Chantal, sobreposta por imagens do espaço público dos que voltam a casa ou dos que só saem quando a noite cai, assombra a inquietação do que é saber de que se existe. Dali em diante, viveria segundo o limbo perpétuo da perda da pertença.
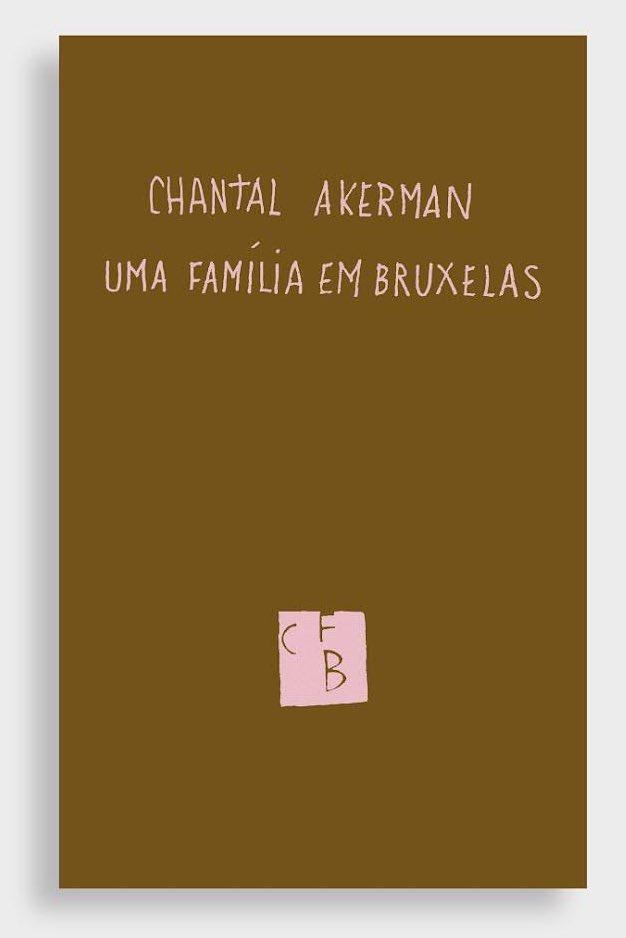
A edição portuguesa da BCF editores do seu curto e comovente livro de 1998, “Uma Família em Bruxelas”, que apareceu sorrateiramente esta primavera nas bancas das livrarias, é o perfeito trampolim para a colcha de retalhos e de linhas temporais e afectivas que a cineasta deixou para a posteridade. Ao longo de apenas 55 páginas, não há quebras ou intervalos, o uso de pontuação é mínimo e apenas são usadas vírgulas ou pontos finais, e nas frases da história, contada num fio de stream-of-consciousness sem destino, surge um monólogo livre de quaisquer preocupações literárias. Enleadas como cabelos numa escova, as palavras repetem-se segundo a magia que já Gertrude Stein tinha instilado na linguagem. Por um lado para assegurar a pungência do que foi escrito, por outro para dar ênfase à horizontalidade da palavra ou expressão repetida que quer desconstruir-se semanticamente para chegar a um outro lado. Na sua essência, o livro figura o que já os filmes de Chantal faziam com as imagens. Altera as leis da identidade das palavras.
Colocar News from Home ao lado deste livro é o início da construção da arte de um auto-retrato que aterra na “mentira” para contar a verdade. Este estende-se pelos filmes e os livros, mas também engloba as instalações e as fotografias que tirou. Já para não esquecer também que a doença bipolar que lhe extasiava o corpo, assolando-o, tratava de saber de que estava presente, e que mais presente não era possível. Aquela Nova Iorque, escondida no deleite do grão do 16mm, era um predador que seduz, e que a enganou com muito desplante. Enformado por um gesto eufórico que quer falar da dor dessa alienação citadina, o filme dá voz a todos aqueles que, tal como ela, deambulam e se debatem por baixo da luz dos candeeiros de rua sobre o que significa estar vivo. Tudo ali é estrutural, tudo é clínico e agridoce. Era assim que ela se sentia. O filme eventualmente deita-se no estado comatoso da fadiga e da insónia, através do qual o espectador é embalado até atingir o mais puro dos estados. Já aí sabia a cineasta que nunca seria possível voltar, mas isso nunca a impediu de procurar encontrar um entendimento, usando imagens, sons e palavras como matéria-prima (ou seriam provisões?) para um permanecer vigilante; uma criação de uma estrutura livre mas com paredes para aquilo que, ao contrário do que se passava com Ray, nunca teve lar. Era elevado o risco de cair demasiado dentro de si mesma.
“Uma Família em Bruxelas” lava de igual forma. É profundamente inebriante. Traduzido por Cristina Fernandes com o português popular e proverbial de tempos mais apetecíveis e cuidadosos (“…quase que se foi abaixo das canetas”), em lugar de representação das expressões do quotidiano e em nome daqueles que não sabem nomear o que a pele sente (a referência ao aquecer dos ossos é saudosa), o livro salienta antes de mais o requinte por trás das palavras diaristas e exploradoras das possibilidades do ser. Faz então perfeito sentido que as frases longas e constrangidas que delas acabam feitas tendem a escapar antes de se verem percorridas pelo olhar do leitor, tão embrulhadas que estão na confusão de quem fala e de quem responde. Mas rapidamente isso deixa de importar. A mudança abrupta (quase imperceptível) do sujeito esclarece que há uma presença disfarçada e que aqui Chantal é sempre Chantal, como se de um sonho se tratasse. Ela não é só a “filha de Ménilmontant sem marido e sem filhos” e que não sabe conduzir como é também todas as outras pessoas que descreve, como o homem que faleceu e a mulher no seu apartamento em Bruxelas, figura trágica que se encontra de luto por ele e reparte o tempo entre solilóquios e as refeições, e o esperar ao lado do telefone que mantém o vínculo familiar entre uma filha que vive em Paris e a outra que constituiu família no México. Que mulher é esta? Voltamos a Natalia.
**
Do nascimento em Bruxelas, onde veio a fazer parte de uma família de imigrantes polacos judeus, tendo a mãe sido a única sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial (o pai permaneceu escondido até ao final da guerra), ao suicídio em 2015 em Paris, o nome de Chantal Akerman passou demasiado tempo a ser segredado por críticos, académicos e cinéfilos. Era como uma receita secreta para o atenuar de uma qualquer crise identitária. Ninguém o diria agora, que a simples menção da cineasta recorda o fenómeno divisivo que foi a sondagem dos críticos na revista britânica Sight & Sound em 20222, já para não falar também do impulsionar de categorizações que a própria rejeitava (termos como ‘feminista’ ou ‘lésbica’ ou ‘mulher realizadora’; preferia ‘filha’). O seu trabalho foi em tempos acertadamente descrito pela escritora Corinne Rondeau como “une nuit qui tombe peu à peu”3 com excepção de No Home Movie (2015), a representação da noite caída. Se existe uma noite destas no que a Chantal diz respeito, está presente na relação umbilical e conflituosa entre ela e a mãe e o espaço maternal que era a casa que viu Natalia morrer na capital belga. Em resposta a uma questão no Centre Pompidou em Junho 2011, Chantal terá dito: “(…) the only subject of my films is my mother.”4 A mãe era Jeanne Dielman e Anna, a mãe também estava em Nova Iorque, nos retratos de donas de casa de meia-idade pela Europa do Leste fora, e no deserto através do ecrã de um computador. Em “Uma Família em Bruxelas”, esta dá-lhe mais uma vez voz, mas agora sem as cartas pelas quais se guia e sem os seus movimentos na cozinha. Torna-se Natalia. A mãe estava sempre dentro dela.
Posto isto, não ajuda saber que se herdou a ferida dos gritos dos campos quando se vive no silêncio deles. Chantal bem lhe perguntava por descrições, sensações do terror passado. Queria compreender como é que alguém se sustenta na folha branca dos dias após tanto sofrimento (“não consigo impedir-me de pensar como teria sido a vida se tudo aquilo não tivesse acontecido”). Precisava de encontrar a mãe para se encontrar a ela mesma, mas o silêncio era impenetrável. Mesmo em No Home Movie, filme-vela yahrzeit (vela memorial), que antecede tanto a morte de Natalia aos 86 anos como fala da morte da própria cineasta, o Holocausto só surge em conversa com uma das enfermeiras da mãe que exclama “Ah, os judeus” quando Chantal explica que a mãe “é como é” porque foi capturada quando tentou fugir da Polónia e levada para Auschwitz. A mãe estava doente. Chantal mudou-se para aquela casa com ela nos seus últimos momentos, preservou-a na câmara e escreveu o livro de memórias intimista “Ma Mère Rit” (2013), que parece encontrar na passagem sobre ser “raro as mulheres conseguirem fazer rir”5 uma qualquer ligação. Nele, Chantal tanto se prepara para a morte iminente da mãe como expõe também que planeia o suicídio após o seu desaparecimento. É também nestas páginas reforçada a frustração de Natalia da não-comunicação de Chantal, que se em 1998, nos diz na voz da mãe, “A filha não conta tudo mas ela adivinha o resto”, em 2013, temos direito à Chantal na sua voz, a que “em vez de dizer como me sentia realmente, eu disse as coisas mal”.
Juntos, todos estes elementos têm o mesmo denominador comum. O desejo ardente por um encontro com a vida tal como é, sem o esforço de a aguentar ou ter que a superar. Enquanto investigadora dos sentidos provocados pela sucessão de imagens que pretendiam simular o que acontecia a corpos de mulheres, dentro e fora de espaços que nunca começaram por ser seus, Chantal recorria ao autobiográfico, pois porque este “mentia” lá chegava à verdade num festim sensorial onde estar consciente de que se está presente é meio caminho andado para que se apodere de nós. Assim é o slow cinema, a igreja na qual se entra porque se quer voltar a sentir. E assim é “Uma Família em Bruxelas”. As terminações nervosas são activadas quando se escolhe mergulhar na experimentação (cabeça e tudo). Ainda que, tem que ser dito, a qualidade mais distintiva das suas tentativas não se agarra só à contínua procura por um lugar de pertença. Em Chantal Akerman par Chantal Akerman (1996), a cineasta olha para a câmara e diz-nos da avó maternal: “O diário dela era o único lugar para os seus pensamentos mais íntimos porque ela era uma mulher.” Ela era uma mulher. Eis a chave para o espalhar do feminismo que a cineasta não queria rotular. Tinha, e com razão, receio de que ao afunilar o trabalho, não conseguisse recuperar os espaços públicos para neles barrar a psique feminina. Chantal constrói as paredes das ruas e dos hotéis e das paisagens, e injecta neles a mulher.
**
“Uma Família em Bruxelas” traça assim o caminho que faltava conhecer na cronologia dos vestígios deixados. Em 1998 ainda não havia capitalismo emocional. Ou pelo menos não como o conhecemos agora, quando num contexto laboral a sociedade força a entrada da partilha de emoções na esfera pública, entrelaçando o económico e o emocional, dando origem à metamorfose identitária que mistura a performance com o Eu. A realidade de que Chantal abusa é dela. E quando é criada, é criada para chegar até ela, e dela rebater noutros. O livro regressa à génese de como compreendemos as coisas que sentimos e como as expomos aos outros, especialmente aos e sobre os entes queridos que nunca nos irão olhar ou conhecer como os desconhecidos que viremos a encontrar. O livro remonta, na forma como se camufla especialmente, a tempos anteriores à performance capitalista, a tempos onde a ferramenta activista mais monumental era a nudez literária que apela ao colectivo. Chantal sempre se apoiou na poesia dos rituais para provocar a mudança. O trabalho dela nunca foi movimento inerte no ecrã. É algo que acontece às pessoas. Assim sendo, através de platitudes várias e sem o envolvimento do pathos, tudo pode ser dito sem falar neste texto. Enquanto isso, e com a quietude alojada no fluxo, a emoção floresce nas palavras enroladas e no ritmo de elegia que mais se parece com um protesto. Não é sempre protesto aquilo que é colocado na língua de todos mas exprime a nossa intimidade?. Nos momentos mais difíceis, quando o pai acaba internado e Chantal tem que pedir boleia a um amigo de Paris para Bruxelas porque já não há grande esperança, é-nos dito que a comunicação entre pai e filha passa a ser feita em iídiche (a língua deles), deslocando o texto do estômago para a garganta. Torna-se impossível não o ler de uma só vez e em voz alta.
Para além dos eventos viscerais e pessoais documentados, o livro de Chantal recorda que há poucas coisas tão ternurentas como partilhar palavras com alguém. Não nos podemos esquecer que ao passo que o verbal se torna cinematográfico, o cinematográfico começa a derrubar fronteiras universais. Nesse sentido, o livro deixa de ser um livro para ser uma viagem corporal que descomprime estímulos. Respostas não são para aqui chamadas. No contacto com o leitor, é exigido que se ouçam as palavras fluir nos timbres e sotaques das suas próprias vozes, no que se parece mais com um ritual que acontece de fora para dentro do que com a exteriorização de sons e significados. Sob o efeito desse alastrar, o leitor garante a permanência da voz de todas as mulheres que já nem sequer ocupam as paredes de Chantal. Em 2023, são-nas. Mas este não o sabe logo. Os muitos momentos de clareza onde o tempo se torna dimensão interior só são atingidos durante a leitura daquele fio de frases interligadas. Antes desta acabar, Chantal volta para casa dissolvida dentro daqueles que continua a salvar com a sua partilha.
1Assim o disse o crítico de cinema francês Serge Daney num texto presente na revista Cahiers du Cinéma nº310, Abril 1980, mais recentemente publicado na antologia da editora Semiotext(e) The Cinema House and the World: The Cahiers du Cinéma Years, 1962-1981 (2022).
2 Sondagem dos Melhores Filmes da História do Cinema: https://www.bfi.org.uk/sight-and-sound/greatest-films-all-time
3 “Uma noite que cai pouco a pouco” em Chantal Akerman Passer La Nuit (2017), Éditions de l’éclat
4 Ou “O único tema dos meus filmes é a minha mãe”
5 Presente em “Uma Família em Bruxelas”




You must be logged in to post a comment.