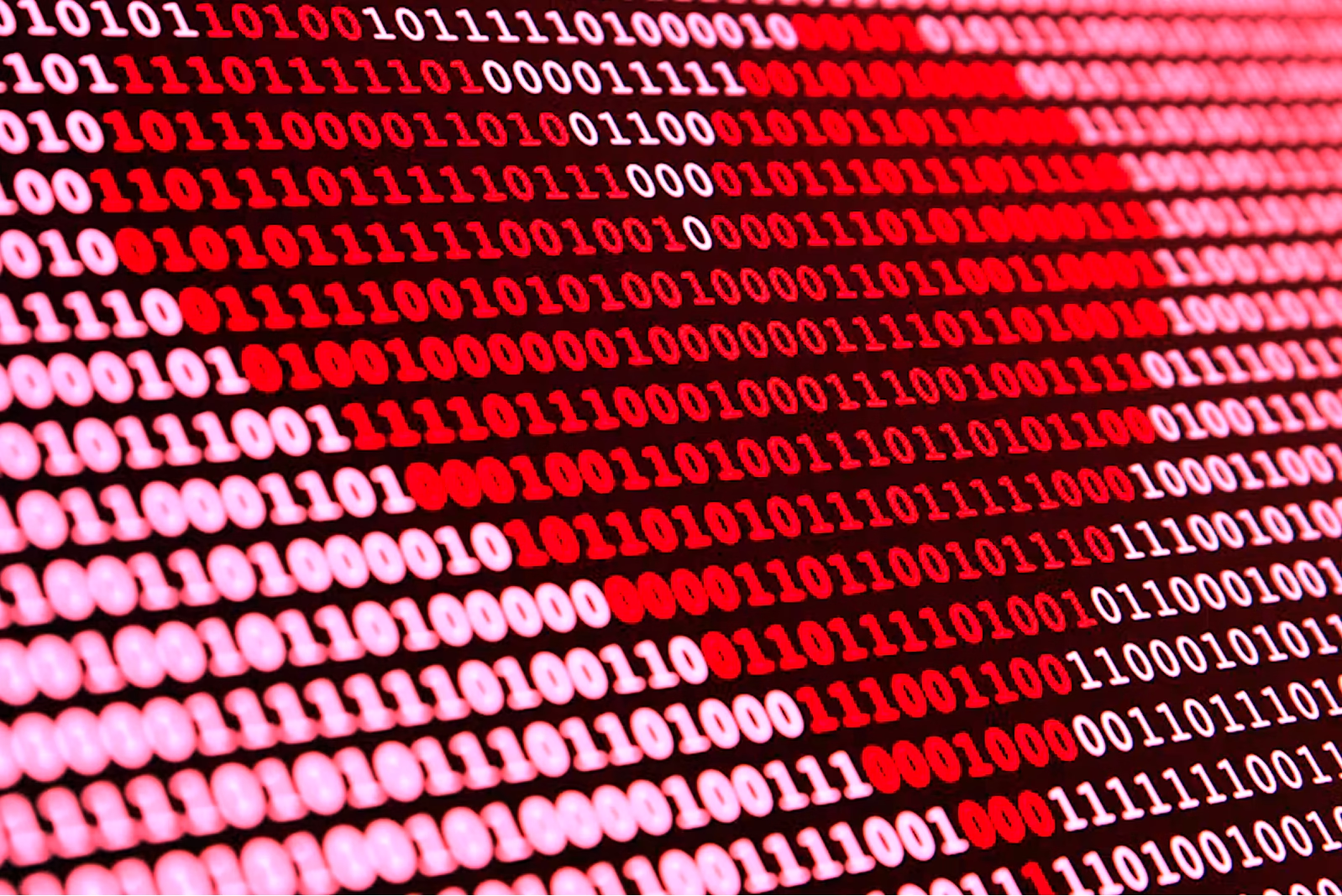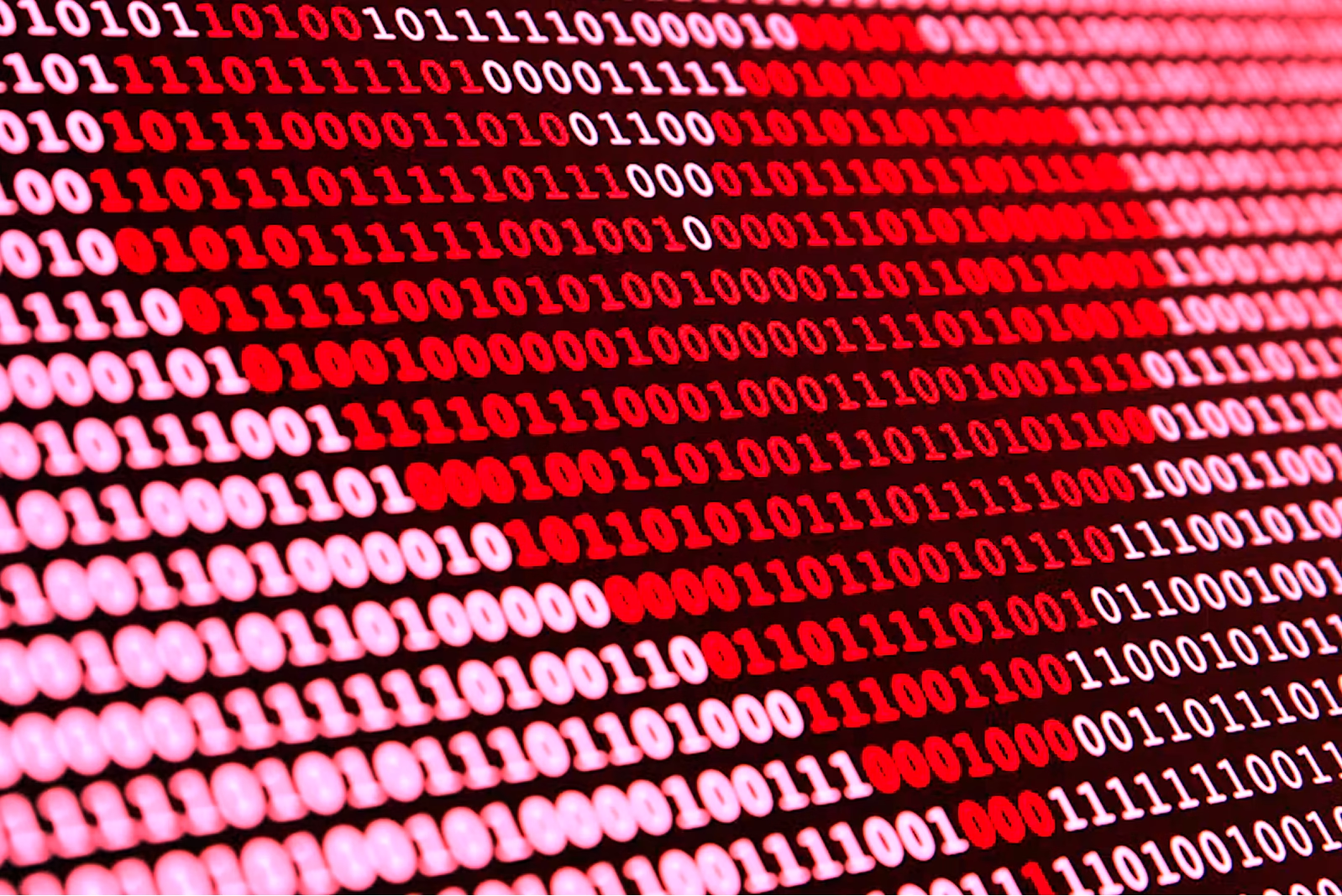
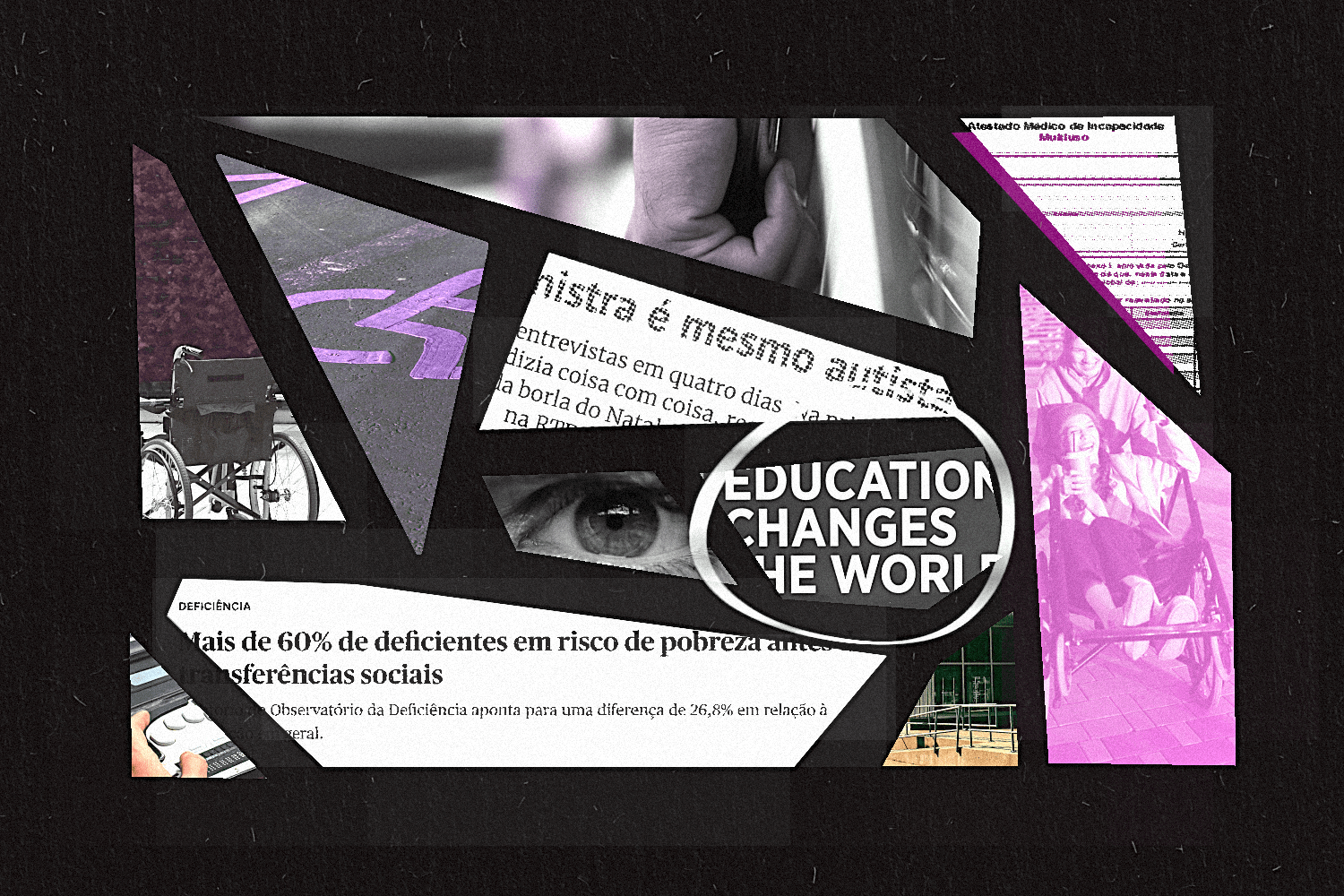
“Está ali um lugar de estacionamento para deficientes”, usei esta frase durante anos. As pessoas que me rodeavam diziam, comummente, a palavra “deficiente” para me descrever. Não consigo precisar o ano, creio ter sido em 2019, em que fui alertado: “é mais respeitoso dizer pessoa com deficiência”.
A verdade é que a palavra, utilizada dessa forma, tão crua e passível de objectificação, sempre me incomodou, só que nunca a tinha questionado. Naquele dia, compreendi sermos pessoas antes de qualquer condição. Não portamos nem sofremos deficiência, temo-la enquanto característica.
Se pedirmos ao Priberam a definição de “deficiente”, lemos: “que ou quem apresenta deformação física ou insuficiência de uma função física ou mental; que ou quem apresenta uma deficiência”. O foco circunscreve-se na falibilidade da pessoa.
Agora, quando vejo um lugar de estacionamento acessível, digo: “está ali um lugar para defs”. Tal como digo sou def. Utilizo def em ambientes informais e com pessoas da intimidade. Não me importo que essas pessoas também utilizem a expressão. Há, entre nós, um acordo silencioso sobre o seu uso – quando estamos em espaço público utilizamos “pessoa com deficiência”.
Ainda que a maturidade do uso da expressão não seja a mesma, poderíamos dizer que def vive na comunidade de pessoas com deficiência como queer na de pessoas LGBTQ+. Numa definição do Urban Dictionary, para queer lê-se: “originalmente pejorativa, a expressão é hoje reivindicada pelas pessoas gays, lésbicas, bissexuais e trans como um termo guarda-chuva de auto-afirmação. O seu uso ainda deve ser cuidado pois pode ser utilizado como insulto”.
Por tudo isto, urge repensar o léxico sobre pessoas com diversidade funcional, nos universos da deficiência física, visual, intelectual e auditiva, a par das comunidades Surda e neurodivergente. Aqui, mais do que expor dos and don’t, procuro as crenças que sustentam o nosso discurso e nos levam a infligir dor no outro ou em nós próprios. O glossário inclusivo, que publicámos na Access Lab, em Abril de 2023, está na última revista Shifter e neste link para consulta.
Hoje, aos 31 anos, compreendo que fui assimilado a maior parte da minha vida. Fui integrado, não incluído. Raramente me inibo de entrar num restaurante, sabem como entro? Ao colo. Pode ser considerada uma escolha deliberada. Também é sobrevivência. A minha escola primária tinha três degraus que subia ao colo do meu pai todas as manhãs. Quando integramos uma pessoa estamos a suprimir necessidades básicas em vez de satisfazê-las.
A emancipação de pessoas com deficiência é um estágio tão pueril quanto urgente, porque a assimilação continua a ser a força dominante. Cria a ilusão de pertença, quando, na verdade, somos órfãos dela.
O conceito de assimilado tem vindo a crescer em mim, compreendi-o noutra densidade a ler “Caderno de Memórias Coloniais”, de Isabela Figueiredo. Aprendi, aliás, que era um estatuto jurídico concedido pelos colonos a pessoas racializadas quando viviam de acordo com os seus códigos e normas. O mesmo acontece com a deficiência.
Tudo isto é fruto do nosso sistema de crenças, que se revela e propaga, em primeira instância, no discurso mediático. Vejamos títulos recentes: A ministra é mesmo autista (Jornal de Negócios); Mais de 60% de deficientes em risco de pobreza antes de transferências sociais (Público e Lusa); “Ricardo III”. Peça de Shakespeare dá destaque à linguagem gestual (RTP); Café Joyeux abre em Cascais. Emprega 12 pessoas com problemas cognitivos (NIT).
Os media são um reflexo da sociedade e dos políticos – lembremos Rui Rio no Parlamento: “se a geringonça estava coxa, hoje está sentada numa cadeira de rodas à espera que alguém a empurre, e ninguém a quer empurrar”. Eu passo os dias sentado numa cadeira de rodas, quem me empurra não faz um sacrifício. Este tipo de discurso provoca micro-agressões sobre a nossa identidade e noção de amor próprio. É uma linguagem preconceituosa que alimenta a discriminação.
O mesmo acontece nas instituições públicas e no Estado. A segurança social atribui uma pensão de invalidez e lê-se no seu site: “considera-se invalidez a situação incapacitante, de causa não profissional, que determine incapacidade para o trabalho”. Eu, e grande parte da população com deficiência, tenho um “atestado médico de incapacidade” que é o meu passaporte de direitos (seja a obtenção de produtos de apoio, como a minha cadeira de rodas, ou a assistência pessoal).
Quão violento é usar terminologia que nos define como inválidos e incapazes? Tenho 85% de incapacidade física no atestado. As minhas pernas não andam, a minha cadeira de rodas sim. Não subo escadas, subo rampas. E, quando elas existem, a deficiência desaparece. Deve impor-se uma questão: será a deficiência minha ou do espaço?
Todos estes cenários fazem parte da assimilação social endémica. Enquanto formos assimilados, somos sujeitos passivos, predestinados à dependência, caridade e subserviência. A vivermos de queixo caído e não erguido.
Enquanto pensava este texto, lia “Ensinando Comunidade: Uma Pedagogia da Esperança”, de bell hooks, onde a autora escreve: “se quisermos mudar, precisamos de estar dispostos a ensinar”. Mais do que continuar a enumerar usos terminológicos, encontrados no glossário, gostava de analisar uma última vivência que acredito ser fruto desse imaginário e do duelo entre assimilação e emancipação.
Em tempos, uma grande amiga dizia-me com afecto: “o meu maior desejo para ti é dançarmos juntos um dia, contigo de pé, sobre as tuas pernas”. Respondi-lhe com um sorriso: “vamos dançar, sim, mas eu fico sentado”. Não preciso de andar, só de qualidade de vida”. A minha resposta foi acolhida com alguma estranheza mas também com aceitação.
No fundo, estas intervenções, chegam de um lugar empático e desejo de igualdade. As pessoas sem deficiência estão numa situação de privilégio face a nós querem levar-nos para esse lugar. Mas o que é o privilégio? E que lugar é esse? A igualdade é uma utopia inatingível. Esse desejo assume-se, em última instância, na procura incessante da cura, que, gorada, resulta na assimilação. Continuar a perseguir esse caminho pode ser tão nocivo quanto um acto de colonização.
Só podemos fitar a equidade. Porque é que insistimos na normatividade, quando a história da humanidade, e, por exemplo, da eugenia nos totalitarismos, nos tem mostrado que a alteridade é o único caminho? A dignidade está nessa alteridade. Parem de medir forças connosco.
Durante anos fiquei em silêncio, de sorriso forçado, quando desejavam a minha cura. Que eu me levantasse da cadeira e começasse a andar. Hoje não fico calado. Se era bom conseguir andar? Era conveniente, mas acrescentaria pouco. Sobreviver à minha doença, e viver com deficiência, trouxe-me dor mas também concretização. Estou a tentar, contra a força asfixiante da normatividade, e da sua linguagem, não questionar aquilo que faz de mim diferente.
A cura e a assimilação são caminhos onde existe amor, é lá que muitas comunidades e famílias residem, porque não aprenderam diferente, mas esse amor é limitado. A abundância reside na aceitação e na capacidade de assumir uma natureza imperfeita. Aí o amor é ilimitado, foi nele que deixei de procurar a cura para me focar no bem-estar.
Falo-vos na assimilação contra a emancipação, na cura e na aceitação, para que sejamos agentes de mudança nas comunidades que habitamos através do nosso léxico. Porque aprendemos uns com os outros e a raíz de tudo isto está na cultura que criamos. Melhor: que co-criamos. Ela ergue-se sobre as palavras com que construímos os nossos diálogos e das histórias que contamos, a nós próprios e aos outros.


Tiago Fortuna co-fundou a Access Lab em 2022 para garantir o acesso de pessoas com deficiência e Surdas à cultura enquanto direito humano fundamental. A start-up de impacto trabalha planos 360º, que cobrem capacitação, consultoria, mediação e estudos de impacto. Antes, foi assessor de imprensa na LiveCom. Licenciou-se em Ciências da Comunicação pela FCSH-UNL, onde também se pós graduou em Comunicação de Cultura e Indústrias Criativas. Tem escrito crónicas no Expresso, ECO e Shifter sobre deficiência e cultura.
Apoia a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.
Outros artigos de que podes gostar: