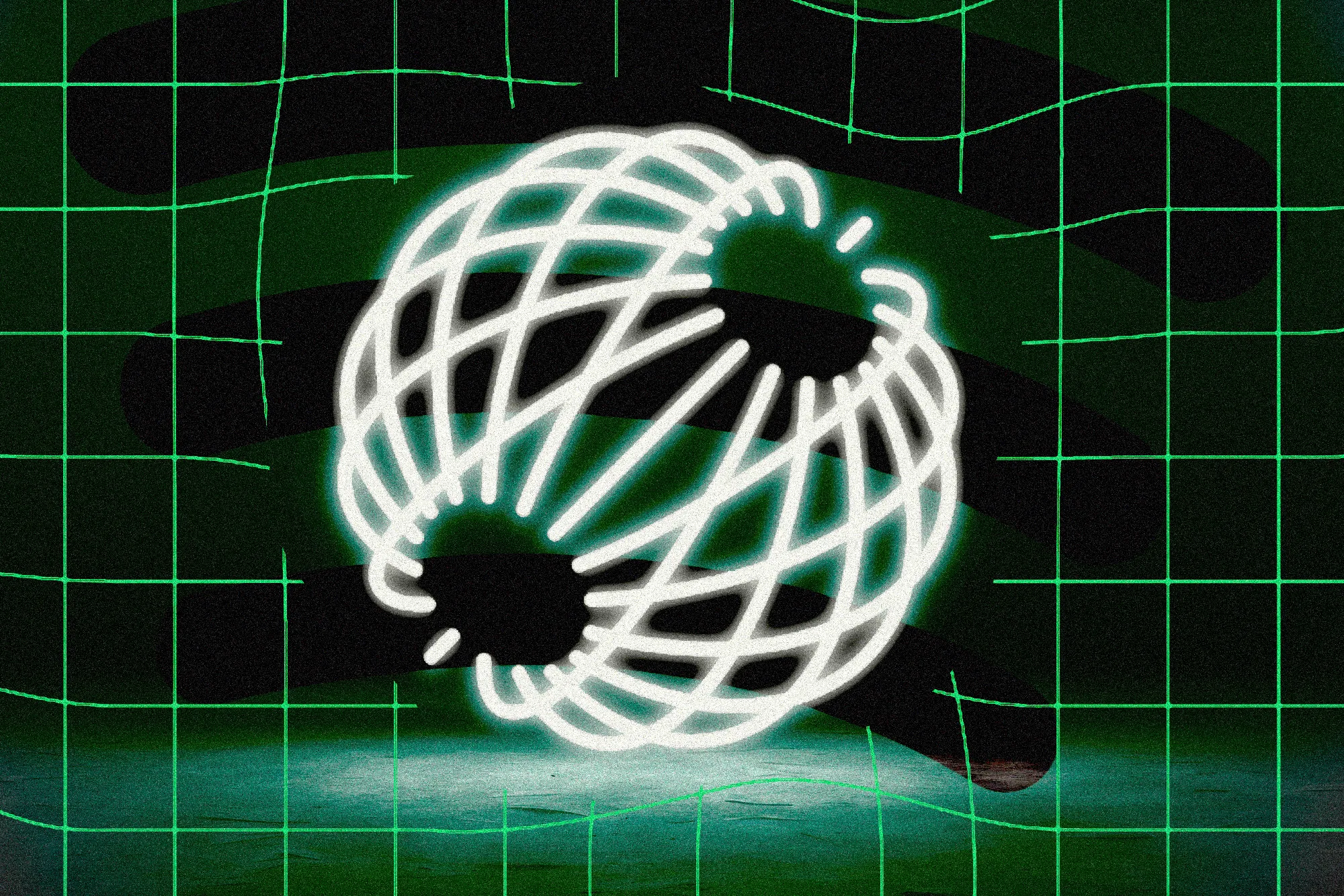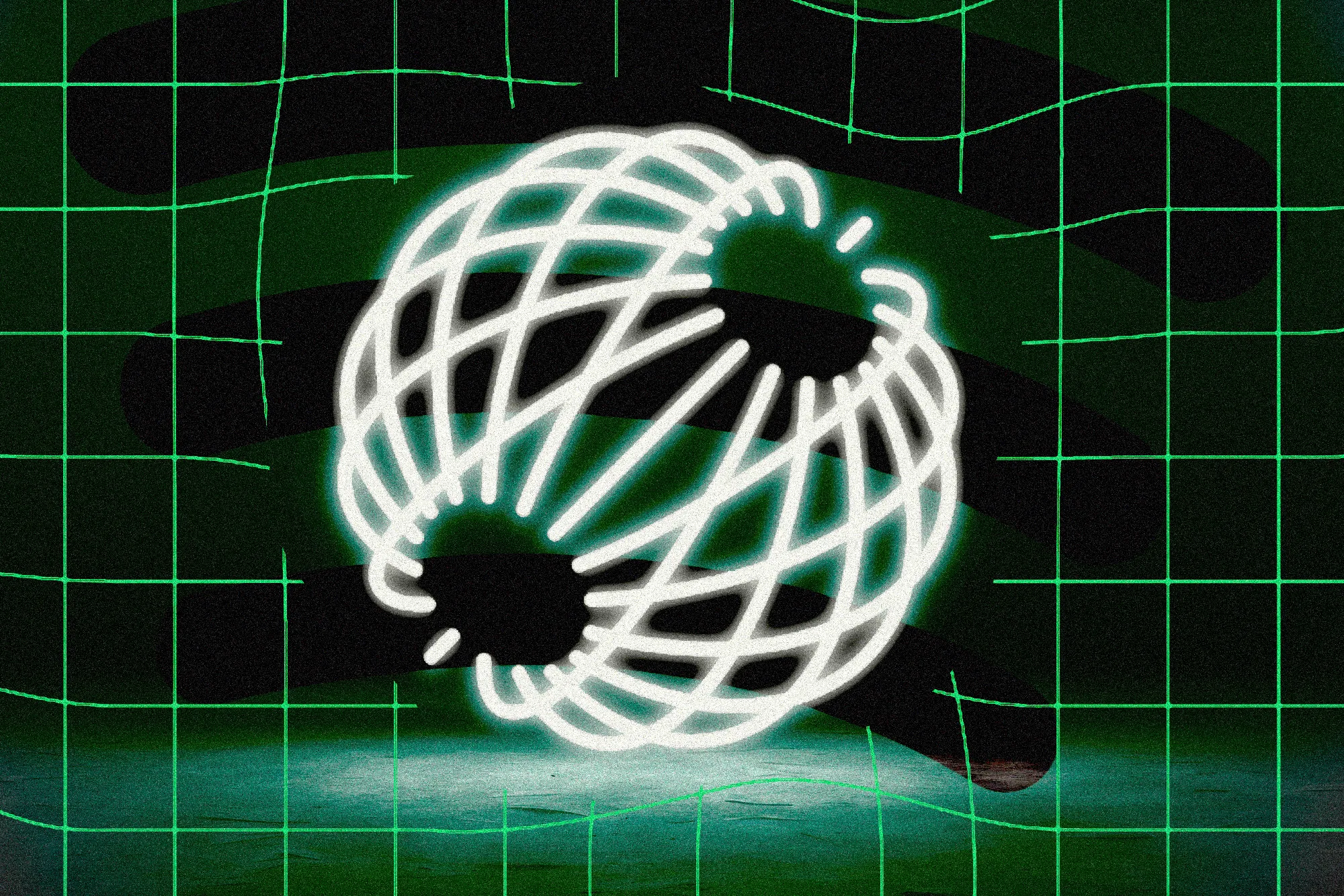

Se imaginarmos um local para organizar uma cimeira mundial sobre alterações climáticas como a COP27, Sharm el-Sheikh não é seguramente a primeira opção. A cidade é um contínuo de luxuosos, verdejantes, e invariavelmente pouco sustentáveis resorts que se estendem ao longo da península conhecida pelos jubilantes recifes de coral e pelo Monte Sinai, que sombreia o avanço do deserto sobre as ofuscantes luzes neon deste sonho capitalista. Como na religião, também no mercado parece haver locais pelos quais toda a gente compete.
No autocarro a caminho da cimeira observo os anúncios publicitários para futuros projetos megalómanos, repletos de renders de mansões, iates, pessoas brancas — e sobretudo água onde ela não existe —, que ajudam a encobrir a clara vigilância por parte do governo do Egipto e do seu líder autoritário Abdel Fattah el-Sisi. Qualquer caminho até ao recinto da COP27 é acompanhado de barreiras policiais, seguranças cujos fatos negros pontuam a paisagem desértica, e constante presença militar em todos os locais. Na chegada à cimeira, a vigilância refina-se com o rumor de que o download da app oficial poderá resultar no acesso a todas as comunicações efetuadas, inclusive por email. Opto por não o fazer.
Podemos tentar ignorar estes sintomas de uma distopia, mas o Egipto é afinal de contas prisão para mais de 60 mil presos políticos (incluindo, ironicamente, ativistas ambientais), perseguidos pelo governo como retaliação pela Primavera Árabe. Alaa Abd El Fattah é um desses casos, a cumprir uma pena de prisão de 5 anos, ilegalmente impedido de receber visitas de advogados ou agentes consulares, apesar de ter dupla nacionalidade britânica. Durante a COP27, Alaa começou uma greve de água, além da greve de fome que mantinha há vários meses, enquanto a sua irmã, Sanaa, presente na própria cimeira, apelava por apoio diplomático de qualquer país que considerasse a vida humana mais importante que os acordos comerciais com o Egipto. A COP27 terminou e Alaa continua preso — podem somar o resto.
Esta contextualização extensa não é em vão. Um olhar crítico, possivelmente até cínico, é essencial para filtrar os adereços de uma cimeira que continua a ser um choque entre narrativas, que desvaloriza a ciência e as vozes de ativistas, em prol das exigências do mercado.
A zona mais dinâmica do massivo recinto, onde se amontoam os stands das delegações, é uma espécie de caixa alcatifada, com paredes altas que apagam o deserto lá fora, mas não escondem as centenas de jatos privados que continuamente atravessam o céu. É difícil olhar para as oliveiras transplantadas que pontuam o recinto, quase mortas, e não encontrar uma metáfora.
No interior, stand após stand, ONGs, empresas privadas, países, competem pela atenção de quem passa, com estruturas mais ou menos vistosas e centenas de talks. Um mar de blazers, saltos altos, cartões de negócios e chavões inspiradores. Temos a “African COP”, a “Implementation COP”, temos de tudo o que o freguês quiser.
Digerido o inicial fascínio por essa massa humana, alegadamente com um objetivo comum, é difícil ignorar o mal estar deste exercício geral de dissonância cognitiva. Se o mais recente relatório do IPPC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) revela que as metas estabelecidas pelo o Acordo de Paris — o filho pródigo das cimeiras climáticas — não são suficientes para reduzir as emissões de CO2 de forma a manter o aumento da temperatura global abaixo dos 1.5º até 2030, fica pouco claro se estamos perante pessoas cegamente positivas, ou perante a hipocrisia generalizada que reforça os sistemas que nos colocaram nesta situação.
O mesmo relatório reforça o que ativistas procuram há mais de 30 anos: a criação de um fundo de Loss and Damage [Perda e Dano], que compense os países do Sul Global pelos danos irreversíveis causados pelos desastres climáticos que os atingem de forma desigual, apesar de contribuírem residualmente para as emissões de CO2 globais, lideradas pelos países desenvolvidos. A crise climática não é, afinal de contas, um conflito entre a natureza e a humanidade, mas (inspirar fundo) um conflito social, de desigualdades manufaturadas por uma economia extrativista e colonialista, dependente da exploração de recursos e pessoas para o seu crescimento infinito (expirar).
São as vozes desse conflito que estão presentes na COP27. De um lado, o mercado privado, os investidores, as seguradoras, o número avassalador de representantes da indústria fóssil, cujo único objetivo passa por mercantilizar a transição energética, instrumentalizar o “necessário” crescimento da economia ou o mais recente conflito bélico como escudo contra a implementação de medidas radicais. Uma massa tão homogénea no seu discurso como na sua diversidade. Do outro lado, poderia dizer-se que está o resto do mundo — cientistas, ativistas, comunidades indígenas, líderes locais, jovens, a fatia do mundo para quem a luta pela sobrevivência se sobrepõe ao valor de PIB e cuja voz, mesmo que ouvida na COP27, continua a não ser vinculativa na criação de legislação. Ainda que o já mencionado relatório do IPPC assinale a colaboração entre governos e a sociedade civil como um fator fundamental para a transição energética.
Seria desonesto da minha parte fingir imparcialidade nesta questão. Após assistir a dezenas de talks, que se multiplicam em centenas de stands e outras salas, nas quais investidores apresentam dados falsamente encorajadores e soluções de mercado para problemas sistémicos, acabo por refugiar-me no cinismo do meu próprio privilégio de poder simplesmente escutar os cientistas, ativistas e comunidades indígenas que, não tendo opção senão lutar, apresentam há décadas soluções reais. Algumas delas terrivelmente simples: produção de energia na totalidade através de fontes renováveis (o que pressupõe o imediato cancelamento de novos investimentos em combustíveis fósseis e a substituição dos existentes), a citada criação do fundo de Loss and Damage e o direito à soberania sobre os territórios. Cabe tudo num flyer — e eu sei porque recebi um.
Tendo este texto sido escrito após o final da COP27 não é preciso especular sobre a sua resolução. Não houve avanços no que diz respeito à obrigação de diminuir a exploração de combustíveis fósseis, a principal medida que levaria à diminuição de emissões de CO2, segundo o relatório do IPPC. Sem esta medida essencial, insubstituível e imediata, assinamos o desfecho desta narrativa. Nas palavras do delegado nigeriano Phillip Jakpor “If you want to address malaria, you don’t invite the mosquitoes” [“Se queres abordar a malária, não convidas os mosquitos”]. Seguramente haverá quem considere que tem de haver mútuo acordo com as petrolíferas, mas não deixa de ser curioso que o número de representantes das mesmas tenha aumentado nesta COP27 e continue sem haver acordo, devido à oposição de países como a Rússia, a Arábia Saudita e o Irão.
O mesmo não se pode dizer relativamente ao tema de Loss and Damage, que conseguiu um acordo histórico. Uso o adjetivo com cautela porque este acordo ainda não é mais do que colocar uma folha limpa à frente e sobre ela fazer pairar a caneta. Um comité constituído por representantes de países em desenvolvimento e países desenvolvidos, assim como residual presença da sociedade civil, irá delinear a estratégia a ser apresentada na COP28 — quem irá pagar, em que percentagem, a quem, como. A justa compensação chegará ainda com maior atraso. A inexistência de ONGs neste comité, a inclusão da China — um dos maiores emissores de CO2 do planeta — como um dos países a ser apoiado e o crescimento musculado da intervenção de seguradoras e do mercado privado enquanto intermediário no financiamento serão obstáculos que poderão diminuir o impacto deste acordo.
Resta falar de soberania, um tema mais ou menos polémico dependendo da geografia, mas que está na base do (inspirar fundo) conflito social, de desigualdades manufaturadas por uma economia extrativista e colonialista, dependente da exploração de recursos e pessoas para o seu crescimento infinito (expirar) que causou as alterações climáticas. Em todas as regiões do planeta, da desmatada Amazónia, ao território agora inundado do Paquistão, ativistas e comunidades indígenas denunciam o mesmo padrão: a exploração de territórios não pelas pessoas que neles vivem, mas por indústrias extrativistas privadas, normalmente sediadas em países ricos. Instrumentalizar a dívida de países em desenvolvimento para perpetuar a exploração dos seus recursos, enquanto se dificulta o acesso aos investimentos necessários para criar mercados locais e descentralizados, é uma pescadinha de rabo na boca feita de capital e neocolonialismo. Uma iguaria que pode ser provada na política externa de qualquer país europeu.
O pior da COP27 é estar cara a cara com as consequências humanas disto. Cara a cara com uma ativista da Indonésia, que, cito, repete o mesmo há 30 anos, cimeira após cimeira; ou com uma jovem da Papua-Nova Guiné que há vários anos procura investimento para um projeto na sua aldeia e não sabe como mais tentar; ou com o representante de uma aldeia no Sudão em busca de investimento para uma bomba de água a energia solar para os agricultores da sua comunidade; ou com o ativista Paquistanês que discursa de lágrimas nos olhos sobre como os países ricos e o mercado lucram com a destruição de países pobres e expropriam o povo da terra que durante milénios cultivaram de forma sustentável; ou com uma representante de Granada que explica como o último furacão a atingir a ilha lhes custou 200% do PIB; ou com o grupo de médicos de todo o mundo, que alertam para os milhões de mortes prematuras anuais diretamente ligadas à exposição a poluição, assim como doenças crónicas e infecciosas, que irão aumentar quanto mais a temperatura aumentar; ou com Sanaa, a irmã de Alaa, que discursa sobre como a crise climática também é, e será cada vez mais, uma crise de direitos humanos. Um desfilar de pessoas que tantas vezes permanecem anónimas no meio do rebuliço, com problemas reais, por vezes até simples, mas cuja solução, e até a continuação da vida, depende das ordens do mercado, do PIB, do lucro, da dívida. Mandamentos de uma religião mais poderosa que todas as que chegaram ao Monte Sinai.
A profunda tragédia destas cimeiras é a traição do seu potencial, a tentativa de recriar um sentimento de comunidade, de colaboração, que está na base de tudo o que sustenta os ecossistemas do planeta e, apesar de recusarmos, também a humanidade. A busca por um sentimento de pertença que nos move a todos, mas que perante as evidências se transforma em solidão e impotência. É trágico o potencial que se perde no ruído de um evento megalómano.
No fim desmontam-se os stands, enrolam-se os cartazes, apanham-se os jatos de volta para partes do mundo que não podemos antecipar como estarão na COP28, em Abu Dhabi, ou nas cimeiras seguintes, até que o tempo que nos resta no relógio climático se esgote.
Se queremos ganhar mais tempo, algo terá de ceder no presente para assegurar o futuro. Para já, a barreira dos 1.5º parece ser a única que irá ceder.
Apoia a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.
Outros artigos de que podes gostar: