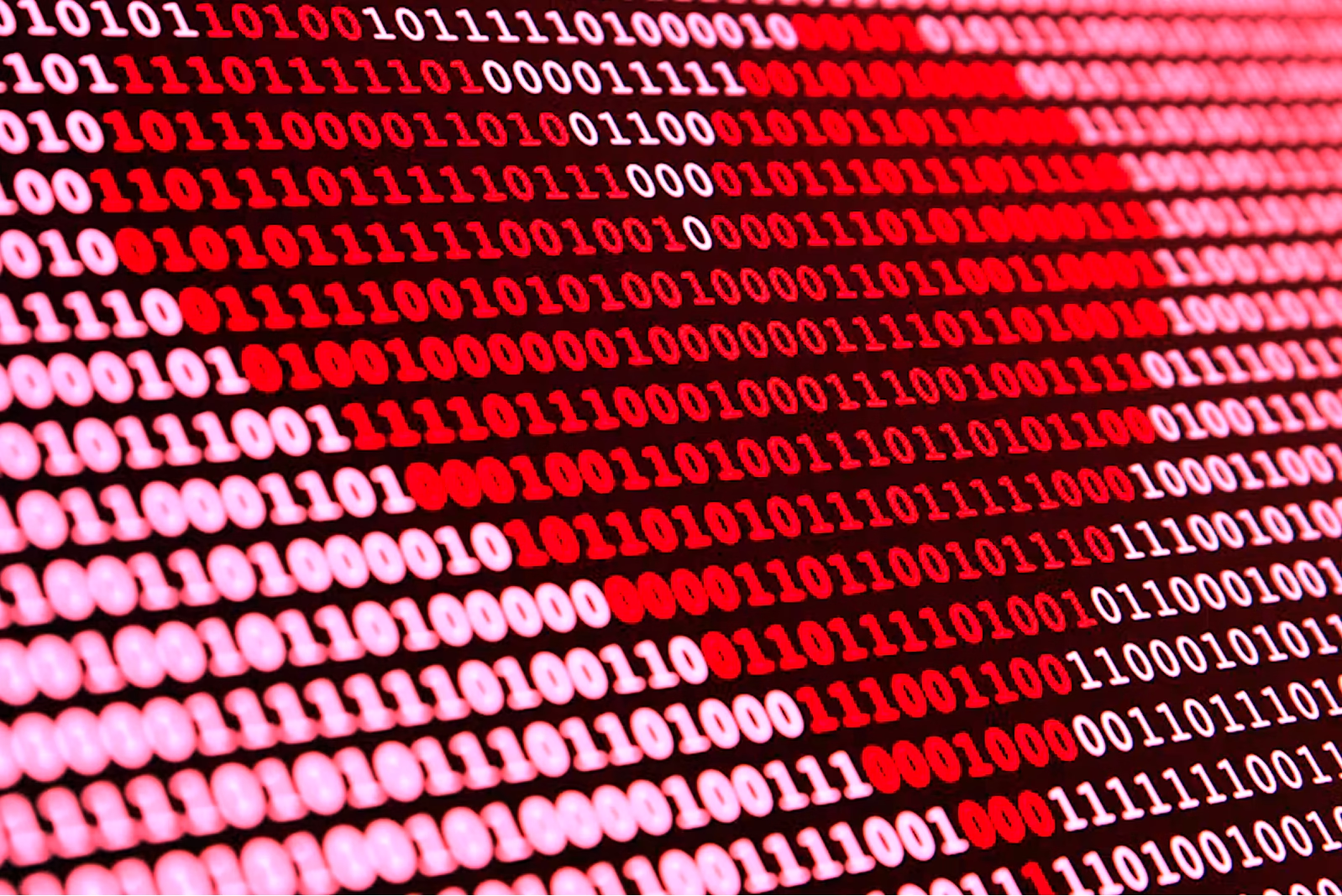Em 1989, na sequência da queda do muro de Berlim, Francis Fukuyama proclamava o fim da história. Perante a desagregação do regime soviético e do seu manto histórico de influência, a disputa pelo ideal de sociedade parecia ter chegado ao fim, com as democracias liberais no primeiro lugar do pódio. A evolução ideológica da humanidade aparentava ter ingressado no seu derradeiro estágio.
É legítimo assumir que, nesse mundo pós-histórico de Fukuyama, já sem divisões fracturantes profundas, o papel das marcas seria conformado à convencional mediação informal entre o processo económico e a sociedade civil, sem justificação para arrogar qualquer intervenção além das dinâmicas do consumo. É certo que a consolidação global do sistema capitalista, fiel companheiro da democracia liberal, expandia e adensava a sociedade de consumo, hiperbolizando, em consequência, a relevância das marcas enquanto instrumento de mercado. Mas neste fim da história apaziguado, poucas razões existiriam para a marca comercial se aventurar para lá da fronteira natural do território mercantil.
Como sabemos, o anúncio de Fukuyama foi, no mínimo, precoce. Não que o modelo capitalista liberal-democrático tenha falhado o alvo da hegemonia. Nesse aspecto, e como lamenta o filósofo esloveno Slavoj Žižek, somos todos fukuyamistas — afinal, grosso modo, tendemos a aceitar a fórmula liberal como aquela que melhor organiza a sociedade humana. Contudo, é difícil ignorar que, hoje, as democracias enfrentam inúmeros desafios que colocam em perigo não apenas a sua sobrevivência, como o futuro de todos nós: da proliferação dos populismos extremados ao poder semioculto das grandes plataformas digitais; da pressão da inteligência artificial e da automatização no modelo social do mercado de trabalho às ameaças ambientais globais, cujas soluções são já inadiáveis. A este cenário inquietante, é preciso acrescentar ainda o rol de desigualdades sobre o qual o edifício capitalista assenta e prospera. Mesmo aderindo ao argumento conveniente de que se trata de uma inevitabilidade do progresso, facto é que tais desigualdades estão longe de um qualquer ideal humano que possamos querer encontrar num eventual fim da história.
Neste quadro pleno de desequilíbrios graves, a liberalização do consumo — bandeira ideológica das economias de mercado e, em muitos aspectos, expressão vitoriosa das democracias liberais — tem responsabilidades irrefutáveis. As reconhecidas externalidades negativas produzidas pelo desenvolvimento capitalista não são dissociáveis de uma sociedade de consumo inebriada por si própria. Pelo contrário. A necessidade transformada em desejo, simultaneamente suprido e estimulado por um ímpeto capitalista não domado, aprofundou o fosso entre o consumidor e o cidadão. Por outras palavras, fez desaparecer a preocupação com o bem comum das contas do consumo privado. E, como oportunamente sublinharam as correntes anticapitalistas lideradas pela jornalista-activista canadiana Naomi Klein, as marcas foram actores principais no desenho desta economia da liberdade individual desligada da razão colectiva. Tanto como instrumento de persuasão afiado, como, não raras vezes, aproveitando ardilosamente a ausência de cidadania nos territórios do consumo, para empreender em práticas altamente abusivas.
Ora, sem absolver crimes, injustiças e faltas de ética do passado, o papel de vilão não esgota o potencial das marcas comerciais. Ao contrário do entendimento comum, promovido, em grande parte, por um radicalismo anti-capitalista excessivo, as marcas não são apenas uma infiltração predatória do processo económico na sociedade. São também uma possibilidade de a sociedade, em sentido contrário, moldar o processo económico. Afinal, as marcas respondem essencialmente à motivação humana. E se é verdade que a motivação humana mergulhou na armadilha consumista, a sua recuperação para o território da cidadania, obrigará, consequentemente, as marcas a nivelarem-se com valores humanos, éticos e morais, incompatíveis com o tal presentismo que tende a ignorar consequências nocivas em nome da conveniência individual. A pressão da escolha consciente firmará a militância social na função do interesse próprio de cada marca. Dito de outra forma, perante um consumidor consciente, as marcas terão de alargar o seu perímetro de intervenção além do tal território mercantil estrito, sob pena de não cumprirem o desígnio comercial que as define. Mas, como se adivinha, esta janela de esperança que se abre para lá do fim da história fukuyamista está irremediavelmente vinculada à reconciliação do consumidor com o cidadão. Tal redenção pós-capitalista depende, pois, de um novo homem.
Jeff Bezos é um homem extremamente fácil de odiar. Afinal, além do reconhecido instinto empreendedor, que o coloca do pedestal da nova cultura-startup, o fundador da Amazon não parece ter grandes escrúpulos no que toca à gestão dos seus negócios. Entre manobras fiscais condenáveis, monopolizações forçadas e políticas laborais repulsivas, a Amazon de Bezos representa a pior face da glória capitalista. Não obstante, essa é apenas uma parte da história. Certamente, não menos negra por isso, mas apenas uma parte. A outra, menos evidente, pulveriza-se entre os milhões de pessoas que, apesar do amplo mediatismo dos abusos de Bezos, continuam a ser clientes fiéis da Amazon e, assim, a colocar um fluxo de dinheiro ininterrupto no bolso do magnata.
Naturalmente que a Amazon não é a única empresa à qual pode ser apontado o dedo. Longe disso. O que torna o seu exemplo assustador é o facto de se tratar de um negócio altamente rentável, apesar de reconhecidamente construído sobre um cocktail muito particular de danos sociais e miséria humana. A fortuna de Bezos é uma dura confirmação de que a sociedade, no papel de agente de consumo, abandonou exigências de ordem social básicas. De que o desejo individual atropela, com facilidade, qualquer consideração moral sobre a cadeia de valor que o satisfaz. De que a conveniência pessoal — seja ela motivada pelo preço, pela rapidez ou pela acessibilidade — é, enfim, mais decisiva na escolha, do que qualquer preocupação humana, social ou ambiental de fundo.
É verdade que o consumo consciente e a ideia de propósito são, hoje, temas brandidos com insistência no universo das marcas. Em grande medida, saíram até reforçados da experiência sociológica mundial desenhada pelo novo coronavírus. Mas, e sem retirar mérito às marcas que efectivamente batalham por modelos de negócio responsáveis, o sucesso retumbante de empresas como a Amazon, que não parece afectado pela nova consciência pós-pandémica, demonstra, pelo contrário, como tais ideais, embora salutares na intenção, estão, em larga escala, por cumprir. O discurso progressista-solidário resume-se, provam as evidências, a uma enunciação superficial de moral selectiva, perfeitamente adequada à militância inconsequente da era da rede social. Uma bandeira que o consumidor agita, seguramente, mas não carrega.
Ora, se as marcas enquanto mediadores bilaterais permitem à sociedade exercer pressão transformativa sobre a esfera económica, importa sublinhar que o êxito desse movimento está irremediavelmente vinculado à disposição do consumidor em alargar, de forma consequente e determinada, o exercício de cidadania às suas escolhas de consumo privadas. É este novo homem que, ao votar pelo consumo, segura as chaves de uma economia de mercado equilibrada, de iniciativa privada e compromisso social. É este novo homem que, ao premiar a militância solidária no mundo corporativo, torna a sustentabilidade — seja ela social, humana ou ambiental — economicamente sustentável. É este novo homem que, ao condenar o abuso egoísta próprio dos ímpetos capitalistas mais perversos, poderá, enfim, aspirar aos benefícios de um mercado livre — assim, domado pela procura —, sem hipotecar o futuro da sociedade.
Se os princípios do mercado regem, nas democracias liberais, dimensões tão importantes da vida humana — dimensões que já não estão contidas no perímetro estrito da economia, importa recordar —, é pois vital assegurar que o consumo privado está à altura das responsabilidades públicas que acarreta e das consequências sociais que produz. E embora a receita para a formação de tal capital humano — para usar uma terminologia liberal — não seja necessariamente linear, os ingredientes que apuram a cidadania que o funda são vários e bem conhecidos: da cultura além-entretenimento ao ensino humanista de largo espectro, do jornalismo independente à investigação científica autónoma. No fundo, áreas do saber que desenvolvem e salvaguardam o pensamento crítico e fomentam a consciência de um projecto comum colectivo.
No seu Manifesto Socialista, o politólogo norte-americano Bhaskar Sunkara defende que «se há um futuro para a humanidade — liberta da exploração, da crise climática, da demagogia e da guerra de todos contra todos —, ele passa por confiar na capacidade de as pessoas comuns salvarem-se a si mesmas e umas às outras». Será que nesta ideia kantiana da saída do homem da sua menoridade, o consumidor — assim, verdadeiramente emancipado num consumidor-cidadão — não poderá salvar o capitalismo — e, dessa forma, a democracia liberal — dos seus ímpetos mais nefastos? Eventualmente, sim. Resta saber se não vamos já a correr contra o tempo.


João Campos é director criativo do Estúdio João Campos e autor do livro Marca Positiva (Influência, 2019). Dá aulas de branding no ISCSP-ULisboa e no IADE–Universidade Europeia.
Apoia a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.
Outros artigos de que podes gostar: