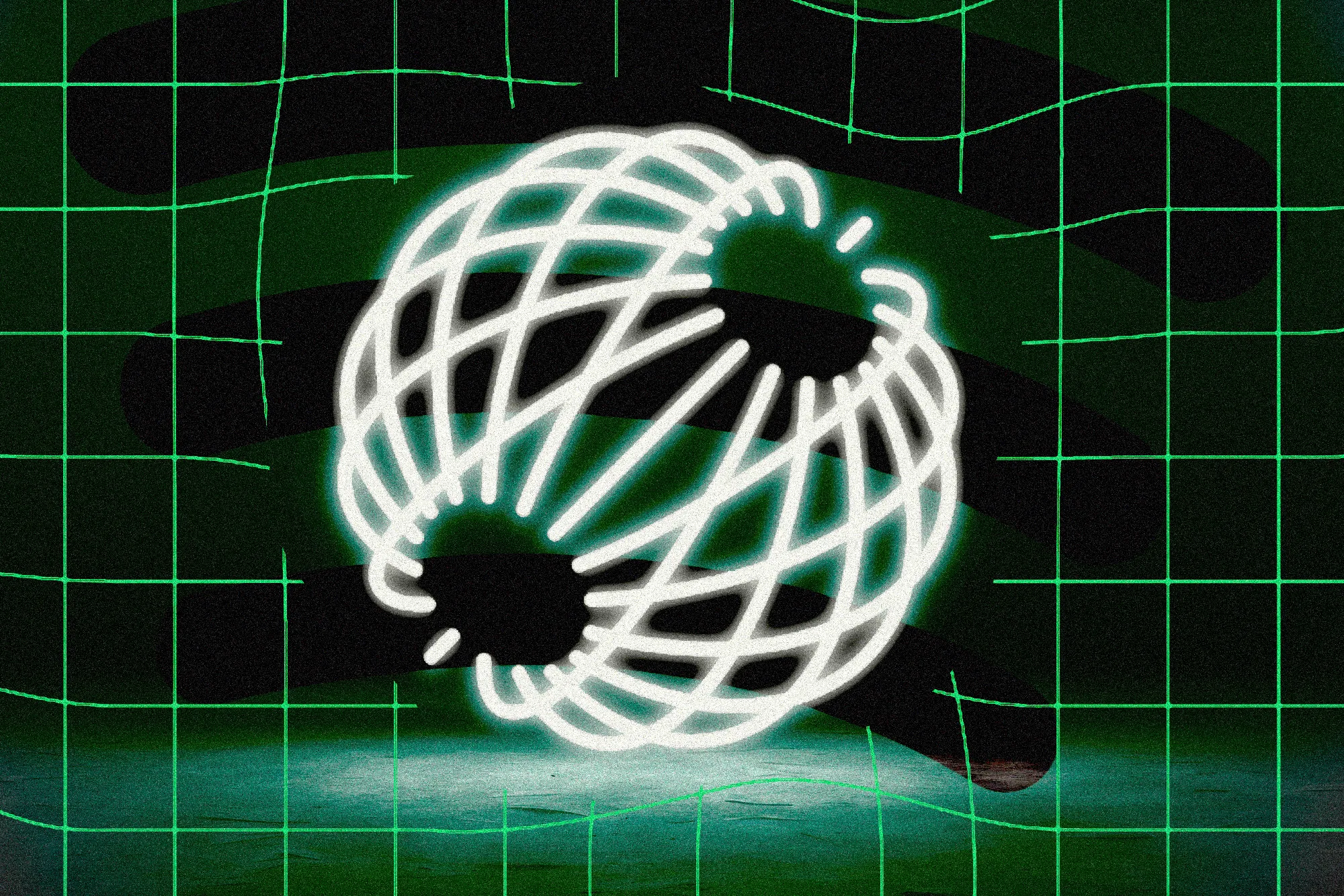

Alastair Fuad-Luke pode não ser um nome sonante para o grande público mas, para os mais atentos ao mundo do design e à corrente da disciplina que se pensa a si própria, é, sem dúvida, uma figura de referência e uma voz a escutar – ou digamos antes, uma parceiro com quem dialogar. O britânico, começou o seu percurso como Cientista Ambiental e Ecologista, e tem vindo, ao longo dos últimos 22 anos em que se dedicou à prática que o traz até esta entrevista, a “pôr termos em frente à palavra design” para melhor explicar o que faz; pelo caminho publicou dois livros referenciais, Design Activism e Eco-Design Handbook e tornou-se num interlocutor proativo neste amplo diálogo que é a definição do design contemporâneo.
É nessa condição de dinamizador de um diálogo reflexivo sobre a disciplina do Design que Alastair veio até Portugal, mais concretamente até ao Porto, onde, enquanto curador-chefe, assina a programação da Porto Design Biennale, este ano dedicada ao tema “alter-realidades” – um mote que não podia ser mais sugestivo para uma conversa sobre os limites do design, os seus constrangimentos e como podíamos torná-lo mais selvagem ou, pelo menos, garantir que as relações que este estabelece respeitam o meio envolvente. Um mote que resumimos no início da entrevista, como que apontando no horizonte onde queríamos chegar, como um pensar e debater “o design para além do design”, num enquadramento que procura apontar para o futuro mas sobretudo pensar o presente para além dos constrangimentos a que habitualmente este pensamento está sujeito – uma ideia muita cara ao formato de Bienal.
Como começa por nos dizer Alastair, o design da programação da PDB “não é o tipo de design que o cidadão comum está habituado porque estes recebem o ‘design’ por via de produtos e serviços de consumo e através dos espaços digitais, que são, logicamente, altamente comerciais”, e isto não significa que se criem barreiras para o que pode ou não ser falado mas, pelo contrário, que estas barreiras são deitadas por terra e numa discussão que se quer aberta e participada se procuram novos significados para o que pode ser o design. Este processo quase metafísico de desenho da própria disciplina não é estranha ao design. Como lembra o curador, foi com o “Service Design” que alguns dos serviços que hoje conhecemos se tornaram mais proficientes, apesar de a percepção pública não o reconhecer. “Foram designers que se preocuparam em tornar claro o processo de um hospital, por exemplo, mas esses mesmos designers fizeram um péssimo trabalho a explicar que existem outras formas de design.”
Apesar do espaço central que o design ocupa nas sociedades contemporâneas nos poder dar a ideia contrária, a verdade é que o design enquanto disciplina formal é algo recente, o que a torna mais dinâmica na sua própria ordenação e, de certa forma, inclusiva. É fruto dessa permeabilidade do design a outras práticas, a outros conhecimentos, e a outras formações, que Alastair, sem ter estudado design, acabou por se tornar professor da disciplina que, como nos diz, talvez para si tenha sido sempre “design para além do design”. As fronteiras que foi derrubando permitiram-lhe ir desenvolvendo um pensamento conceptual sobre o (seu) design, o que o motiva e como o aplica.
“Primeiro, acredito que o design é uma forma de materializar as coisas no mundo de forma diferente. E, por conseguinte, fazer com que as pessoas experienciem, pensem e vivam no mundo de outras maneiras. Acho que sempre estive interessado no desafio ontológico de como o design nos pode pôr a pensar sobre estar num mundo de forma diferente”, explica, “a segunda parte do desafio e que ainda é um ‘desporto minoritário’”, é resistir à ideia do designer como o árbitro criativo individual, o génio. Há espaço para isso, claro. Mas acredito que seria ainda mais ‘genial’ se envolvemos mais génios através de processos participativos”. E se esse desafio é um ‘desporto minoritário’, a Porto Design Bienal pretende ser uma espécie de Mundial, um certame dedicado ao melhor da modalidade, neste caso, a um questionamento sistemático, individual e colectivo. “O que se entende por design? Estamos a ser suficientemente críticos? Estamos só a desenhar para o mercado? O design inclui não só os humanos mas todos os outros seres vivos?” são algumas das questões de partida em debate entre 2 de junho e 25 de julho, online e em vários espaços físicos, e que serviram de subtexto a esta entrevista que orbita entre os acontecimentos e os pensamentos.

S: Como a pandemia mostrou existem outros elementos biológicos, não-humanos, que têm o poder de impactar a nossa sociedade global, e curiosamente o tema da Porto Design Bienal este ano são as alter-realidades onde se inclui o outro não humano. Achas que a pandemia pode desencadear uma mudança de paradigma também no mundo do design, fazendo com que estes passem a ter mais atenção ao que não é visível?
A.F.L: Eu acho que volta tudo à questão de se ter um olho crítico. E aqui penso na Anna Tsing, uma antropóloga que escreveu The Mushroom at the End of the World e que antes tinha participado no Arts of Living on a Damage Society. Eu acho que precisamos de uma série de novas ferramentas para prestar atenção a coisas diferentes. E de alguma forma, outras actividades têm-nos pedido para o fazer, para prestar atenção a coisas que simplesmente não conseguimos ver ou que nos esquecemos de como se vêem. O Museu da Matéria Viva, a sua principal missão, na forma como eu o vejo, é lembrar-nos de ir para além dessa forma de supremacia. Nós sentimos que criamos o mundo, mas devemos lembrar-nos que não somos os únicos a criá-lo, e devíamos tentar ser melhores a criar o mundo com os outros, porque aí é que reside o equilíbrio.
Então, o Museu da Matéria Viva, inspirado pelo maravilhoso livro da Jane Bennet, Vibrant Matters: A Political Ecology of Things, o que eu acho que procura fazer, no fundo, é promover aquilo a que o Papadopoulos chama uma alter-biopolítica. Essa questão é muito difícil para qualquer político, eles nem entendem o que é uma alter-biopolítica. Mas eu explico, de forma simples: quais são os direitos das plantas? Quais são os direitos dos outros seres vivos? Os direitos dos rios? Podem olhar para mim e perguntar de forma simpática se estou maluco mas eu respondo que não, não estou. Na Nova Zelândia aprovaram legislação para conferir direitos a um rio, agora é uma entidade legal – o rio Whanganui que é parte da cultura Maori – e se fizeres algo ao rio é como se fizesses a uma pessoa. Eu não estou na terra dos sonhos, já deram mesmo direitos a um simples rio.
E eu acho que é conversa para outra altura, mas o design podia começar a interagir mais com a lei. Eu acho que a lei é uma área fascinante para prestar atenção, especialmente nestes tempos de política demasiado ‘binária’. Ou és de extrema direita ou de extrema esquerda, esta atitude ao estilo George Bush depois do 11 de Setembro, “ou estás connosco ou estás contra nós”, não, por favor. Eu gosto das outras 254 sombras de cinzento, isso é a vida. Por isso, acho que o design tem o papel de pegar nas 256 sombras (se adicionarmos o branco e o preto) e dizer: “Isto é a vida, os mundos colidem, as coisas colidem”.
Se pensarmos na história dos microplásticos, no choque que é, até para mim como ambientalista, ver quão longe vão os microplásticos – desde o topo do Evereste ao fundo do Oceano -, temos de nos lembrar que fomos nós que os materializámos. Por isso, o Museum da Matéria Viva quer provocar esta reflexão sobre como nos relacionamos com os materiais, e talvez sobre o que podíamos fazer nos nossos territórios locais. Porque, voltando à questão, algumas das cadeias globais foram afectadas pela pandemia, por isso devíamos olhar e perguntar “o que podemos fazer aqui?”.
S: Achas que o crescente papel das tecnologias de informação no processo de design aceleraram de alguma forma o afastamento entre o designer e os ecossistemas, num sentido mais lato?
A.F.L: Bem, acho que sim. Se pensarmos em informação digital, essencialmente, é uma abstração da realidade e então temos de questionar ‘uma abstração de quem?’ porque toda a inteligência artificial teve de ser programada inicialmente. Temos de questionar: “quem está a criar a abstração, do quê, e para pôr num sistema para quem?”. Já o vimos com várias grandes empresas tecnológicas, é o que se põe no sistema que determina quão inteligente o sistema é mas também quão artificial é. E é artificial porque estás a partir apenas de uma amostra de múltiplas realidades.
Recorrendo a outro antropólogo, porque eles continuam a surgir, se pensarmos no Arturo Escobar e no seu livro Design for the Pluriverse – como se relaciona a ideia do pluriverso com a inteligência artificial? A inteligência artificial é um sistema e só responde ao que é posto no sistema. Claro que podes adicionar mais informação. Mas se os algoritmos estão à procura de determinada informação num sistema não vão encontrar outra. Então vão perder os pluriversos. Por isso, não acho que os algoritmos possam chegar perto do nosso mundo maravilhoso que é um pluriverso. Por isso, se queres viver num mundo “abstraído”, um mundo reduzido, óptimo, vive no mundo da inteligência artificial. Se queres viver num mundo diverso, ter diferentes experiências ontológicas na tua vida, não vivas totalmente no mundo da inteligência artificial porque será uma experiência mais reduzida da vida.
E se pensarmos nestas questões, uma das questões do princípio do meu livro Design Activism, escrito em 2008, é “o design é feito por quem? Para quem?”. E temos de tomar parte activa se queremos mudá-lo, se não outra pessoa vai planear por nós.
S: É curioso que os antropólogos estejam sempre a surgir numa conversa sobre design…
A.F.L: Os antropólogos moveram-se mais rapidamente nesta evolução do estudo do homem para o estudo dos seres vivos. Todo este debate sobre a coexistência entre espécies, estimulado pela [Donna] Haraway e outros, está agora a receber muita atenção. E provavelmente podem olhar para dados antigos e perceber que comunidades Indígenas sempre viveram com os outros de forma complexa, nós, nas sociedades do norte ocidental é que tentamos manter os outros longe de nós. Então acho que eles já fazem este trabalho há mais tempo do que acham, e algum desses discursos críticos estão, de uma forma muito saudável, a ser trazidos para o debate sobre design também.
S: Usando um termo que tem sido popular ultimamente, o rewilding, achas que o design se devia tornar selvagem novamente, extravasar para fora do complexo industrial e pensar em soluções para problemas reais?
A.F.L.: Eu acho que é uma boa forma de pôr as coisas, “tornar o design novamente selvagem”, mas a minha questão é, alguma vez o design foi selvagem? Eu acho que o design foi domesticado há muito tempo. Um pouco como na pecuária, nós criámos animais específicos que provavelmente teriam dificuldade em sobreviver se os pusermos de volta na floresta. Do mesmo modo, podemos dizer que os designers foram criados dentro do sistema industrial. Por isso, o que constitui este rewilding? Eu acho que a questão pode ser posta num nível simples, que é, se não fizeres design para o mercado, onde mais podes fazer? Eu acho que só esta pergunta abre muito espaço selvagem. Mas há um grande debate entre os próprios ecologistas sobre o rewilding de algumas partes da Europa, e há dois investigadores portugueses na Alemanha, que têm um livro sobre diferentes perspectivas de rewilding da Europa. E eles denotam que há uma grande diferença entre a rewilding antropocêntrica e a rewilding selvagem. E isto traz-nos de volta para a questão do design selvagem. Eu tento fazer esta distinção e pensar até onde podemos ir, quão selvagem podemos torná-lo? Será que todo o design actualmente tem de ser feito para humanos? – temos por exemplo o trabalho do Martin Ávila que estará na Bienal que explora essa questão. Claro que, no final de contas, se quiseres viver disso a questão é quem paga. Mas acredito que, por exemplo, se abordássemos organismos de conservação, se começássemos a desenhar coisas para as abelhas, ou para as árvores, algo podia acontecer. E claro que tens de trabalhar com ecologistas, geológicos e outras pessoas.
Por isso diria que o meu incentivo para os designers seria: “Na segunda vai fazer design com alguém com quem nunca tenhas feito, na terça faz o mesmo, na quarta, quinta e sexta também. No fim de semana serás um pouco selvagem.”.
Temos de pensar fora das disciplinas e encontrar pessoas com quem queiramos fazer design, isso é selvagem, não esperar por pedidos. E eu acho que isto tem a ver com alguma falta de confiança dos designers em serem eles próprios criadores de projectos. Gerar a sua própria visão, o seu próprio briefing, ir à procura das pessoas que queiram trabalhar consigo.
É por isso que esta Bienal é sobre desenhar o presente. Arregaçar as mangas, sujar as mãos e estar com outras pessoas.
S: No podcast SUMO, parte da programação da PDB, com o André Cruz, menciona a ideia de que o design pode ajudar a recriar e a redesenhar as relações de produção. A minha questão é, achas que os designers podem desempenhar este papel? Vemos por exemplo o Critical Design…
A.F.L: Eu acho que alguns designers podem. Porque temos de ser honestos com a profissão de designer para aqueles que querem apenas um emprego das 9 às 5. Ok, vão para o escritório, resolvem desafios que lhes são dados, fazem bom trabalho e resolvem problemas usando as suas competências.
Também não sou muito fã da ideia de critical design ou design especulativo porque há algo que me parece muito separado da realidade. Parece ter um aspecto performativo e de alta cultura em especular sobre o futuro. É por isso que esta Bienal é sobre desenhar o presente. Arregaçar as mangas, sujar as mãos e estar com outras pessoas. Vejo objectos de critical design que são criados e acabam dentro de caixas de vidro em museus, como é que isso muda comunidades? Eu acho que temos de ter pensamento crítico e acção crítica no design, temos de dar atenção a coisas para além do mercado e também temos de pensar no mercado de forma diferente.
Por exemplo, no Museu da Matéria Viva, incluímos propositadamente alguns artefactos históricos, e temos uma capa que seria feita pelos próprios pastores com Juncus, uma planta local. Eu estive no Museu do Traje, em Viana do Castelo, e todas aquelas roupas foram muito provavelmente feitas com matéria prima que estava a 30 ou 50km de distância. As roupas da montanha eram diferentes das roupas do litoral. As roupas do sul eram diferentes das roupas do norte porque eram feitas localmente. E acho que temos de voltar a conversar sobre qual é o papel do designer em criar novas ideias de produção. Há uma tendência que me parece estar a vir mais das universidades, de pessoas como a Neri Oxman, no MIT Labs – que recentemente fechou – a fazer experiências com materiais biológicos e a trabalhar com outros seres vivos de forma a criar materiais. E há muita coisa em torno do biodesign nos últimos 10 anos. E isto não é design de materiais da biologia, é o uso de materiais biológicos no design. Temos alguns exemplos em exposição de coisas feitas com algas ou restos de peixes.
Portugal é uma nação marítima, a oportunidade aqui é pensar coisas dessas. MarinaTex é um exemplo de bioplástico feito com restos de peixes. E este tipo de ideias pode revitalizar algumas zonas como, digamos, Matosinhos, que era uma vila piscatória e hoje é muito menos, mas continua a ter esse conhecimento com que os designers podem reflectir. Por isso acho que os designers devem pensar quais são as competências do seu local – e cada um define como quiser o que é para si local. Mas talvez o que estejamos a dizer seja, porque não são os designers criadores de projectos, a partir de algo que os preocupa. Eu tenho trabalhado com as comunidades onde vivo, e acho que foi das primeiras lições que aprendi. Eu estava a viver em Brixton, uma cidade portuária no Reino Unido e questionei-me porque não estava a trabalhar com aquelas pessoas. Então comecei a trabalhar com uma comunidade de jovens, redesenhámos uma igreja vazia e tornámo-la um centro de jovens. Eu acho que isso é um bom ponto de partida para os designers. Pensar se podiam melhorar algo no bairro, na cidade. Como podem melhorar a relação entre a cidade e as zonas rurais, modificar o fluxo de matérias primas. Mas não tenho visto muita “fome” em designers para o fazer, mas talvez agora ganhem mais fome.
E acho que temos de negociar esta perspectiva do Glocal, o neologismo que junta global e local, porque a maioria da vida material das pessoas está cheia de global. Se pensarmos na vida há 100 anos era muito mais local, em termos materiais, do que é viver agora, porque é só como conseguimos viver. Se pensar no meu apartamento, tenho coisas que acumulei em vários países ao longo do tempo, mas procuro estar consciente e comprar coisas locais, como vegetais, carne, queijo, e claro, vinho português. E isto remonta ao livro de E.F. Schumacher Small Is Beautiful: A Study of Economics As If People Mattered, em que ele dizia que a melhor coisa para manter comunidades locais activas é comprar coisas locais. Tão simples quanto isso. Quando compras algo como um telefone da Apple, o dinheiro vai para outra região e as pessoas não entendem esta forma básica de economia. Por isso temos de restabelecer o balanço no global porque estamos a materializar as nossas vidas de modo predominantemente global. E acho que isso também é uma área em que os designers se podem envolver. Mas isso não significa que devam esperar um briefing da comunidade porque ele nunca vai chegar. Não podem esperar um briefing de um pequeno produto que tem um processo muito interessa porque ele não tem um departamento de Relações Públicas. Devem abordá-los. Isso é ser selvagem no design hoje em dia.
E o que precisamos para que isso aconteça? Boas networks. A European Data Journalism Network é um bom exemplo, juntando várias pessoas e projectos diferentes. Temos de criar redes que promovam este tipo de cooperação e trabalho. E nesse aspecto claro que a Bienal é uma plataforma. Não é uma rede em si, mas de todos os encontros podem resultar várias redes.

S: Um dos motes da bienal e do teu próprio trabalho é “desenhar o presente para mudar o futuro”. O crítico cultural britânico, Mark Fisher, dizia que viver no século XXI era viver no século XX com internet de alta velocidade. Dirias que ainda estamos a desenhar para o passado? Para colmatar problemas e necessidades que não temos, para o “plantationcene” como lhe chamava a Donna Haraway?
A.F.L: Acho que temos de olhar para duas coisas, e precisamos de visões a longo prazo, não só no design, mas também na política – e aqui voltamos à alter-biopolítica. Temos mesmo de nos concentrar neste momento crítico da nossa história, e isso requer uma visão, para além da ação diária, requer um bom plano. Se olharmos para os documentos das Nações Unidas no Pós-Segunda Guerra Mundial, havia uma visão real para o mundo em paz após duas guerras mundiais. E eu não sou apologista da linguagem de guerra para falar do vírus, porque ele só fez o que sabe, fomos nós que criámos toda a infraestrutura – se alguém fizesse um livro do ponto de vista do vírus seria uma leitura incrível. Nós criámos a infraestrutura que fez com que o vírus viajasse facilmente, pela forma como produzimos e consumimos. Para além disso, também tenho um grande respeito pelo passado e acho que devíamos ser mais conscientes do passado. Ainda há pouco falávamos da história dos trajes, dando o exemplo do linho, que foi muito produzido em Portugal. Se a partir daí começássemos a falar sobre isso, sobre quantos hectares de linho precisamos para fazer uma t-shirt, sobre como se faz, sobre como se poderia fazer com um pouco menos, mas sem o pensamento dos anos 70 em que tinha de se abdicar das coisas. É um grande desafio, e temos de ter um grande respeito pelo passado porque as pessoas eram muito bem sucedidas em viver uma vida com poucos recursos e nós perdemos completamente essa competência. Mas que competência é essa? Voltamos a Anna Tsing, que competências precisamos para viver num planeta estragado, tanto a nível pessoal como profissional?
E pode parecer um pouco abstracto para a nossa conversa, mas mais um exemplo do porquê de devermos respeitar o passado, é o Brexit. O Brexit é o resultado de pessoas que não entendem o passado do Império Britânico e a arrogância do nacionalismo inglês e da sua atitude perante a Escócia, a Irlanda do Norte e o País de Gales que são as suas últimas colónias – se eu o disser parece chocante mas acho que temos de ter consciência da história para perceber que o Reino Unido já não é o que era, já não tem a posição e importância que tinha no plano mundial. Então, rejeitar os seus vizinhos mais próximos e um dos grandes mercados mundiais, em troca da crença de que continuam a ser importantes no mundo é o tipo de história que nem Shakespeare teria escrito. É um exemplo de uma nação cuja psique ainda não assimilou o passado.
Por isso acho que temos de estar bem informados sobre o passado para estar preparados para fazer melhor design no presente. E não podemos continuar a ser nostálgicos com o passado, temos de lidar com as pessoas e as suas circunstâncias. Tivemos um livro, escrito pelo Nigel Whiteley, escrito em 1999, chamado Design for Society – isto foi há 22 anos – que levantava essas questões sobre que sociedade queremos, como queremos viver, como podemos desenhá-lo juntos. Claro que quando queremos criar algo que realmente funciona, seja no mercado ou na sociedade, tem de ser bem desenhado ou caso contrário não funciona. Mas acho que temos de voltar para a questão dos designers procurarem novas pessoas com quem trabalhar, novas profissões com que dialogar, novas perspectivas com as quais criar design, só assim se vai criar novo trabalho.
S: A forma como falamos acaba por condicionar as perspectivas. Consideras que os designers tentam criar uma eficiência artificial mais do que lidar com problemas reais?
A.F.L: Isso faz-me lembrar uma discussão no final dos anos 1990, princípio dos 2000, em que se debatia a diferença entre eficiência e suficiência. Eficiência é geralmente tecnológica, pode-se criar mais eficiência através do desenvolvimento tecnológico, mas a suficiência é uma questão de mudança comportamental, de usar os recursos melhor. E se combinarmos estes dois conceitos, tendemos para a eficácia. Mas parece que a tendência do mundo hoje em dia é depender das soluções tecnológicas, não exigimos as mudanças comportamentais, não mostramos como as mudanças comportamentais são possíveis. Voltamos de novo à alter-biopolítica. Um exemplo – e acho que a legislação mudou recentemente no Reino Unido – é que se produzires energia eléctrica na tua propriedade não a podes vender à rede nacional, o que parece uma proteção do século XIX. Porque o que estão a querer dizer às pessoas é que não querem que elas sejam autónomas. E acho que aí também temos de encontrar um equilíbrio – e isso também é um desafio para o design. Como se encontra um equilíbrio na autonomia, que pode demasiado facilmente tornar-se individualização – que é o que os mercados criaram, consumidores individuais – como se encontra um equilíbrio melhor? Esta ideia da autopoiese, que tem sido alardeada, porque somos realmente simbióticos. Nós precisamos uns dos outros. Olhemos para o nosso próprio corpo, sem determinadas bactérias não funcionaríamos – isto é simbiose, mutualidade. E temos de aprender a crescer para o futuro de uma forma mutualista. Isto é a chamada “sympoiesis” (trad: fazer em conjunto), um termo da Donna Haraway. Acho que para o atingirmos temos de ter uma visão mais empática de toda a existência, com todos os outros, e isso provavelmente traria-nos melhor qualidade de vida. Porque a vida tecnologicamente eficiente não nos garante felicidade de certeza.

S: Achas que a Bienal pode ser uma plataforma não só para os designers saírem dos seus projectos habituais, como para envolver a sociedade civil nos processos de design?
A.F.L: Isso requer uma certa confiança, claro, porque tens de liderar e facilitar enquanto estás a fazer design e tentas inspirar as pessoas. Mas é como um treinador de fitness que não te diz no primeiro dia para fazer 60 flexões, encontram uma forma para que vás dando pequenos passos. Talvez aquilo de que falamos aqui seja desses pequenos passos. O que fazes quando chegas a uma nova paisagem? Exploras os caminhos e tentas orientar, por isso diria que o objectivo é desencadear passos para levar o design em direções para onde não foi anteriormente. E isso com certeza vai levar-nos a algum lado. Se não levar, voltamos atrás e tentamos de novo.
Acho que temos de usar esta metáfora sobre terrenos e caminhos que podes seguir, e obviamente, andar sozinho pode ser muito agradável mas andar com os outros e ir conversando pode ser fascinante. É preciso considerar que caminho queremos seguir, com quem queremos seguir esse caminho e de que vamos falar. E as coisas acontecem. Nós temos muitas restrições nas nossas vidas, por várias razões, responsabilidades, hábitos, padrões, e sabemos que podemos ter encontros muito prazeirosos com pessoas com experiências de vida completamente diferentes que nos abrem a mente e o corpo para outras possibilidades. Mas isso requer uma atitude que não sinto muito por estes dias, uma atitude de: “porque não? Vamos tentar! Vamos tentar juntos! Não nos vamos preocupar com falhar, não temos nada a perder.”
S: Voltamos um pouco à questão da eficiência e da suficiência…
A.F.L.: Sim, e acho que há muita felicidade em encontrar a suficiência. Acho que uma das coisas que mais nos confundem hoje em dia é por ser tão fácil comprar coisas para a nossa vida, que não a tornam mais rica. Até podemos chegar a um ponto de saturação. Acho que o mercado tem sido muito esperto, pelo menos desde a grande depressão americana, com a disponibilidade do crédito e dos cartões de crédito. É demasiado fácil comprar coisas. Mas se compras coisas tens de trabalhar mais para pagar a dívida, e depois não tens tempo para fazer outras coisas. O mercado tem, de forma muito esperta, individualizado toda a gente. Isto foi comentado numa trilogia de livros, no final dos anos 1950, princípio dos 1960, por um jornalista, Vance Packard: The Hidden Persuaders, sobre o marketing, obviamente, The State Seekers, sobre as pessoas que queriam melhorar a sua condição e comprar mais e Waste Makers. Esta trilogia para mim continua muito ajustada a uma crítica contemporânea do ciclo de produção e consumo moderno. Basta olhar para as compras online, teve um boom e agora parece que há pessoas viciadas nisso. Esta individualização também é um problema.
Eu venho de um tempo, quando era estudante, em que havia muitas manifestações, muita acção directa. E como estudantes, nos anos 1970, nós conseguíamos a mudança. Agora vejo governos a ignorar protestos massivos de pessoas, por exemplo, contra o Brexit. Por isso temos de encontrar outras formas de nos mudar a nós mesmos para podermos mudar os outros. E a única forma é fazê-lo juntos. E isto leva-me para uma das ideias finais do meu livro sobre activismo, em que construo em cima da ideia do Alvin Toffler dos plebiscitos para o futuro (nos anos 70), os ‘mootspaces’ – a palavra inglesa moot, significa debate. A ideia era: as pessoas encontravam-se e discutiam e a reunião não acabava até chegarem a um consenso. Provavelmente teriam de suspender a reunião e voltar ao mesmo ponto de encontro. E sei que a nossa sociedade tem uma estrutura diferente, mas com esta proposta, eu estava a levantar a questão sobre o facto de os designers podem criar os espaços em que estas pessoas se juntam, em que a discussão acontecem. A ideia é dizer “vamos desenhar formas de as pessoas se juntarem e o que elas podem fazer quando se juntam”, isso é um grande desafio de design. E claro que pode ser online, ou até pode ser um espaço híbrido. Não estamos limitados a um tipo de espaço, mas tem de haver uma discussão, um discurso e isso pode ser facilitado através do design.


O João Gabriel Ribeiro é co-fundador e editor do Shifter. É auto-didacta obsessivo e procura as raízes de temas de interesse como design, tecnologia e novos media.
Apoia a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.
Outros artigos de que podes gostar:
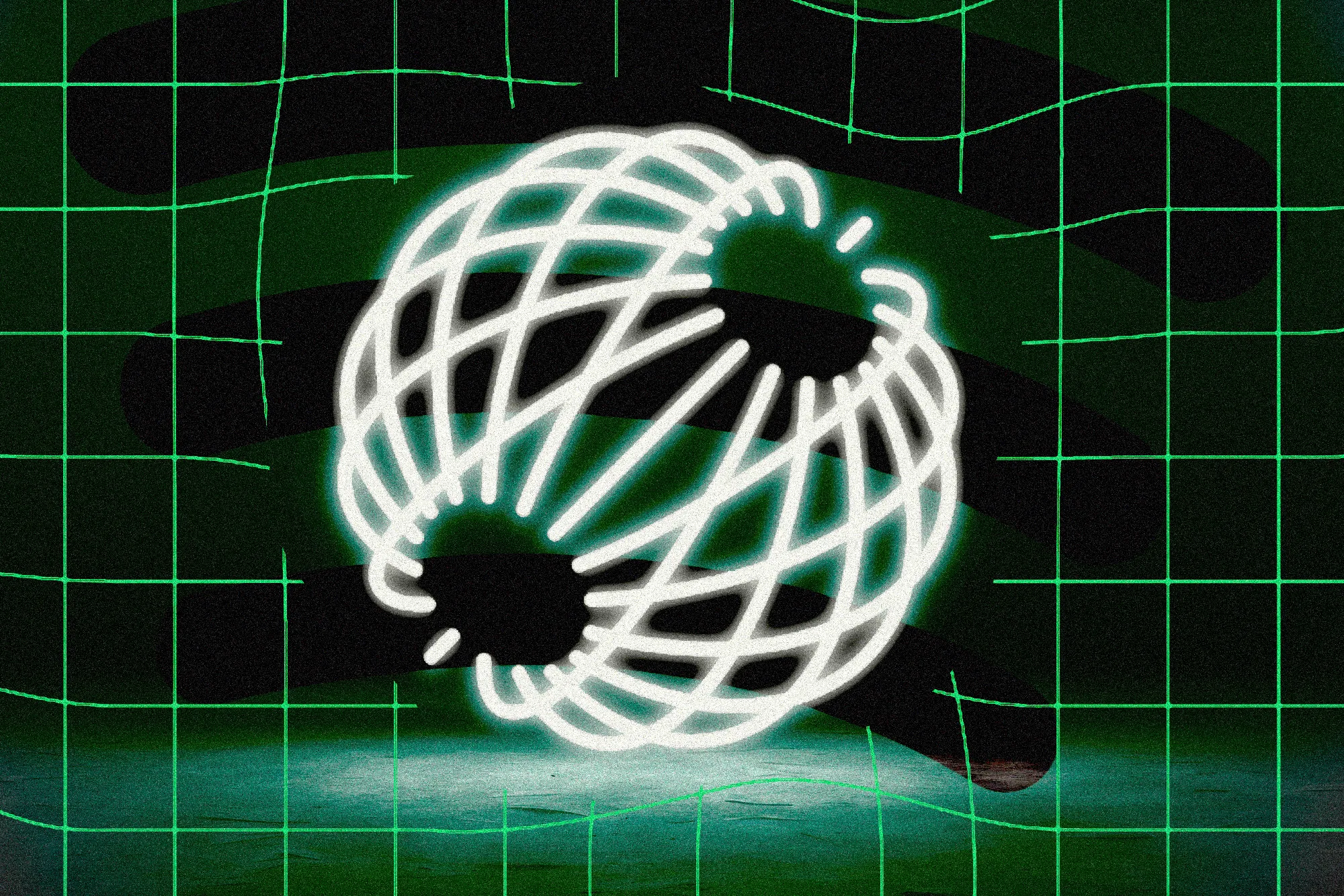



You must be logged in to post a comment.