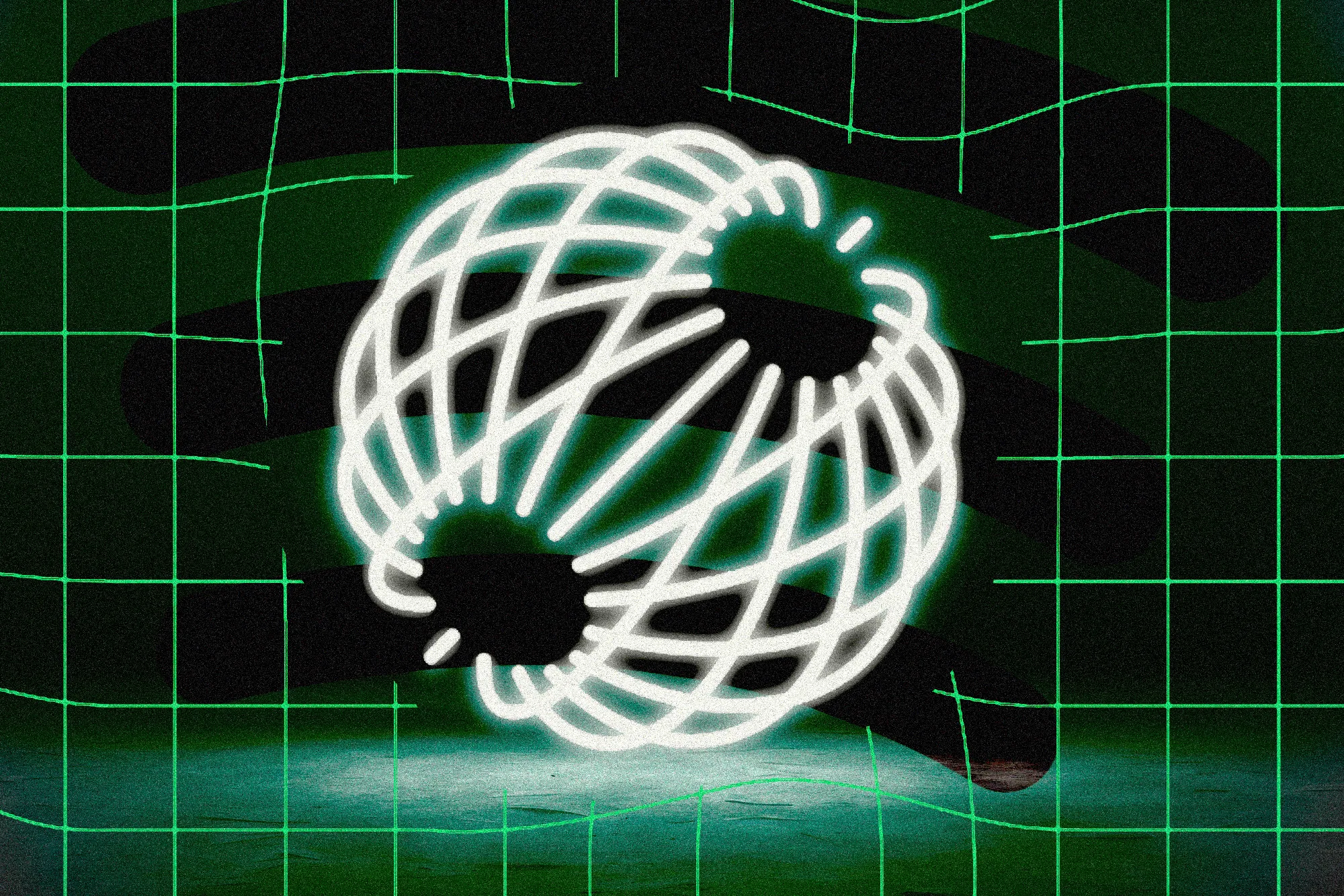

Era uma quarta-feira como outra qualquer quando, na minha ronda de final do dia pelo Discord, vi um post com a fotografia de Charlie Kirk como destaque. Pela força do hábito achei que se tratava de mais uma notícia sobre uma das opiniões bárbaras por que volta e meia se tornava viral, mas rapidamente percebi que se tratava de algo diferente. “Trump ally Charlie Kirk shot at Utah event, sources says.” Não demorou muito para que nesse mesmo Discord outro utilizador enviasse um link para o X.
Nesse link encontrava-se a gravação do momento em que Charlie Kirk falava no primeiro evento de uma tour programada pelo movimento político conversador, Turning Point USA, que fundou há 12 anos, quando foi baleado no pescoço. Uma bala disparada do topo de um edifício a cerca de 200 metros interrompeu Kirk depois deste especular sobre o número de pessoas trans responsáveis por tiroteios, quando se preparava para continuar a defletir o problema da violência com armas de fogo para cima da violência em gang.
Membro da audiência: «Sabe quantos americanos transgénero foram autores de tiroteios em massa nos últimos 10 anos?» Kirk: «Demasiados.» O mesmo membro da audiência continuou, dizendo que o número era cinco, e perguntou se Kirk sabia quantos autores de tiroteios em massa houve nos Estados Unidos nos últimos 10 anos. Kirk: «Contando ou não contando a violência dos gangues?»
Apesar de a violência armada se ter tornado praticamente normal no contexto norte-americano (nesse mesmo dia houve um tiroteio numa escola), e mesmo tendo os assassinatos políticos perdido o efeito mobilizador — 3 meses antes uma deputada democrata foi assassinada juntamente com o seu marido à porta de casa e outro senador ficou ferido num ataque semelhante — este caso tinha tudo para ser diferente. Quer por Kirk ser uma figura popular online, e próxima de Trump, quer pela transmissão explícita do acto.
Dito e feito. Nos Estados Unidos da América, a morte de Kirk desencadeou uma série de acontecimentos que davam outro texto tão longo quanto este. E, num momento dominado pela globalização das guerras culturais, a disseminação foi praticamente instantânea. À medida que a morte se viralizava e os utilizadores se viam instigados a comentar, as suas reações — ora de louvor a Kirk, ora de consternação, ora de escárnio — foram como achas para uma fogueira que ainda agora continua a arder, e onde se tentou queimar muita gente. Jimmy Kimmel foi um deles.
Como mostra uma peça do The Guardian, políticos de extrema-direita que nunca o tinham citado ou mostrado qualquer simpatia, apressaram-se a colocar o assassinato de Kirk na agenda política dos respectivos países. E como mostra a acção de Rita Matias, ao levar uma camisola com a cara de Kirk estampada para o parlamento, Portugal não é uma excepção nesta lista.
Ainda que o caso possa cair da agenda mediática e só volte aos telejornais para dar conta da sentença e da eventual execução do principal suspeito, Tyler Robinson, o assassinato de Kirk pairará sobre o debate político como um fantasma. E a forma como, depois da sua morte, o ultra-conversador norte-americano passou a ser descrito, e como o rastro online de Robinson e os poucos sinais que deixou se prestaram a estereotipificação, é uma parábola sobre as interpretações reducionistas das transformações da sociabilização online.
A morte de Charlie Kirk e a presumível prisão e execução de Tyler Robinson não são o momento final da história, mas antes o crime que revela o acumular da tensão. A oposição entre as duas figuras deste acontecimento pode ser conveniente, e fazer com que a narrativa encaixe no modelo de vigente, mas não conta toda a história. Mais do que dois intervenientes de pólos opostos do espectro político, Tyler Robinson e Charlie Kirk são dois produtos da mesma cultura.
Apesar de, para a vasta maioria dos portugueses, ser um nome desconhecido, Charlie Kirk não era uma figura marginal nos Estados Unidos da América. Pelo contrário, era o rosto online de uma nova era da administração de Trump, um dos influencers da esfera do movimento MAGA — um empreendedor bem sucedido na política norte-americana.
A sua estratégia passava por normalizar teorias da conspiração e ideias extremistas, e popularizar uma forma confrontacional de debate em que parecia mais interessado em “destruir verbalmente os seus oponentes”, como diz um deles, do que chegar a algum compromisso. Com uma retórica fluída, rapidez de raciocínio e uma lista de argumentos e referências bíblicas sempre prontas a disparar — independente do seu rigor — o activista conservador foi, não só “um dos profissionais mais eficazes da nossa era em matéria de persuasão”, como descrito por Ezra Klein no New York Times, mas também a síntese de uma nova cultura de debate político. Em que a forma e a persuasão se sobrepõem à moral, à veracidade ou ao compromisso; e se valoriza o entretenimento do confronto, acima de tudo.
E, se no mainstream se procurava inscrever Kirk na normalidade política, online os seus críticos espalhavam alguns dos maiores dislates, numa espécie de worst off de intervenções que revelava a sua verdadeira face no combate político. Ora sobre a capa da liberdade de expressão absoluta, do sarcasmo tipico da internet ou de um realismo machista (como se fosse o dono do senso comum), Kirk disse coisas como que o dinheiro judeu é responsável por arruinar a cultura americana, que os médicos que colaborem em cuidados de afirmação de género devem ser julgados como nazis, que os métodos contraceptivos deixavam as mulheres chateadas, que temia sempre que voava conduzido por um piloto negro, e que a empatia era um termo new age . E deu palco para que se dissessem tantas outras: como quando recebeu Jack Posobiec para falar do seu livro Unhumans: The Secret History of Communist Revolutions, em que apelida os progressistas de desumanos, defende o direito de os destruir e credita como co-autores nomes como Pinochet e Franco.
O perfil de Kirk é fácil de traçar e a sua afiliação política é óbvia: o seu rasto online é vasto e as suas afirmações não deixam muita margem para dúvida. Já Tyler Robinson não se presta a uma análise tão simples. O pouco que se encontrou do jovem online, como as fotografias mascaradas como um meme da série Pepe the Frog, é vago. E os testemunhos daqueles que o conheciam também não são conclusivos, muito menos descrevem um jovem politicamente engajado. Uma indefinição relevante, que fragiliza qualquer tentativa apressada de impor uma narrativa simplista de confronto político direto.
“Mais do que um ato político, este homicídio é um shitpost. Uma tentativa desesperada de chamar a atenção que não se compromete propriamente com uma ideia, a não ser com a sua própria ambiguidade.”
Embora a cobertura noticiosa tenha dado especial atenção às balas que diziam “hey fascista apanha” ou “bella ciao bella ciao”, como sinais claros da sua simpatia por ideias de esquerda, estas mensagens não devem ser lidas de forma tão literal. Como revela a combinação de setas depois da expressão “hey fascita apanha” — que desencadeiam o ataque mais forte do jogo Helldivers II — não são nenhum tipo de reivindicação política, mas memes. Como o “notices, bulges, OWO, what’s this?”, recriação de um meme de role play utilizado como paródia à comunidade furry utilizado tanto pela própria comunidade, como para a atingir de forma pejorativa. Ou, o que proporcionou um momento que mais parecia gerado por IA, quando o responsável pela investigação leu em voz alta “if you’re reading this you’re gay”.
Isto não quer dizer que Tyler Robinson não pudesse ser de esquerda, ou votar democratas nas próximas eleições. Só que talvez a política não seja o factor mais determinante na sua acção, mas o ódio. É o próprio que o diz nas mensagens que troca com o seu colega de casa e alegado namorado — um jovem que, segundo reporta a imprensa local, está em processo de transição de género — depois de confessar a autoria do crime. Entre assumir a sua intenção de criar um momento na Fox News (“Se vir «notices, bulge, OwO» na Fox News, vou ter um ataque cardíaco”) e elogiar a arma de família com que cometera o crime, Robinson é sucinto face aos seus motivos para matar Kirk: “Eu estava farto do ódio dele. Alguns tipos de ódio não podem ser negociados.
Embora pouco saibamos da vida de Robinson, pelas investigações preliminares e pela sua forma de expressão é fácil perceber que se movia na cultura gamer e em comunidades da internet onde o meme e o troll são formas de comunicação recorrente, mais do que livros de teoria marxista e grupos anarquistas. Assim, mais do que um ato político, este homicídio é um shitpost. Uma tentativa desesperada de chamar a atenção que não se compromete propriamente com uma ideia, a não ser com a sua própria ambiguidade. Levado a cabo por alguém que não mede as consequências dos seus próprios actos. Como mostra o tom descontraído das mensagens que troca depois do ataque e a expectativa em ver os seus memes ditos na televisão nacional. E, nesse sentido, mais interessante do que pensar onde Robinson se situa no espectro político e sobre o que este homicídio nos diz acerca da “a polarização das sociedades”, é perceber o que nos diz sobre a socialização e o debate político online.


Em 2015, o filósofo italiano Franco ‘Bifo’ Berardi publicou o livro Heroes. Nessa obra traça o perfil psicológico e o imaginário cultural de vários jovens responsáveis por homicídios em série. Em 2025, e em jeito de reação ao crime levado a cabo por Luigi Mangione, o autor voltou ao tema num ensaio para a e-flux. Para Berardi, e embora nos casos nos EUA a sua acessibilidade seja um factor a considerar, mais importante do que as armas são as mentes. No artigo em que identifica alguns dos novos heróis e esboça pequenas interpretações para os seus crimes, Berardi alerta para uma demência caótica que se instala em paralelo com o crescimento da automação do comportamento linguístico, dos percursos existenciais e das expectativas — ou seja, de todas as esferas da vida.
Dando o exemplo de um projetista que acelera o filme até ser impossível para o espectador perceber o que se passa no ecrã, Berardi ilustra uma sociedade onde se perdeu o tempo para a elaboração cognitiva e emocional de que homicídios como estes são o exemplo extremo. E como revela numa breve reflexão sobre as palavras do ano 2025 (brain rot, romantasy e demure), ninguém está a salvo do declínio cognitivo induzido pela velocidade da projeção a que assistimos; e as novas gerações nunca viram o filme na sua velocidade original.
O discurso sobre a polarização das sociedades e sobre extremos cada vez mais radicais pode render horas de comentário televisivo, mas não faz jus à realidade. Não só coloca pólos opostos no mesmo plano — como se fossem equivalentes —, como desvia a atenção das verdadeiras transformações em curso: aquelas que estão a mudar a forma como nos relacionamos uns com os outros e com as ideologias. Uma relação que está longe de ser literal.
Se, por um lado, é evidente que o discurso está mais radicalizado, especialmente online, por outro não há dados consensuais que mostrem que exista uma maior polarização, a não ser os resultados eleitorais onde o fenómeno está longe de ser simétrico (nunca alguém viu Kamala Harris, ou sequer Bernie Sanders a dizer coisas como as que Trump diz). Em sentido inverso, uma investigação reportada pela Time dava conta do facto curioso de que a América está, na verdade, menos polarizada do que parece, no que toca a concordar em determinados assuntos. Isto sugere que o que acontece actualmente não é tanto uma polarização, mas uma falta de meios de comunicação que permitam articular diferentes posições, e que criem uma representação dos outros que não sacrifiquem a sua complexidade e humanidade.
Hoje o mundo chega-nos aos pedaços. É por entre reflexões em carrossel de Instagram, threads obscuras do Reddit, virais absolutamente gráficos do X, partilhas em canais de Discord ou conversas de grupo de WhatsApp, que acompanhamos o que se passa um pouco por toda a parte. Notícias de mortes, denúncias de genocídios, opiniões polémicas, violência estatal, brutalidade policial, factos terríveis e prognósticos catastróficos invadem o nosso quotidiano por entre fotografias de restaurantes da moda, GIFs de gatinhos e memes crípticos. O que ontem era chocante hoje já desapareceu das stories, e o ciclo repete-se a cada 24 horas. Os acontecimentos vão-se amontoando como fragmentos de algo concreto de que não conhecemos nem a forma, nem o efeito. E, neste contexto, a articulação das ideologias e o que se chama radicalização tem um significado bastante particular. A forma como vemos o mundo mudou, mas não mudámos a nossa forma de ver o mundo.
“A performance torna-se um elemento central da acção política, mas as ferramentas de interpretação distorcem a escala dos acontecimentos — a forma como percebemos a sua relação com a realidade.”
No livro Imortalidade, publicado em 1988, Milan Kundera retratava uma sociedade onde a ideologia morrera e só restavam ícones e imagens simbólicas desprovidas de todo o seu valor substancial, onde a priorização das aparências dava lugar ao que chamou de imagologia (onde as imagens ocupam o lugar das ideias). Quase quarenta anos depois, coincidentemente os anos de ascensão da internet, dos smartphones e de toda socialização online, aquilo que assistimos é a aceleração deste fenómeno.
Numa experiência cada vez mais solitária e menos comunal da política, as ideologias estão num processo contínuo e constante a tornar-se um processo internalizado. Não são tanto uma forma de ver e organizar o mundo, mas uma forma de viver num mundo que não se compreende e não se suporta ver. Uma experiência internalizada que mais do que orientar a prática pública, se transforma numa forma de pressão individual, como pode ter sido o caso de Robinson, se acreditarmos na caricatura mais óbvia: de um jovem de direita que se apaixonou por outro jovem trans, violando um código chave do seu grupo de pertença ideológico (o que não é certo, mas é uma hipótese).
Numa altura em que a literacia digital ainda é baixa, o Discord continua a ser apresentado nas notícias como Dark Web e memes passam por afirmações, falhamos em compreender a complexidade dos efeitos para além dos estereótipos. Não só os seus efeitos sistémicos, como nos próprios indivíduos e na forma como desenvolvem as suas subjetividades, nomeadamente políticas. E se é certo que a maioria de nós não concebe sequer a ideia de pegar numa arma, provavelmente já todos nós dissemos ou assistimos a pares nossos dizerem coisas online que nunca diriam de outra forma, um sinal claro da susceptbilidade global a esta mutação.
Hoje em dia é frequente vermos online sugestões para que outros utilizadores se matem, ou outras demonstrações do género reveladoras de uma profunda desumanização do discurso público. Mas mais do que resultado de um acicatar das divisões políticas, estas incidências expressam a ausência de uma gramática política concreta para articular a divergência de uma forma que não desconsidere por completo o outro. Assim como a cedência a uma fórmula onde o choque compensa — gera reações, engajamento, entretenimento, tudo aquilo que se procura numa rede social mesmo que por vezes não se queira realmente encontrar.
Vivemos um momento em que o papel das ideologias (ou imagologias) parece estar dependente da criação de virais e do sucesso online, mais do que a mudanças políticas concretas, sustentadas e pelo bem comum. Sentimos que todo o arsenal político se converteu numa miríade de ações simbólicas cujo propósito facilmente se perde. A performance torna-se um elemento central da acção política, mas as ferramentas de interpretação distorcem a escala dos acontecimentos — a forma como percebemos a sua relação com a realidade. Neste contexto, torna-se impossível percebermos as consequências de cada acção. Os símbolos deixam de valer tanto pelo que representam de facto, mas pelos likes que conseguem gerar, as contas que conseguem mobilizar. Numa dinâmica completamente subvertida pelos critérios algorítmicos que privilegiam as emoções fortes, o choque e a violência a tudo resto — especialmente desde a chegada de Musk ao X — que inspira todo o comportamento online.
O homicídio de Charlie Kirk e a cadeia de memes que o envolveu não são um duelo entre duas ideologias antagónicas; são sintomas extremos das mesmas lógicas: da política convertida em espetáculo e da noção de agência moldada por algoritmos e pela vontade do ratio (ter mais likes que aquele a quem se responde). Se quisermos escapar desta sombra, não basta apontar culpados ou encaixar protagonistas em caricaturas ideológicas. É preciso repensar os modos de sociabilidade digital e recuperar espaços de cooperação que não sejam apenas centros de disputa por atenção. Que não se transformem facilmente em esquemas de pay to win em que quem paga é beneficiado — seja directamente comprando alcance com patrocínios ou através da orquestração de redes de bots.
O problema não está na juventude, nem na suposta incapacidade de decifrar emojis ou memes, mas na fragilidade de sistemas políticos e sociais incapazes de resistir à mutação imposta pelo capitalismo tecnológico — que devora laços comunitários e todos os checks & balances democráticos em nome do lucro. Como quando converte grupos de amigos em redes sociais, faz dos likes a métrica da socialização ou institui o ragebait como meta.
A solução não passa por limitar o que os jovens podem fazer, aumentar a vigilância, acabar com a encriptação, mas por desenhar experiências alternativas de sociabilização que sirvam de contraponto a uma experiência solitária do mundo moldada por algoritmos; por defender a transparência algorítmica e novas formas de propriedade do espaço público digital que não deixem todo o mundo sujeito às normas do capitalismo — que não deixe gerações sem ferramentas para saber distinguir entre a ficção e a realidade, a verdade e a mentira, o moral e o imoral.
Kirk era o influencer que achava que podia dizer tudo pelo seu estatuto e nada lhe ia acontecer. Robinson, o lurker que achava que não tinha direito a dizer nada. O tiro foi uma desproporcionada tentativa de equilíbrio. Uma desesperada reclamação por agência perante uma interminável sensação de impotência. Como lembra ‘Bifo’ Berardi, a demência caótica cresce ao ritmo da automação; e, se continuarmos a aceitar as falsas promessas da tecnologia (da IA à personalização da educação), que cada vez nos conduzem a vidas mais solitárias, arriscamo-nos a perder de vez a capacidade de construir sentido em comunidade.


O João Gabriel Ribeiro é co-fundador e editor do Shifter. É auto-didacta obsessivo e procura as raízes de temas de interesse como design, tecnologia e novos media.
Apoia a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.
Outros artigos de que podes gostar:
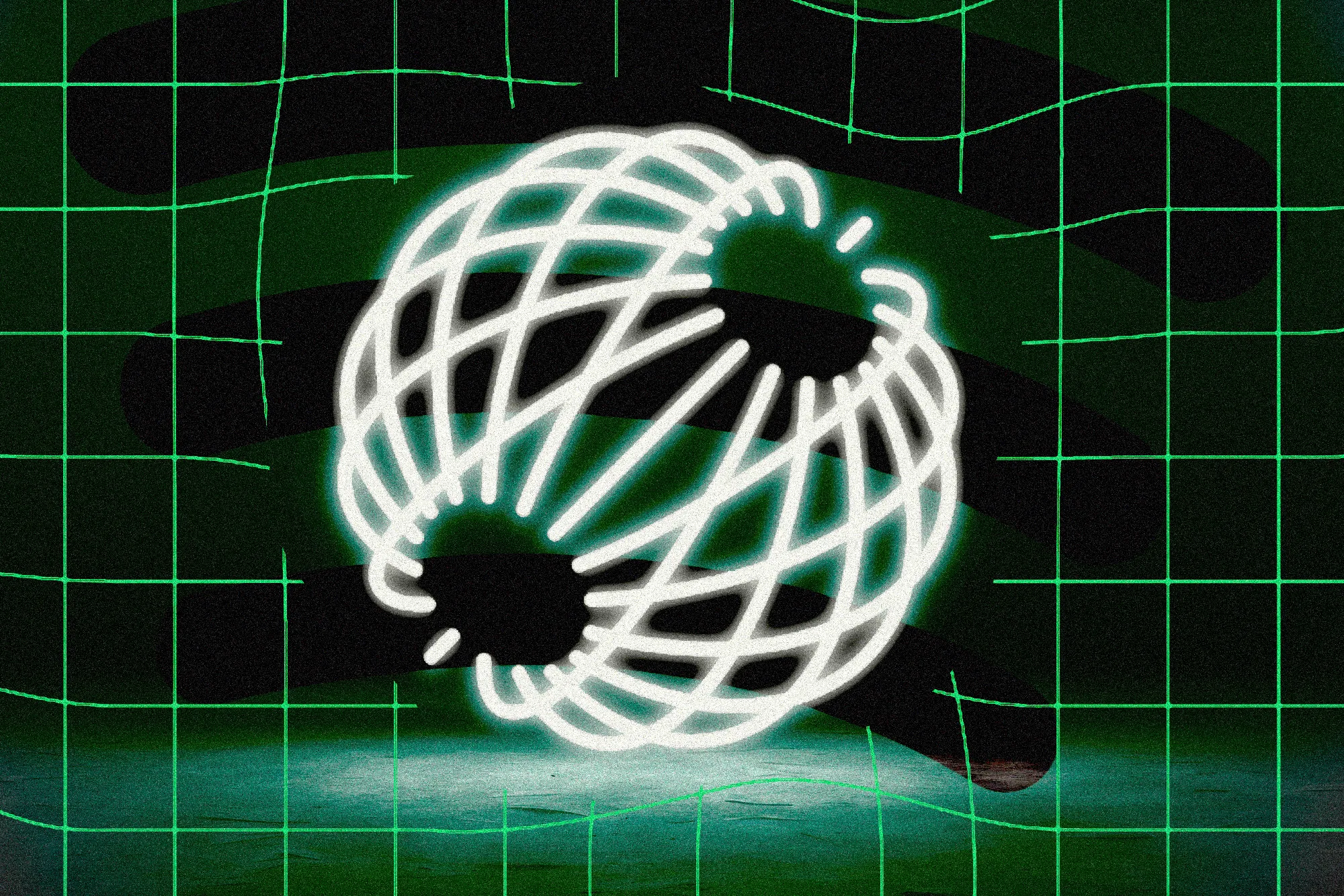



You must be logged in to post a comment.