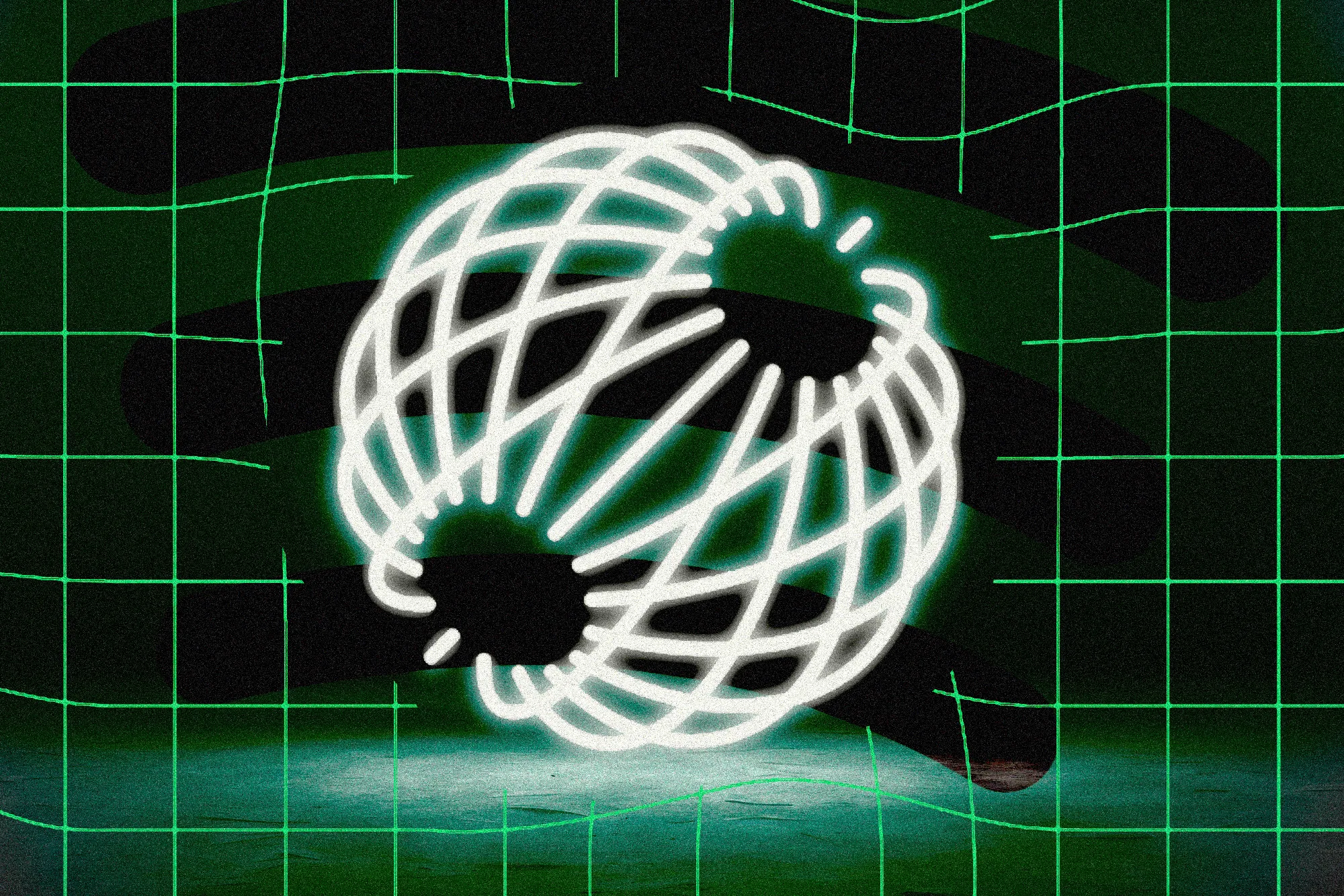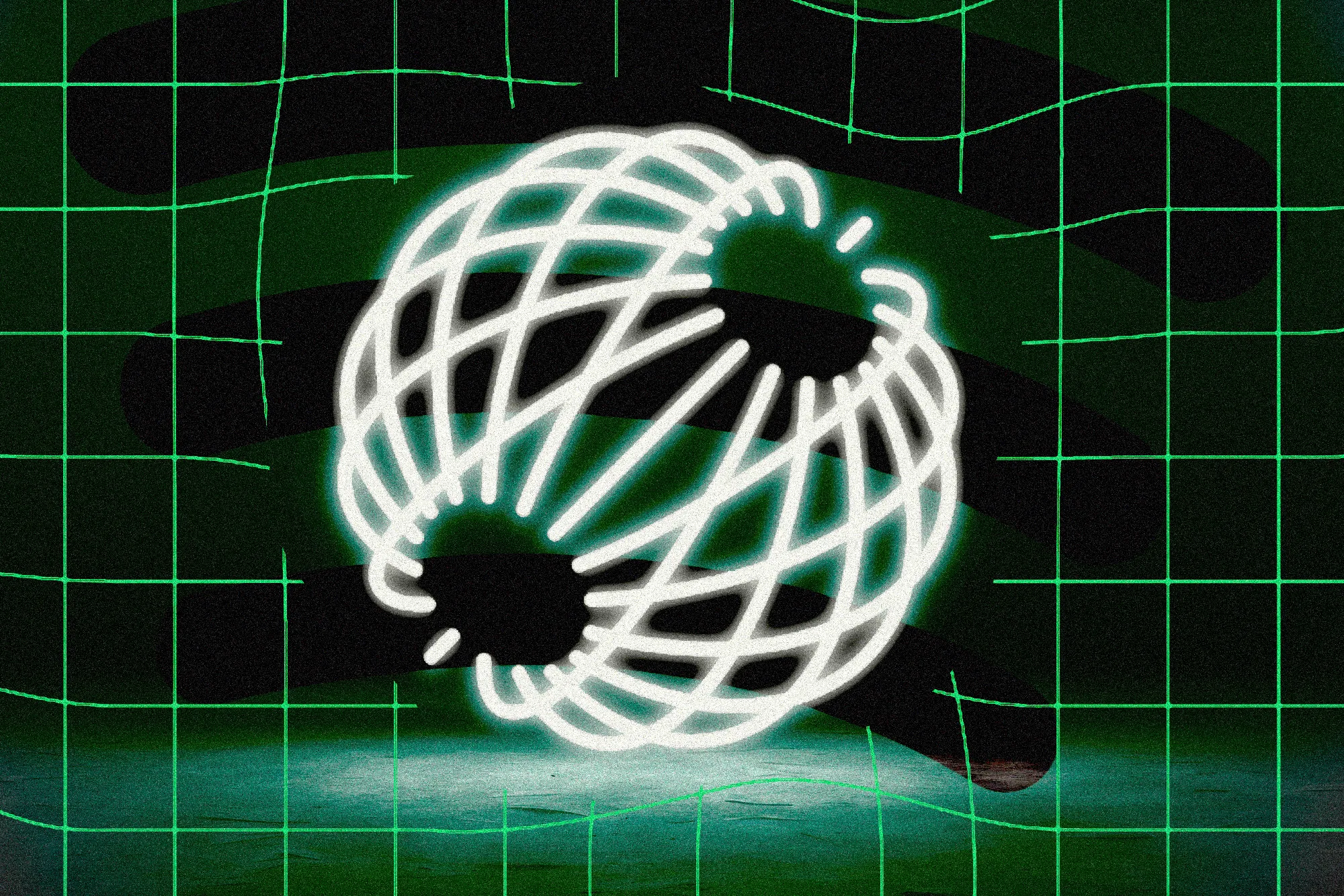

Imagina o seguinte cenário: dois concorrentes são postos em salas separadas. Em jogo estão 100 mil euros mas, para definir quanto ganha cada um, primeiro têm de tomar uma decisão. As opções são simples. Cada jogador só tem duas possibilidades: cooperar ou não cooperar. E o resultado está pré-determinado. Se ambos cooperarem, cada um recebe 50 mil euros. Se um cooperar e o outro não, o que não cooperou fica com os 100 mil e o outro com zero. Se ambos recusarem cooperar, ambos ganham apenas 10 mil.
Sem qualquer contacto, estratégia previamente combinada ou pista sobre o que o outro possa fazer, cada concorrente tem de tomar uma só decisão que define o desfecho do jogo. O que escolherias?
Este jogo, que provavelmente já viste num dos vídeos em que o youtuber Mr Beast convida pessoas a competir por centenas de milhares de euros, é uma das muitas versões populares do Dilema do Prisioneiro. O dilema ganhou este nome porque, na versão inicial, os jogadores são dois suspeitos de um crime e a recompensa é uma pena de prisão reduzida. Mas a sua popularidade rapidamente fez com que proliferassem dezenas de adaptações nos mais diversos contextos.
Em teoria, num cenário perfeito como o caso descrito, seria de prever que ambos os jogadores escolhessem a cooperação e dividissem o prémio de forma igual entre si. Mas as relações ilustradas por este jogo não se passam num cenário perfeito. E a iminência da traição faz o caso mudar completamente de figura. Numa espécie de paradoxo da confiança, as regras do jogo beneficiam a cooperação quando é mútua, mas recompensam a traição em caso de divergência de posições.
Apesar da simplicidade, o jogo capta de forma paradigmática a tensão entre o bem comum e o interesse individual numa relação. O padrão que captura repete-se em vários contextos e, apesar de, no vácuo, poder parecer banal, o modelo aplica-se nas mais diversas áreas. E é precisamente essa capacidade de condensar a complexidade das escolhas humanas em estruturas lógicas aparentemente simples que o torna num dos ex libris da Teoria dos Jogos. E que torna a reflexão sobre a Teoria dos Jogos num exercício fundamental para entendermos a essência das guerras a que assistimos todos os dias — da Ucrânia a Gaza — e a sua naturalização no nosso quotidiano.
A Teoria dos Jogos foi esboçada pela primeira vez em 1928 quando o húngaro John Von Neumann publicou o artigo “Zur Theorie der Gesellschaftsspiele” (“Sobre a Teoria dos Jogos”). Neumann propunha a matemática como ferramenta para estudar jogos de soma zero (em que a derrota de um jogador é a vitória do outro) entre dois jogadores. Reza a lenda que o matemático era um apreciador de poker e que foi a sua vontade de formalizar o significado do bluff que o levou a desenvolver as primeiras matrizes da disciplina. Von Neumann terá querido provar que o poker não era apenas guiado pela probabilidade, e que podia haver uma forma de minimizar as suas perdas, mas não se ficou por aí. ‘Jogos’ lia-se não como uma referência a uma actividade lúdica mas como metáfora para representar interações.
Depois de um percurso brilhante dividido por várias universidades Europeias (Berlim, Zurique e Gottingen), Neumann — personagem principal de Maniac, livro de Benjamin Labatut — viajou para os Estados Unidos da América em 1929 e continuou a dar nas vistas como um génio fora de série. Em 1943 ingressou no Projecto Manhattan, tornou-se uma figura importante nos cálculos para o lançamento da bomba atómica e para a optimização do voo dos bombardeiros, mas não abandonou aquela que viria a ser uma das suas mais influentes criações.
Em 1944 publicou, em co-autoria com o economista Oskar Morgenstern, Theory of Games and Economic Behavior, livro fundador de toda uma disciplina onde a Teoria dos Jogos se aplicaria nos mais diversos domínios, como a economia. E continuou a aplicar esta ideia de modelação dos jogos através da acumulação de variáveis em busca de uma solução óptima, nos contextos que o rodeavam. Cada vez menos sozinho.
No período do pós 2ª Guerra Mundial, depois de dar alguns dos passos iniciais da computação moderna, Neumann junta-se à RAND, think tank norte-americano próximo do Departamento da Defesa dos Estados Unidos da América, e torna-se num dos responsáveis por estudar a possibilidade de uma guerra nuclear e quais as melhores estratégias a implementar.
“A modelação do conflito como uma relação entre duas partes simetricamente opostas, sem qualquer interesse comum, como proposto por Neumann, sugeria o ataque como inevitável e a sua antecipação como estratégica. Mas como a vida não é o jogo, e o mundo não é uma simulação, a concretização do ataque foi sendo adiada perante a iminência da destruição mútua.”
Numa altura em que os Estados Unidos já tinham detectado a capacidade nuclear da União Soviética, e em que, na RAND, Merrill Flood e Melvin Dresher trabalhavam no Dilema do Prisioneiro, Neumann era um dos proponentes da ideia de uma guerra preventiva que antecipasse o inadiável. Nas suas palavras: “Se me dizem porque não bombardear amanhã, eu digo, porque não bombardear hoje? Se me dizem hoje às cinco da tarde, eu pergunto porque não à uma?”. O matemático entendia a tensão nuclear como um jogo de soma-zero, onde ambas as partes tinham interesses completamente antagónicos, e essa ideia inspirou uma corrida desenfreada ao armamento nuclear. Cada um dos blocos acumulou capacidade destrutiva suficiente para obliterar o outro várias vezes, investindo milhões em armamento excedentário — tão simbólico quanto inútil.
A modelação do conflito como uma relação entre duas partes simetricamente opostas, sem qualquer interesse comum, como proposto por Neumann, sugeria o ataque como inevitável e a sua antecipação como estratégica. Mas como a vida não é o jogo, e o mundo não é uma simulação, a concretização do ataque foi sendo adiada perante a iminência da destruição mútua — especialmente depois da escalada de conflito que ficara conhecida como Crise dos Mísseis, em 1962, que deixou o mundo à beira de um desastre nuclear sem precedentes.
Esta nova dinâmica de relação, em que a ameaça latente se torna uma plataforma para a dissuasão, daria origem a uma nova era da guerra. O jogo deixava de ser visto como tendo como objectivo primordial a destruição do adversário, passavam a conceber-se estratégias para conservar o equilíbrio na dissuasão. E a modelação matemática acompanhava estes desenvolvimentos.
John Nash — posteriormente Nobel da Economia e retratado no icónico Uma Mente Brilhante — propunha uma forma diferente de olhar para os conflitos: rejeitava a ideia de que eram sempre jogos de soma-zero e vislumbrava a possibilidade de equilíbrios estáveis mesmo sem cooperação explícita. O chamado Equilíbrio de Nash ajudava a pensar estratégias em que nenhuma das partes teria incentivos para agir, mesmo num cenário de tensão extrema.
Embora não tenha originado a doutrina da Destruição Mútua Assegurada (MAD), esta formulação de Nash ajudava a conceptualizar em termos matemáticos a estabilidade baseada na dissuasão. E, com isto, surgiam na mesa das decisões novos elementos. Para além da corrida ao armamento, entravam agora em cena variáveis como incentivos, castigos, recompensas, espionagem, vigilância e comunicação. A guerra deixava de ser a preparação para um confronto físico iminente para se tornar um jogo estratégico fora do campo de batalha, onde para além dos jogadores reconhecidos, surgiam instituições mediadoras, canais de comunicação e diplomacia, e campanhas massivas de propaganda.
Há muitas formas de olhar para a história e de a tentar compreender. Uma dessas formas é olhar para as disciplinas que nascem e triunfam em determinados momentos históricos, e perceber como os pressupostos que as sustentam acabam por também as limitar. Teorias são ferramentas, e as disciplinas são as caixas onde estas se arrumam, e com que os agentes se equipam para enfrentar os problemas.
No caso da Teoria dos Jogos, podemos dizer que a sua consolidação ajudou a moldar a lógica do paradigma nuclear, sobretudo após o momento de confronto entre EUA e USSR. Oferecendo um quadro de racionalização do conflito, a disciplina contribuiu para a elaboração de estratégias de dissuasão e abriu terreno para a negociação de acordos multilaterais como o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Mas nem por isso contribuiu para um fim do jogo — ou dito o fim da história que seria proclamado mais tarde aquando da temporária dissipação da ameaça nuclear.
O equilíbrio não pôs fim aos grandes confrontos políticos, não trouxe alguma previsibilidade inviolável, ou um sistema de regras a que todas as partes se veem obrigadas a aderir, nem acabou por completo com o fantasma das bombas atómicas. Esta ferramenta teórica contribuiu para a dissolução de alguma da carga moral e política da guerra, que passou cada vez mais a ser articulada como uma espécie de ciência. E fez crescer a influência de uma tecnocracia da guerra, em que as decisões políticas são mascaradas por uma suposta racionalidade – que abstrai os seus próprios pressupostos como se estes fossem neutros, mas não os elimina.
“A internet não só é campo de batalha através de ciberataques, campanhas de vigilância massiva que permitem acesso a informação sensível, como é um importante prolongamento do jogo da guerra — onde as regras implícitas são simultaneamente aceleradas e naturalizadas.“
Como sugere no documentário The Trap, o realizador britânico Adam Curtis, esta mudança conceptual não aconteceu no vácuo. A Teoria dos Jogos atingiu o seu sucesso pelo facto de encaixar perfeitamente nas condições materiais e tecnológicas que se estavam a criar — a evolução dos computadores, com uma crescente capacidade de recolher e analisar informação, cruzar variáveis e correr simulações. E garantiu a sua perpetuação ao propôr o esquema que viria a contaminar várias áreas, incluindo a política.
Se esta racionalização da guerra terá sido fundamental para evitar um desastre nuclear sem precedentes, a cristalização desta teoria enquanto forma de olhar para o mundo ajuda a explicar o estado de guerra permanente que tem vigorado desde então — com momentos de maior e menor actividade —, mas também a proximidade entre o desenvolvimento tecnológico e a indústria militar.
Paradoxalmente, com o fim da Guerra Fria, e o tal fim da história, deixaram de ser só os generais, políticos, estrategas, a olhar para o mundo pela lente da guerra. Todo o mundo ocidental, direta ou indiretamente, passou a partilhar deste enquadramento. E se acreditávamos que a internet seria capaz de contrariar esta visão, oferecendo-nos uma via de comunicação e acesso sem intermediários com outras culturas do mundo, disponibilizando toda a informação que precisássemos para o progresso, aquilo a que temos assistido é o inverso.
A internet não só é campo de batalha através de ciberataques, campanhas de vigilância massiva que permitem acesso a informação sensível, como é um importante prolongamento do jogo da guerra — onde as regras implícitas são simultaneamente aceleradas e naturalizadas. A gramática da guerra passou a aplicar-se noutros contextos. Os países passaram a ser cada vez mais vistos como os seus regimes, as populações um número abstrato de valor arbitrário, a violência — por mais perversa que seja – foi-se normalizando como um mal necessário justificado por uma equação, e todos nos tornámos uma espécie de npcs (os personagens de um jogo que não têm agência e apenas servem de figuração) neste jogo de guerra.
Como sugere Jonathan Crary em Terra Queimada, o seu livro recente: “O desenraizamento e o deslocamento para a internet de populações de todo o mundo confirmam a insistência de Paul Virilio — que nos anos 80 parecia hipérbole — de que o que dantes eram civis são hoje alvos permanentes numa nova logística de guerra adaptada à velocidade das redes de dados.” Se a promessa conceptual da internet, das infraestruturas descentralizadas, à comunicação sem intermediários, sugeria um espaço público alternativo que podia ser o princípio da emancipação dos povos, a sua materialização e consolidação foi no sentido inverso. As dinâmicas da Guerra Fria só desapareçam da nossa vista à medida que passaram a fazer parte da programação implícita. O jogo da guerra não acabou — apenas se descentralizou, multiplicando-se em réplicas invisíveis que agora moldam desde os nossos hábitos digitais às políticas públicas.
Mesmo sob o verniz de racionalidade estratégica, continuam a prevalecer lógicas de poder, força e intimidação. O normal passou a ser tudo o que seja passível de articular dentro das dinâmicas do jogo e de descrever como forma de evitar um mal maior. E estes limites são altamente subjetivos, fruto de uma negociação implícita na cultura ocidental globalizada — cada vez mais polarizada e fragmentada. Como demonstram os episódios recentes de confronto entre o Irão e Israel, o fantasma do nuclear continua a pairar sobre as nossas cabeças, e a sua instrumentalização retórica continua a ser pretexto para a guerra — e até para o desprezo do árbitro — desde que articulado da forma certa, como demonstram os acontecimentos recentes.
Em Gaza, a justificação continua a ser os ataques do Hamas a 7 de Outubro e os 50 reféns já serviram de pretexto para a morte de mais de 50 mil pessoas sem uma condenação sonante ou ação concreta dos principais atores internacionais, e continua a ser argumento nas milhentas discussões online. Já no caso do Irão, não foi preciso muito tempo para que os Estados Unidos da América entrassem em cena para secundar e legitimar a reação de Israel, baseada nas informações obtidas pela Agência Internacional Atómica que até aqui monitorizava o desenvolvimento nuclear no Irão como parte do acordo estabelecido do Tratado de Não Proliferação Nuclear que, recorde-se, não é subscrito por Israel. E esta jogada até tem valido a sugestão de Trump para Prémio Nobel da Paz, mesmo que significa a saída do Irão do acordo do tal tratado.
O estabelecimento do equilíbrio numa base de desconfiança, e não de cooperação, revela rapidamente os limites de uma ordem baseada na racionalidade estratégica, e como o ditame prevalente continua a ser a lei do mais forte. Se durante os anos da Guerra Fria o movimento contra o nuclear tinha expressão e era uma plataforma política relevante, com o passar do tempo essa mobilização fragmentou-se, e a posição pacifista começou a ser progressivamente caricaturada. E como este caso recente torna claro, até o próprio direito internacional e as instituições de tutela mundial, veem a sua legitimidade questionada por quem detém poder de facto, isto é, militar.
A lógica da guerra, a obsessão por predição comportamental e cálculo do mal menor (ou da solução óptima) tornou-se móbil do desenvolvimento. O paradigma da Guerra Fria — centrado na simulação, antecipação do movimento do outro, vigilância constante e racionalidade algorítmica — não desapareceu com a queda do Muro de Berlim, nem com o desenvolvimento tecnológico nos anos que lhe seguiram, como podia ser expectável. Em sentido inverso, foi traduzido para o código de serviços e plataformas digitais que hoje são a base da vida pessoal e social. E continuando a citação de Crary, a ideia de Virilio inscreve-se num argumento mais amplo “de que a máquina cada vez maior de fazer guerra não pode coexistir com a sociedade civil e que a fundação do programa do Exército é um «não desenvolvimento social»”.
A reconfiguração do jogo da guerra moldou definitivamente o imaginário social: vivemos sob a constante pressão de otimizar, vigiar, prever, mas também de nos posicionarmos do lado certo de guerras sobre as quais não temos todas as informações. Mais do que isso, a guerra já não é um estado de exceção. É o pano de fundo da nossa existência, da sociabilização e da política. Mesmo que as razões dos nossos conflitos nos possam parecer distantes, os vídejogos, as notícias e comentários 24/7, o live-streaming da guerra, e a moderação algorítmica, mantém-nos culturalmente sequestrados neste tabuleiro.
“A abstração que a tornou tão útil acabou por desumanizar conflitos, delegar decisões em algoritmos, transformar vidas em números, e mascarar decisões morais com operações estatísticas.”
Numa espécie de recriação da série Severance, estamos presos num jogo imersivo, num universo virtual onde não conseguimos sequer medir o nosso impacto e a consequência das nossas acções. Online, nunca sabemos quando, ao estar a resolver um captcha, não estamos a participar no treino de um software de Inteligência Artificial que vai servir para guiar mísseis; quando os nossos dados de saúde estão a ser tratados por uma empresa de espionagem e guerra; quando ouvir música pode estar a contribuir para os investimentos em Inteligência Artificial militar; quando a nossa subscrição de um software pode estar a financiar a cloud usada na guerra. A interface esconde as relações materiais, e os termos e serviços da tecnologia que utilizamos mudam sem que o processemos a tempo. Todos somos obrigados a participar no jogo, mesmo sem perceber.
A lógica da Teoria dos Jogos tornou-se um prisma através do qual passamos a ver a política, a economia e as relações humanas; tudo ao mesmo tempo. Mas esta lógica não é neutra, e, assim sendo, os seus pressupostos são limitações à nossa forma de ver e viver o mundo. A abstração que a tornou tão útil acabou por desumanizar conflitos, delegar decisões em algoritmos, transformar vidas em números, e mascarar decisões morais com operações estatísticas. E a sua influência, vai para além dos artefactos culturais que explicitamente versam sobre a guerra (como as diferenças de tratamento nos noticiários, as narrativas dos filmes de Hollywood, ou os plots dos principais jogos de guerra). A sua perpetuação condiciona os espaços públicos (e até privados) da nossa existência, sobre a forma de moderação censória, shadow-ban, ou iminente cumplicidade, mas também através da polarização que induz nas nossas sociedades a partir desta tomada de posição obrigatória sobre um jogo de guerra em que o nosso papel é residual.
Em suma, tendo surgido como uma ferramenta para dar sentido à complexidade do mundo e às múltiplas informações, esta ferramenta acabou por se transformar num modelo conceptual que condiciona profundamente a nossa capacidade de imaginar um mundo diferente. A insistência dos poderes hegemónicos para explicar através de modelos simples toda a complexidade das relações fez com que fossemos esquecendo que essa complexidade continua lá, e assumíssemos uma certa visão otimizadora do mundo como a única possível, com todos os danos colaterais para a nossa capacidade de empatizar com o outro.
Tal como em Severance, em que as personagens não percebem porque têm de fazer o que fazem, e vivem num conflito constante a partir do momento em que descobrem que existe um mundo lá fora, o reconhecimento dos pressupostos da Teoria dos Jogos é o primeiro passo para imaginarmos para além dos seus limites. Talvez isso não nos dê nenhuma pista concreta sobre o que fazer a seguir, ou sobre como ser mais consequente nas nossas manifestações, mas pelo menos deixa-nos alerta sobre o potencial sequestro da nossa imaginação.


O João Gabriel Ribeiro é co-fundador e editor do Shifter. É auto-didacta obsessivo e procura as raízes de temas de interesse como design, tecnologia e novos media.
Apoia a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.
Outros artigos de que podes gostar: