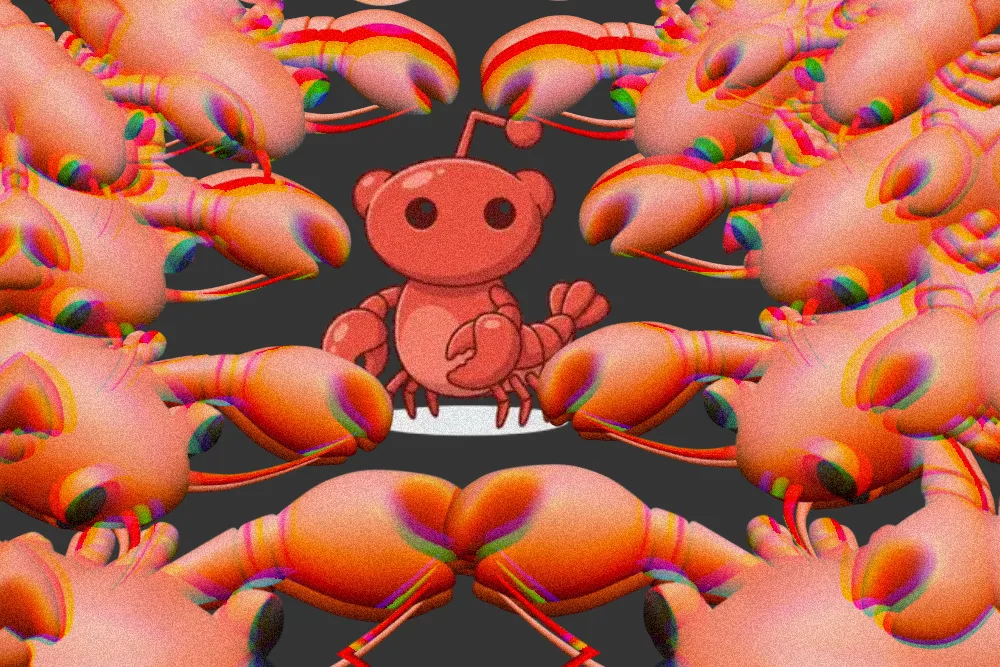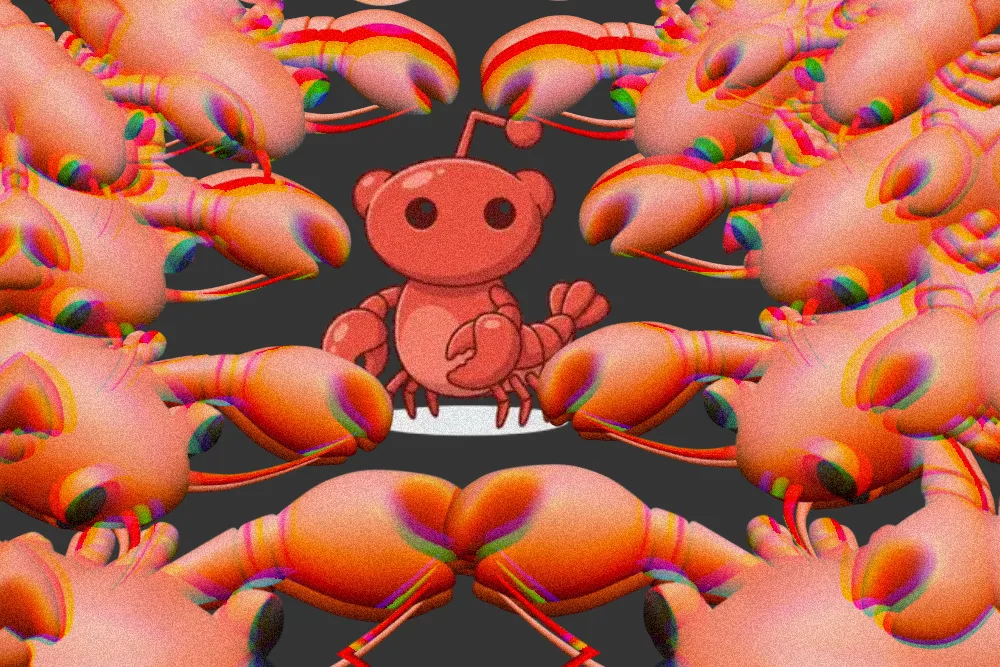

«A cultura de clube e a vida noturna sempre foram partes importantes da minha identidade». Quando começou a estudar História da Arte na Universidade de Amesterdão, Manique Hendricks trabalhava no bar mais antigo da Holanda, em Haarlem, atrás do balcão. Com o tempo começou a organizar festas e a ser responsável pela decoração, a entrega a este espaço foi-se expandindo. A relação de Manique com Stalker estava muito para além de questões laborais. Foi lá que uma grande parte da sua identidade foi moldada, enquanto adolescente, e onde conheceu muitos dos seus amigos mais próximos. Antes de ser um local de trabalho, o Stalker já era uma escola: «Lá, aprendi mais sobre modelos não hierárquicos de criatividade coletiva e a potencial liberdade que reside na pista de dança».
Quando o clube fechou, em 2019, a preocupação de Manique foi salvar as memórias que se iam perder. O material recolhido pelo arquivo local acabou por ser usado numa exposição. Foi a primeira vez que a historiadora de arte juntou estes dois mundos que existiam em paralelo na sua vida, o trabalho em museus e a vida noturna, porque até lá tinha medo de ser julgada ou parecer pouco profissional. Mas a verdade é que, para si, nunca estiveram assim tão distantes: «Pessoalmente, nunca senti diferenças entre experienciar um DJ set incrível ou ver uma performance drag que me leva às lágrimas, e observar uma pintura do século XVII ou um trabalho de videoarte num museu. Tudo isto é arte a ser partilhada com o público». Depois desta exposição sobre a vida do Stalker, já fez pelo menos mais três que permitiram este cruzamento de mundos – The Rhythm of The Night, To Dance is To Be Free e The Art of Drag.
Pode-se contar uma outra história das cidades a partir dos clubes que lá existem ou existiram. Dentro de portas, houve sempre um mundo em ebulição, mesmo quando cá fora tudo parecia monótono. Sobretudo quando cá fora tudo parecia monótono. Foi nestes lugares que muitas pessoas encontraram as suas comunidades, que tiveram uma oportunidade para existir em plenitude, que foram celebradas, que dançaram para existir noutra dimensão. Quando os seus corpos, sozinhos ou acompanhados, eram criminalizados na via pública, os clubes eram espaços seguros. Quando as suas famílias lhes negavam afeto, também. Historicamente, os clubes e o clubbing são espaços e práticas de resistência.
Um nome que surge quando pensamos nesse legado político é Stonewall; mas a História também se conta através de muitos clubes anónimos que foram desaparecendo e cujos arquivos não resistiram ao tempo. Foi nestes lugares que “liberdade” e “cuidado” foram palavras de ordem. E até as histórias dos que ficaram para a posteridade vão sendo questionadas: sabemos hoje que a revolta de Stonewall, que se deu no bar nova-iorquino Stonewall Inn, em junho de 1969, foi protagonizada pelas ativistas trans* Marsha P Johnson e Sylvia Rivera. Mas durante muito tempo a narrativa oficial destacava o papel de homens gays brancos que frequentavam o clube – eram eles que tinham acesso à imprensa e eram lidos como credíveis, portanto tornaram-se os porta-vozes do acontecimento.
Mas mesmo quando não estavam a acontecer rebeliões, estes espaços já eram políticos. E o tempo tem mostrado que há histórias que precisam de ser resgatadas, tal como os nomes de Marsha P Johnson e Sylvia Rivera foram. Quando falamos de práticas de clubbing ou de raving, a música eletrónica está na banda sonora que rebenta nas colunas. E se o legado dos anos 90 no Reino Unido é importante recordar, é preciso ir mais longe para descobrir as raízes negras da música eletrónica. É preciso descolonizar a história que nos chega ao presente para perceber a sua verdadeira riqueza. Foi a experimentação e mestria de músicos negros em Detroit que fez nascer o techno – Dan Sicko já o mostrava no livro Techno Rebels, em 1999. Electrifying Mojo (Charles Johnson), Ken Collier, The Wizard (Jeff Mills) e outros tantos tiveram um impacto no que, posteriormente, começou a ser criado por músicos brancos na Europa. E foi o papel de pessoas LGBTQIA+, predominantemente racializadas, que contribuiu para o surgimento do house em Chicago.
Manique Hendricks diz que «a cultura de clube e a política estão historicamente interligadas, com os clubes e as raves a servirem como espaços para o ativismo e ideias radicais», mas esta relação nem sempre é explorada ou trazida à tona. Além deste legado da música eletrónica, Hendricks recorda a Lei da Justiça Criminal e Ordem Pública do Reino Unido, em 1994, que «teve como alvo ‘batidas repetidas’ em reuniões ao ar livre» e deu lugar a protestos de ravers, e como isso «cimentou ainda mais a associação da cultura rave com a resistência ao controlo governamental».

Há qualquer coisa mágica na noite que não existe no dia. É como se o tempo parasse e tudo fosse possível. A cidade está vazia e tudo parece ter outra intensidade – uma gargalhada que ecoa na rua, uma conversa que se torna profunda, uma troca de olhares em que se veem as luzes dos candeeiros refletidas. Reza a lenda que Amandine Aurore Lucile Dupin escrevia de noite os romances que publicava de dia, sob o pseudónimo de George Sand; só assim conseguia estar sozinha e longe de olhares masculinos. Foi durante a noite que emergiu a cultura do ballroom em Nova Iorque, nos anos 70. Era de madrugada que a escritora argentina Camila Sosa Villada escrevia o manuscrito que, mais tarde, publicava no seu blogue La novia de Sandro, após passar a noite a trabalhar no Parque Sarmiento e parte do dia nas aulas de Comunicação Social, na faculdade. O que vivia no Parque Sarmiento servia de inspiração aos seus textos, que acabaram por ser a base do livro As Malditas.
A noite é dos poetas, das putas e dos que morrem de amor? Para Camila Sosa Villada foi tudo isso ao mesmo tempo. Essa liberdade da noite expande-se em espaços onde a segurança, o cuidado e o afeto são praticados. E é isso que os clubes e as raves representam para muitas pessoas, sobretudo para pessoas de comunidades historicamente marginalizadas. São espaços onde é permitido sonhar e dissociar. Mesmo que o mundo lá fora esteja a ruir, enquanto for possível estar naquele espaço, entre as luzes e a música de altos bpms, há uma realidade paralela a acontecer. Há um espaço partilhado onde é possível ser individual em comunidade.
Há uma memória que McKenzie Wark transporta para o livro Raving, uma espécie de auto-ficção que escreveu a partir da sua ida a raves queer e trans em Nova Iorque que, de certa forma, encapsula essa sensação: está numa rave com J, uma amiga em quem estava interessada na época, e mostra-se curiosa pela sua biografia, da qual sabe muito pouco; depois de ter partilhado parte da história da sua vida, J diz: «Dançar ajuda-me, ajuda com os estragos».

O que parece quase terapêutico para J é a sensação de estar alone together, a mover o seu corpo ao ritmo a que este já responde instintivamente. Mas há um contexto nesses espaços que lhe propiciam este poder reparador. A historiadora de arte Manique Hendricks consegue enquadrar: «A cultura de clube e queer propicia e modela o cuidado, a brincadeira, o amor, a celebração, o luto, prazer e teatralidade que são tão essenciais neste momento, em que enfrentamos uma crise existencial política e ambiental, aumentando o entorpecimento e a desconexão. Cultiva as nossas imaginações para sobreviver no estado atual do mundo com todas as suas crises, criando novas formas de estarmos juntos».
O consumo de drogas nestes espaços noturnos surge como um meio para aceder a um portal onde tudo isso é sentido com mais intensidade, e onde a dissociação com a vida lá fora se concretiza mais efetivamente. «As drogas são, muitas vezes, estratégias de coping para estas pessoas, para lidarem com as suas vidas super complexas», diz Helena Valente, investigadora da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto e membro da Kosmicare.
Ainda em Raving, onde Wark fala particularmente do consumo de MDMA, a autora confessa: «Sou um peso leve com drogas, e é por isso que ainda estou viva. Não estou interessada em promovê-las, são um negócio como qualquer outro. Sou cautelosa a usá-las como metáforas, como um anseio romântico aquecido por um exterior. Talvez possam ter uma função metonímica, partes opcionais de uma prática de fazer outra cidade para outra vida, outro corpo para outra vida». McKenzie Wark é uma académica de renome na área dos estudos culturais e dos media, que vai a raves e consome drogas. E é importante dizê-lo para desconstruir a imagem-tipo da pessoa que se move nesta cultura.
O trabalho que Helena Valente faz com a equipa da Kosmicare também passa por aí – «Há uma ideia de que as pessoas que consomem drogas são outro tipo de pessoas, que não são pessoas normais. Acho que apresentarmo-nos enquanto pessoas que usam drogas pode ser subversivo para tirar a ideia de que as pessoas que usam drogas são sempre o outro, são sempre outra coisa. Como se não fossem pessoas».
Também parte fundamental do trabalho da Kosmicare, e o motivo pelo qual é uma presença em alguns festivais e espaços noturnos, é a testagem de drogas. A investigadora acredita que este é um direito e que, ao contrário do que alguns possam pensar, não é uma forma de promover e aumentar o consumo. É uma questão de redução de riscos – até porque também existem questões de classe a ter em conta. Nem todas as pessoas têm acesso ao mesmo tipo de drogas e com o mesmo grau de pureza. E o movimento da redução de riscos nas festas também não é novo. Helena Valente explica que já nos anos 60, festivais como o Woodstock já tinham “espaços de crise”, em linha com outro dos serviços da Kosmicare. «Quando os hippies vão para São Francisco, no Summer of Love, criam uma clínica com serviços gratuitos para pessoas que usavam drogas poderem aceder. Perceberam que era preciso dar resposta às coisas que o Estado não dava. A redução de riscos nasce a partir das culturas de cuidado das próprias pessoas».
Para Jesualdo Lopes, fundador do projeto The Blacker The Berry, «o clubbing sempre foi um espaço político, mesmo sem saber que tinha essa conotação». Tinha uns 15 anos quando começou a ir ao Bairro Alto e a outras zonas com clubes noturnos, em Lisboa, e procurava essencialmente bares LGBTQIA+. «Naquela altura, não via isso como algo político, só queria ir sair com os meus amigos e aproveitar a minha adolescência, mas quando comecei a ganhar consciência política e social comecei a questionar-me porque é que queria ir a esse tipo de espaços». Depois de se mudar para Leeds, no norte de Inglaterra, para estudar na universidade, outras questões surgiram.
Começou a ver «como é que a comunidade se movimentava» por lá e sentiu que as conversas e a ação que já existiam estavam longe do contexto português. A ida para a universidade coincidiu com a pandemia, com a morte de George Floyd nos EUA e de Bruno Candé em Portugal; estava muita coisa a acontecer e era preciso digerir, e por isso o ano de 2020 foi o derradeiro momento em que Jesualdo aprendeu e percebeu qual era o seu lugar no mundo e nos contextos em que se movimentava, académicos e sociais. Os clubes a que começou a ir em Leeds e onde se sentia confortável tinham políticas de espaços seguros, o que o levou a pensar: «Ok, isto é que significa ser político e ser intencional com o tipo de espaço que crias para outras pessoas com as mesmas vivências que tu, ou que queiram apoiar pessoas que tenhas as mesmas vivências que tu».
A ida para Leeds foi fundamental para se distanciar e ver o que podia fazer em Lisboa, para que mais pessoas se pudessem sentir como se sentia quando ia aos eventos Rat Party ou ao Love Muscle, em Leeds. E assim surgiu The Blacker The Berry (TBTB), um coletivo artístico multidisciplinar gerido por pessoas negras queer, que protege e promove artistas na diáspora com ascendência africana, caribenha, latina e sul-americana. Jesualdo Lopes, ele próprio artista, tinha apenas 22 anos, mas muita vontade de fazer parte de uma mudança que estava por acontecer. A primeira festa que fez em Lisboa juntou muito mais pessoas do que estava à espera; na verdade, «não conhecia uma comunidade negra queer em Lisboa, de todo». Mas a comunidade existia, e de repente estava ali, à frente dos seus olhos.
A experiência de Jesualdo Lopes tem-lhe mostrado que o clubbing continua a ser sinónimo de celebração, mas nem todos os clubes e todas as festas reúnem os valores em que se revê. Na verdade, tudo depende das pessoas que vão às festas e que frequentam, gerem e trabalham nestes espaços. As políticas de espaços mais seguros são uma forma de responder a esses desafios – o fundador do TBTB faz questão de adicionar o “mais” porque se foi apercebendo de que «num contexto europeu não há espaços seguros, tendo em conta tudo o que a Europa representa; principalmente, como pessoa racializada e marginalizada não há um espaço seguro».

Além destas políticas de espaços mais seguros, as festas que o coletivo TBTB organiza têm outro tipo de preocupações. Desde logo facilitar o acesso, uma vez que a questão financeira pesa e muitas pessoas da comunidade negra queer vivem nos subúrbios de Lisboa, longe dos principais clubes. Isto passa por «garantir que pagam o mínimo dos mínimos possível para usufruir», seja através da realização de eventos fora do centro de Lisboa, seja através de políticas de porta com preços diferentes para pessoas negras que se identifiquem como queer, trans, mulheres e pessoas não binárias. Depois, nomear: «Eu sinto que muita das vezes há organizações que usam negro como uma expressão política porque ‘se não fores branco, és negro’, o que é um conceito super outdated e que não faz sentido nos dias de hoje. Nem tudo é preto ou é branco, há muito mais a ter em conta».
Há problemas estruturais a que projetos como o TBTB procuram responder, mas há desafios que são sinais dos tempos. «A cultura de clube é um canário numa mina de carvão. Quando as coisas ficam piores política, económica, social e culturalmente, a pressão vai ser feita neste tipo específico de encontro comunitário», diz Manique Hendricks. «O maior perigo que enfrentamos são as ideologias fascistas espalhadas pela extrema-direita e políticos populistas, atualmente. As ideologias fascistas procuram frequentemente regular ou fechar espaços associados a comunidades marginalizadas».
Também Helena Valente tem sentido “ventos de mudança”. Nota «um aumento da repressão policial» que se relaciona «com um projeto de cidade e quem é que cabe nele». Poucas semanas depois, no final do mês de outubro, sairia a notícia de uma rusga policial feita ao Planeta Manas, em Lisboa, que resultou em alguns feridos e estragos no espaço.
Problemas como a gentrificação, a repressão policial, o assédio e até a precariedade dos trabalhadores da economia noturna têm aumentado as tensões na noite. E não são exclusivos apenas de um país. Reagir a estas mudanças estruturais preservando a noite como um lugar seguro, considerando todas as pessoas que orbitam nesta cultura é um desafio em si mesmo. Para lhe dar resposta têm surgido figuras como night mayor – um provedor da vida noturna – e organizações como as club commissions que juntam comunidades e protagonistas para democratizar a governança.
Martinna Brunner, cofundadora da Vienna Club Commission, pensou nesta estrutura quando estava na universidade, inspirada pelo que já se fazia noutros países. Hoje, lidera uma equipa que permite estreitar a relação entre os clubes e os cidadãos de Viena. A base do trabalho que fazem são dados provenientes de questionários que fazem à população e aos intervenientes da economia noturna, e o principal modelo de ação são reuniões trimestrais, onde se criam grupos de trabalho que juntam esses dois mundos para pensarem em soluções em conjunto. «Temos sempre grupos de trabalho focados no campo cultural, por exemplo, em encontrar espaços para a comunidade; depois temos a parte social, como tornar as noites mais seguras; e a parte económica, onde se pensa em pagamentos dignos, por exemplo». As medidas encontradas pelos grupos de trabalho são uma resposta a problemas concretos, mencionados nos dados, e uma forma de juntar pessoas que de outra forma não estariam juntas.Para problemas estruturais, Martinna Brunner acredita que o segredo está na educação. «Desenvolvemos seis workshops focados em diferentes tipos de discriminação, que são gratuitos para os trabalhadores. É uma forma de garantir que eles vêm e que a mudança acontece».
Carolina Franco tem escrito sobre cultura, juventude e direitos humanos. Cada vez acredita mais que está tudo ligado. É jornalista colaboradora no projeto de literacia mediática PÚBLICO na Escola, e co-editora do Shifter. Estudou Ciências da Comunicação no Porto, de onde é natural, tem pós-graduação em Curadoria de Arte e está a completar mestrado em Antropologia - Culturas Visuais com uma tese sobre a importância da representatividade trans* no audiovisual.
Ver todos os artigosApoia a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.
Outros artigos de que podes gostar: