Já devia ser outono, mas os finais de tarde em Lisboa ainda não pediam casacos quentes. Ainda era possível estar numa esplanada ao final da tarde, sem ter de ir embora com frio, e encontrar quem nos esperava com um raio de luz a atravessar-lhe o rosto. Chamam-lhe golden hour, quando a cidade se veste de rosa e a luz traz um registo mais cinematográfico a qualquer momento mundano. Foi num desses finais de tarde que nos encontrámos com Cristèle Alves Meira, cineasta luso-francesa, que dias antes tinha recebido um Globo de Ouro com o filme Alma Viva. E não tinha sido a primeira vez que o filme havia ganho um prémio. Desde a estreia na Semaine de La Critique, em Cannes, Alma Viva não teve um momento na invisibilidade.
Esta sua vinda a Lisboa teve como principal motivação o foco que a Festa do Cinema Francês 2023 lhe dedicava. Lá foi possível compreender melhor a sua obra cinematográfica, cujas histórias se tocam tanto entre si. Mas quando é que percebe que uma história é digna de ser partilhada com o mundo? Quando o tema se torna uma obsessão ao ponto de não conseguir pensar noutra coisa. Aconteceu assim com Alma Viva, agora disponível no Filmin, que conta a história de Salomé, uma criança filha de emigrantes portugueses em França que regressa todos os verões à aldeia da família em Trás-os-Montes e lá se reencontra com a sua avó adorada. Com esta partilha o sentido de humor, a cumplicidade quase telepática e a relação com o oculto. Quando esta morre inesperadamente, Salomé recebe uma herança com a qual se vê obrigada a lidar em silêncio. À sua volta, tem uma família peculiar, muito real — os seus problemas, as suas expressões, os seus gestos são de uma coerência que transparece a relação de Cristèle com a paisagem que nos apresenta. E que é identificável por cada espectador que também a tenha habitado.
Alma Viva traz-nos pedaços de portugalidade que até à sua estreia eram relegados ao silêncio. Cristèle Alves Meira dá-lhes a densidade de que precisavam para saírem da sombra e se aproximarem da luz.
Shifter (S.) – Alma Viva foi o resultado de uma história em que trabalhaste durante 10 anos. Foi óbvio para ti como é que a querias contar?
Cristèle Alves Meira (C.A.M.) – Posso dizer que o que apareceu desde muito cedo no filme foi a vontade de contar a história de uma avó e de uma neta, e o título Alma Viva surgiu nos primeiros registos escritos. Tive essa vontade de falar de uma avó que morre e de uma neta que fica ligada com a alma viva desta avó, por sentir a presença dela. Uma avó que desapareceu num momento em que a família se recusa a dar-lhe uma sepultura e uma neta que está a sentir uma injustiça por não se respeitar esta morte. Essa foi a parte mais autobiográfica porque assisti a discussões familiares muito violentas e a minha avó ficou sem sepultura durante dois anos, e para mim foi muito forte esse sentimento de injustiça e pensei que tinha que contar esta história para também me ajudar de forma psicanalítica [risos]. Durante quase dois anos a Salomé, a neta, era uma adolescente, mas quando vamos contar a história de uma adolescente que regressa a uma aldeia em Portugal no Verão, temos de ir pelo lado da sensualidade, dos primeiros amores, dos jovens, das festas. Eu tinha um filme que estava dividido entre os amores adolescentes de verão e transmissão esotérica e relação com os mortos, a parte da herança da avó. Isso dividia o filme. Quando decidi que a Salomé ia ser uma criança tudo mudou e eu pude focar a história naquela transmissão do saber oculto de uma avó para a neta, que era um segredo entre elas. Depois, assumi a parte mais ligada à bruxaria (o facto da avó morrer por bruxedo) — esse caminho todo foi mais demorado e foi graças ao meu co-autor [Laurent Lunetta], mais exterior a essas temáticas, que o assumi. Eu sentia medo de tocar num tema tabu em Portugal, até na minha família, mas sabia que praticando ou não toda a gente tem uma relação com isso, toda a gente tem uma história na sua família. Mas durante muito tempo não me sentia com legitimidade, ou autorizada, a falar sobre este assunto. Hoje sinto-me muito contente por ter escolhido assumir temas difíceis de falar, como a bruxaria, a morte, divisões entre famílias de emigrantes que não se compreendem. O que me permitiu passar tudo para o filme foi a comédia; o facto de conseguir ter um tom mais ligeiro, permite entrar nestes temas um bocadinho fortes com menos frontalidade.
S. – Eu lembro-me de ler uma entrevista tua em que dizias que tinhas algum receio de ser julgada, ao falar sobre estes temas. A ficção serviu como uma espécie de escudo para te sentires mais livre?
C.A.M. – O que me permitiu assumir também foi a questão de fazer um registo de género, esconder-me atrás de um conto. Alma Viva é um conto. E todas as ferramentas do conto e do filme de género, que tem a ver com o fantástico, a comédia, ou até a tragédia, foram muito úteis para mim. Antes de eu fazer cinema fazia teatro e fui também buscar ferramentas da Antígona, a peça do Sófocles. Eu cresci numa zona nos arredores de Paris, os meus pais têm poucos estudos porque fazem parte da geração que emigrou nos anos 70, e não havia livros em casa, não éramos ligados à cultura. O que fez com que eu passasse a ter essa ligação com a cultura foi o teatro. Eu estava sempre com vontade de contar histórias em casa, fazer espetáculos — não sei se onde isso vem — , e foi um professor de francês, quando eu tinha 13 anos, que me fez descobrir a Antígona e aquela personagem rebelde, com crenças muito fortes, que quer uma sepultura digna para o irmão e que vai morrer para as ideias dela — que se relaciona também com rituais, com não podermos desonrar os mortos. Foi uma revelação para mim. E no Alma Viva há muito de Antígona. Por exemplo, quando ela vai à sepultura e põe as mãos na terra, tem a ver com a cena em que a Antígona vai pela noite com as mãos na terra pôr as mãos no corpo do irmão. Com o Alma Viva vou assumir também uma tragédia no sentido catártico que permite. As emoções que as personagens expressam são extremas: a forma como gritam, como choram, como se riem. Eu quis fazer uma coisa um bocadinho excessiva para permitir essa catarse. Temos de exprimir essas paixões muito fortes para fazer a purgação, como se dizia no Teatro Grego. Com muita modéstia, quis tentar fazê-lo.
S. – Trouxeste rituais, comportamentos, expressões que são muito próprios deste lugar. Alguma vez sentiste que a tua condição de pessoa que está com um pé em Portugal e outro em França te deu um olhar distanciado sobre coisas tão banais quanto dizer “meu filho”, ou de fazer figas com os dedos?
C.A.M. – Saber observar não tem a ver com o facto de só vir uma vez por ano, acho que essa capacidade que tenho de ir buscar os detalhes, ouvir aquelas frases, tem a ver com eu ser cineasta. É isso, fazer cinema: ir buscar detalhes do ser humano, formas de ver o mundo. É quase como se fossemos cientistas a ir buscar os detalhes do ser humano. Quando vamos escrever uma cena para cinema temos de sentir porque é que vamos viver tal emoção, onde é que está a contradição, onde é que está a parte consciente, a parte inconsciente. E para conseguir uma narrativa que é profunda tem de se saber observar. É o início de tudo. E eu, por acaso, desde pequenina que me punha num cantinho debaixo da mesa e ficava a olhar, a ouvir. Como se estivesse no teatro ou no cinema, mas na vida. Às vezes até na rua posso sentar-me a olhar para as pessoas; há sempre alguma coisa inspiradora. E depois podes ficcionar: se calhar aquele está triste por causa de não sei o quê; vou inventando histórias na minha cabeça. Às vezes até vou gravar frases que vou ouvindo, que depois gostaria de incluir num filme. Vou acumulando material da vida real, das minhas observações, como se fosse uma antropóloga, mas de forma mais caótica. E vou compondo assim personagens.

S. – Como se estivesses sempre a construir qualquer coisa. Muitas vezes fala-se de como os filmes podem ser objetos inacabados, porque podes sempre continuar a contar aquela história. Mas quando é que se começa um filme? É o momento em que ouves a frase ou em que começas a observar? É no momento de escrita?
C.A.M. – O filme começa quando aquilo que agarraste, seja uma frase, um assunto, uma pessoa, não te larga durante um certo tempo. Para mim, quando começa a ser uma obsessão é sinal de que já tens material. Mas é difícil explicar de onde vem. É a repetição que permite dizer: ok, agora vai ser mesmo. Com a segunda longa, ou o momento em que passei de uma curta à outra, foi quando eu disse a mim mesma: sim, este é um assunto que é digno de um filme. Porque todos os dias ao acordar, eu pensava que podia fazer um filme sobre aquilo. Aí já estou a trabalhar e o filme vai existindo porque já estou naquela obsessão — já trabalho durante a noite, nos meus sonhos, e ao andar na rua. E quando a ideia me larga é porque não vale a pena.
S.: Como aconteceu com o Alma Viva?
C.A.M.: Com Alma Viva nunca tive dúvidas. Eu sabia que ia fazer um filme em Trás-os-Montes, na minha aldeia, sobre a questão da sepultura e uma avó que morre mas que fica. Eu passei por fases muito difíceis, de não encontrar financiamento, mas sempre quis fazer esse filme e sempre soube que esse filme tinha que existir. E foi uma obsessão. Mesmo demorando muitos anos, estava sempre animada: ah, vou fazer tal cena! E houve casos de cenas que desapareceram, mas sempre movida por uma vontade muito forte de ir filmar aquele território porque eu senti uma emoção muito forte. Senti que tinha de ser o meu ponto de vista — o facto de eu ser dali, emigrante. Só podia ser eu a fazer aquele filme, não ia ser um filme que já tínhamos visto. Porque há uma forma única de falar, daqueles rostos que eu ia escolher. E as pessoas aceitaram fazer aquilo por eu ser da aldeia, se não fosse de lá se calhar não ia ser assim. Aquela confiança que eu tinha permitiu que pudéssemos fazer juntos aquele filme muito íntimo e ao mesmo tempo muito universal.

S. – Apesar dessa crescente obsessão, sentes que a tua relação com estes temas que vão sendo ramificações do filme se vai alterando? Por exemplo a questão do “dom” e do oculto.
C.A.M. – A relação com o dom e a questão do oculto teve alguns altos e baixos, porque havia uma grande questão: será que ela quer ou não ficar com o dom? Porque há um momento em que a Salomé diz: “Eu já não quero ser mais bruxa”. Qual é a relação que ela tem com isso? Medo? Receio? Vontade? Ela quer fugir do dom? Será mesmo um dom ou não? — todas essas perguntas que têm que ver com a complexidade de sentir a presença dos mortos na nossa vida. Lidar com invisíveis, com forças ocultas, ou até com bruxedos — porque neste caso a avó morre com o bruxedo e isso é violento —, é lidar também com as forças ocultas do mal, porque as pessoas da aldeia dizem que ela é o diabo. Foi um caminho também perceber qual seria o final, se ela regressava para França e dizia que já não queria ter mais nada a ver com isso ou aceitava a herança. Hoje sei, sem dúvida, que ela tem de aceitar a herança porque há um provérbio que diz: “Um dia bruxa, sempre bruxa”. Não podemos fugir a esta herança. Podes fazer tudo o que quiseres, mas não tens como fugir. [risos] E a Salomé também não.
S. – Tem graça falares de “herança”, porque eu pensava precisamente em como a certa altura se fala ali de dinheiro e de partilhas, e no fundo a única herança que não se discute é esta.
C.A.M. – Porque tudo isso é material, mas quando tem a ver com invisíveis não se pode fugir.
S. – As figuras femininas deste filme são muito fortes — creio que este é um tema pelo qual passarás em todas as entrevistas que te façam a partir do Alma Viva. Há muitas coisas que as unem neste inconsciente coletivo, na relações ancestrais, mas todas têm a sua individualidade. Penso na avó, a matriarca da família que não tem um homem a sobrepor-se à existência dela na família e na aldeia; a tia, em quem vemos uma certa tensão entre ser muito forte e expansiva, mas que não consegue ser ela a própria a 100%; a mãe da Salomé que vem sozinha para Portugal ao funeral da mãe e vês no rosto dela o cansaço do trabalho. E depois a Salomé, que sendo tão pequena já tem tanta vida nela. É como se ela fosse um bocadinho de todas estas mulheres?
C.A.M. – Há uma parte consciente e inconsciente na presença das mulheres neste filme. Quer dizer que conscientemente sempre foram as mulheres transmontanas que me inspiraram, porque elas têm uma força matriarcal muito forte — elas trabalham “como os homens”, falam “como os homens”, têm um mistério poderoso nelas, e claramente foram elas que me inspiraram. Mas durante muito tempo havia mais homens no filme, por exemplo a Salomé tinha um pai. Durante quase três anos de escrita, havia um pai, eu até fiz casting para o encontrar. Este pai desapareceu porque era uma personagem que não trazia muito ao filme. Demorei algum tempo a compreender que afinal os homens não me inspiraram neste filme, e foi bom ele sair e dar espaço à personagem desta mulher que é marginal no sentido em que está a criar a filha sozinha. As mulheres continuam a ser apontadas por tudo e por nada, e ser bruxa hoje também é isso. Ainda hoje somos apontadas por sermos divorciadas, por exemplo. A sociedade está a mudar, mas ainda hoje em França, em Portugal, em países muito desenvolvidos da Europa, é complicado ser uma mulher que não quer filhos e não tem marido. A certa altura, decidi assumir no filme o facto de ter só mulheres. A Salomé vai ter um bocadinho de todas elas? Essa é uma interpretação que chega mais tarde. Eu sinto que ela está rodeada de mulheres fortes que vão ter um impacto nela, mas não sei se ela é um bocadinho de todas elas. É a tua interpretação, mas essa é a riqueza de um filme: há o que eu pus, e agora o filme é vosso. E se calhar daqui a dez anos vemos o Alma Viva e, como o mundo mudou, temos novas interpretações; seria um bom sinal. Acho que os grandes filmes podem ser revistos vinte anos depois e serem reinterpretados nessa altura.

S. – E que vivem para lá deles próprios.
C.A.M. – Exato, para lá deles próprios!
S. – Mas a vida e as famílias também estão cheias de relações de poder. Há um diálogo no filme que acho muito bonito e representativo disso, entre a mãe da Salomé e a tia. A tia diz-lhe qualquer coisa sobre ela ter ido para França e ela responde algo como: “Eu sempre disse para tu vires, podias ter vindo”. É como se ela sentisse que ter ficado ali era uma sina e há a ideia de que quem decide ir tem sempre uma vida melhor.
C.A.M. – Eu tentei compreender as motivações da Fátima para ficar. Na minha própria família houve uma tia que ficou com a minha avó durante mais tempo do que os outros e sempre a ouvi a dizer: “Eu sacrifiquei a minha vida”. E eu pensei: mas será possível realmente sacrificar uma vida? Porque é que ela fica? Há uma razão familiar e social, pública, que é sacrificar a vida dela para os irmãos irem ganhar dinheiro em França, mas tinha de haver uma razão muito mais pessoal. Aqui eu inventei essa razão porque acho que quando vamos fazer uma escolha na vida, há sempre uma justificação pessoal. Nunca fazemos realmente as coisas só para os outros. Foi aí que chegou a história dela amar a vizinha, e afinal ela quer ficar na aldeia por causa daquele amor proibido, que é um segredo, mas que cria uma motivação para ela ficar. E o irmão que também vive em França, no final do filme diz que não gosta da mãe — “Ela é uma puta, eu não gosto dela”. Mas será possível não gostar mesmo? Qual é a razão? Inventei aquela parte da mãe ter um amor proibido com o vizinho e o Joaquim, quando era pequeno, na escola, era chamado de “filho da puta”. Isso criou uma mágoa nele e fez com que ele sempre se lembre daquela fase, e que o amor da mãe não tenha chegado como ele quis. Construir essa família foi sempre pensar que cada um deles tem uma razão de ser o que são para criar personagens o mais complexas possível, que não fossem caricaturais. E há o que vemos e dizemos, e tudo aquilo que não vemos e que não dizemos. O trabalho de atores foi muito importante para isso porque houve muitas cenas que improvisámos, porque é o que é trabalhado fora de campo que vai dar mais força ao que depois é dito. E antes de chegar a uma cena acabada há dez páginas de diálogos e vou tirar, tirar, tirar. Mas é aquilo que já existiu e que foi retirado que dá uma força ao comportamento e ao modo de estar. E tenho muita atenção em não dizer demais; não se pode dizer demasiadas coisas.
S. – E não tornar literal.
C.A.M. – Exatamente. Mas antes de chegar lá houve versões horríveis!
S. – Essa ideia de sacrifício, ao mesmo tempo, também é muito católica, não é? Eu adoro a personagem do Duarte Pina no teu filme e a relação dele com a música, que também está de alguma forma no Invisível Herói. Sempre que ele aparecia a cantar, vinha-me uma frase à cabeça que os antigos costumavam dizer: cantar é rezar duas vezes. Há uma cena em que ele está lá em casa a cantar…
C.A.M. – Eu adoro essa cena… parece que ele também está possuído por uma força invisível. A mim parece-me.
S. – E surge num momento quase inoportuno.
C.A.M. – É qualquer coisa de expressão da alma que sai ali.

S. – Uma vez disseste que o cinema é uma arte que nos permite contar o que se esconde atrás das coisas. Temos estado a falar do que está para lá do visível, por isso pergunto-te se o cinema também pode trazer alguma dignidade a histórias e pessoas que vivem relegadas à invisibilidade.
C.A.M. – Claro que sim. Já tens a resposta! Para mim isso é do mais importante: dar uma beleza a pessoas que há quem possa achar que não têm interesse. A minha mãe escondia-se da realidade dessas mulheres da minha aldeia, que falam com palavrões, de forma rural, e para mim elas são lindas! Aqueles pés da avó todos torcidos pela vida com uma luz de cinema tornam-se lindos. O Duarte Pina podia ser um anti-herói. Vemos muitas vezes no cinema estereótipos de beleza e estética perfeitas, mas o que acho mais bonito é a imperfeição. O que me toca no cinema é poder pousar o olhar em pessoas que parecem comuns, marginais. Mas não sou a única a fazê-lo, há grandes cineastas que trazem corpos diferentes para o cinema. Um filme que me marcou imenso foi o Freaks, do Tod Browning. São todos muito lindos, para mim.
S. – Filmá-los é uma forma de também manter a Alma Viva?
C.A.M. – Ir além das aparências. Manter a Alma Viva.


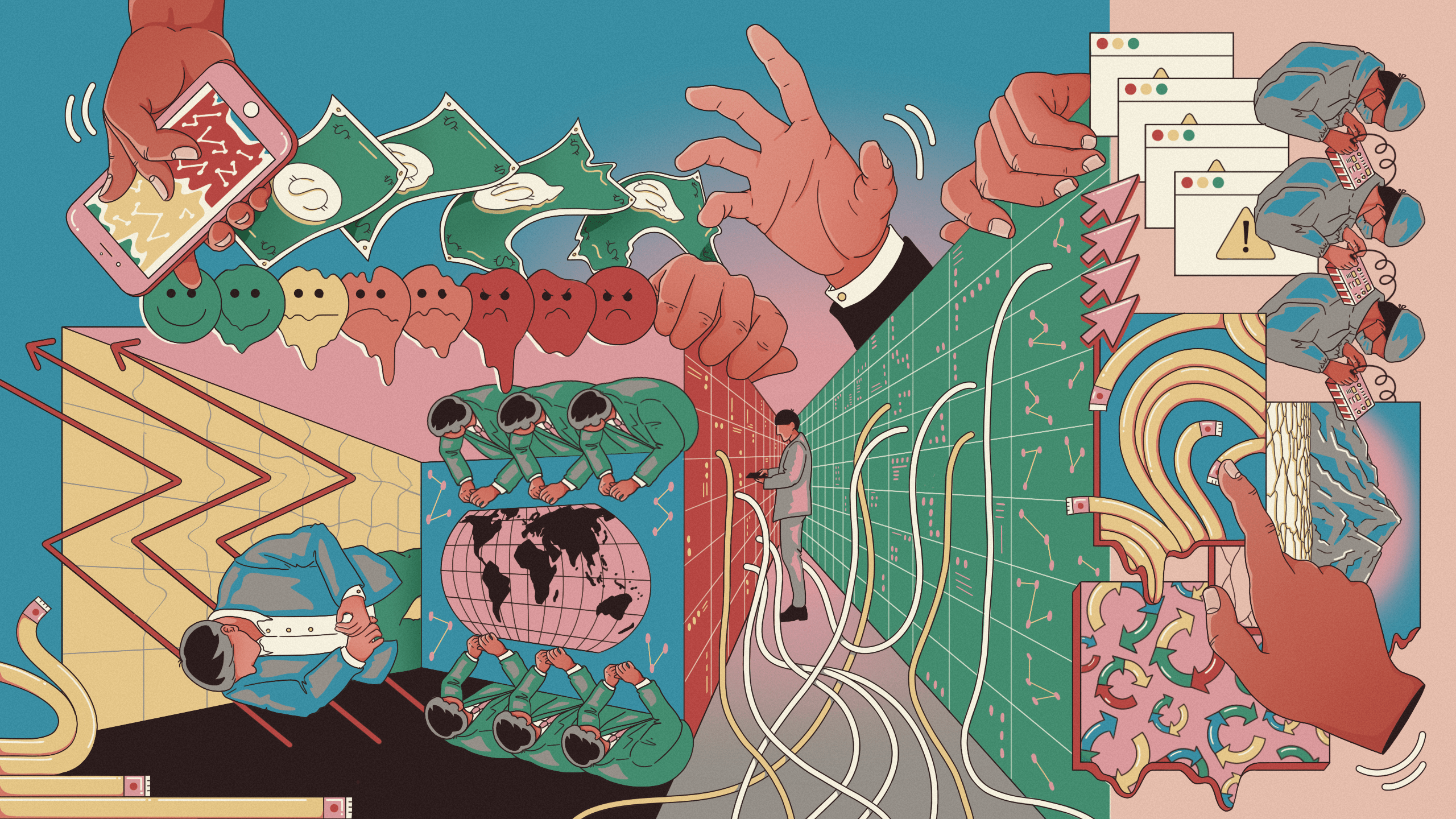

You must be logged in to post a comment.