
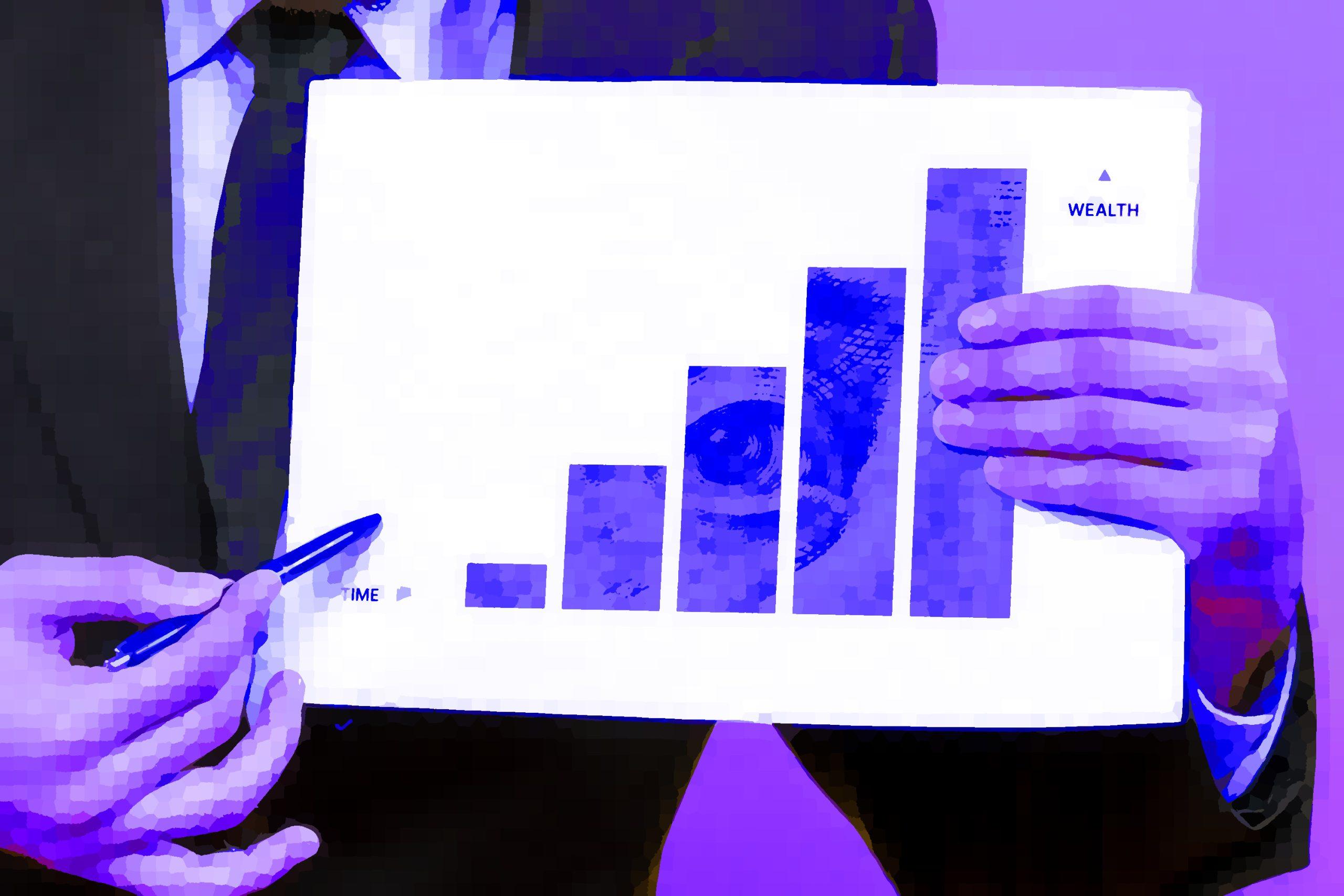
Nas áreas cheias de Matemática, como Engenharia e Economia, uma função-objectivo dá-nos a relação entre as variáveis de interesse num determinado modelo de um problema e o nosso sucesso a resolvê-lo — isto é, quais os valores dos parâmetros considerados que nos permitem chegar a um certo objectivo. Uma função-objectivo pode ser muito simples (imaginemos: se eu só valorizar o preço ao comprar ovos, maximizo a minha função-objectivo ao escolher os ovos mais baratos); menos simples (ao comprar um carro com preço e eficiência energética em mente, maximizar a minha função-objectivo significará provavelmente nem escolher o mais barato e que consome mais, nem o eléctrico mais poupado e bastante caro); ou muito mais complexa e difícil de exemplificar neste texto. Em todo o caso, é preciso saber quantificar as nossas preferências e traduzi-las numa expressão coerente.
Se isto parece o início de mais uma apologia da optimização e do rigor de contas como tantas há pela internet é porque, mais que sê-lo, é com esta linguagem que muitas perspectivas sobre a sociedade são caricaturadas: variáveis, modelos, parâmetros, funções, etc., na cabeça e nas folhas de Excel de tecnocratas cinzentões e desprovidos de humanidade ou alegria são contrastados com os valores, emoções e sonhos de líderes ou candidatos a líderes limitados apenas pela crença convicta no que verbalizam e pela vontade de servir os seus concidadãos. Os que maximizam a sua função-objectivo e os que apresentam ideias diferentes.
Um dos vários problemas destas caricaturas é distrair de uma verdade mais basilar: que Excels, funções e variáveis são pouco mais que ferramentas usadas para expressar uma visão (ou falta dela). Não há tecnologias neutras, é bem sabido, mas torna-se difícil neste contexto argumentar que haja sequer frameworks neutros de utilização dessas ferramentas. No exemplo de uma qualquer discussão sobre economia, falar apenas de salários e de horário laboral, sem incluir satisfação pessoal ou trabalho para a família e a comunidade, revela mais uma prioridade de quem o faz, do que uma limitação das ferramentas em que se apoia para o fazer. Mais do que realistas e sonhadores, ou tecnocratas e idealistas, parece haver quem construa funções-objectivo pobres e pouco ambiciosas para a complexidade dos domínios que se propõe trabalhar, enquanto se escuda em limitações técnicas, e, em contraponto, quem tenha medo de assimilar um pouco a língua dos números e dos modelos para expôr as suas ideias.
Se, por um lado, os discursos de contas-certas, de austeridade, de contenção (de que muitos de nós nos lembramos do tempo da troika) revelam uma brutal falta de imaginação dos seus proponentes para contabilizar mais do que dinheiro e tempo, por outro esta dicotomização simplista das fórmulas contra as emoções, e dos números contra os valores, vem apenas alienar aqueles que sonham daqueles que precisam de explicações tangíveis da realidade. E estes dois grupos, para nosso bem e do debate público, deviam ser um apenas. Uma parte considerável da sociedade — e aqui estaria tentado em dizer a esquerda, em que me incluo, mas, para além de incompleto, estaria a potenciar exactamente a dicotomização errada de base — cede facilmente a esta fetichização das ferramentas comummente associadas a máquinas burocráticas como garante do modelo de sociedade que as ditas burocracias mantêm. E, por querer precisamente contestar e alterar este modelo, essa fatia da sociedade opõe-se e rejeita tais ferramentas, quase numa forma de tecno-pessimismo derrotista do discurso.
David Graeber, no seu Utopia of Rules, infelizmente ainda sem tradução para português, ironiza o uso do conceito de “racionalidade” na discussão pública como, entre outras coisas, uma forma de descredibilização da pessoa adversária: se não partilha da minha posição racional, é, portanto, tola e incapaz de decidir sobre a comunidade. Falar de tecnocracia e usar o restante vocabulário associado alimenta essa narrativa da pior forma possível. Por um lado, esconde os limites de imaginação de quem é retratado como técnico e apoiado em números e reveste-os de uma falsa neutralidade ideológica. Por outro lado, confere a esse mesmo segmento de dirigentes e decisores (e candidatos a tal) a aura de serem os únicos capacitados para realisticamente falar sobre (e, obviamente, moldar) a realidade, tão-só por serem os que falam uma linguagem que, falaciosa e tristemente, associamos a serem os que merecem autoridade.
Tem sido cada vez mais discutida, e bem, a necessidade de a esquerda apresentar sonhos e visões, utopias quase, que sejam o mote de acção para a participação política (como escreve o Rui Tavares em “Object of Political Desire I: My Hypocrite Reader”, no Green European Journal). Se isto não deixa de ser verdade, argumento aqui que é preciso também que a esquerda, munida de utopias e funções-objectivo bem mais abrangentes e interessantes para a pessoa comum do que as dominantes até agora, as saiba comunicar e defender. Que as saiba traduzir simultaneamente em linguagem técnica e não técnica e não deixe parte do discurso público ser ideologicamente sequestrado. Porque, no fundo, não há tecnocratas: há pessoas sem o rasgo para imaginar uma realidade melhor, que se escondem atrás das ferramentas que usam.
Henrique Vasconcelos não é especialista em coisa nenhuma. Gosta de Saúde, análise de dados e problemas por resolver.
Ver todos os artigosApoia a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.
Outros artigos de que podes gostar:



