

Este ano, mais um marcado pela pandemia da COVID-19 passou a correr e, como tal, fez-se sentir na máxima intensidade, desordenado um pouco a sua ordem natural. No meio dessa aceleração do tempo social — como o Paulo Lima escreveu num ensaio recentemente publicado — esquecemos muitas vezes o lado mais humano do que fazemos, e, nos finais de ano, emulamos alguma ordem em tops culturais que nos obrigam a dividir experiências por formatos, por datas de lançamentos, e nos dificultam a partilha dos motivos reais que nos agarraram a memória a determinado momento. Neste ano quisemos, portanto, fazer diferente e lançámos o desafio aos redactores que nos acompanham para partilhar connosco – sem ordens, hierarquias ou divisões – alguns momentos culturais que os tenham marcado ao longo do ano. O resultado é uma série de testemunhos, uns mais pessoais que outros, com partilhas sinceras sobre as sensações, as memórias e as lógicas por detrás das experiências mais arrebatadoras do ano, sem formato, extensão ou limites pré-definidos.

Algo que o tempo e a introspeção me foram revelando aos poucos, é a mordaça que a nossa família pode ser no desenvolvimento dos 1001 pequenos traumas que se foram amontoando até formarem a pessoa que hoje sou. O vestir e “revestir” de roupas na vaga esperança de estar bem-parecido o suficiente; aquela sorrateira masculinidade tóxica que passa despercebida por baixo da mesa; a mesquinhez matreira sussurrada nas cozinhas e varandas; o “podias ter feito melhor” mesmo tendo trazido um “excelente” ou “muito bom” para casa; o menosprezar dum sonho ou ambição face às marés do mercado capitalista; aquele virar-de-costas, pequeníssimo e insignificante abandono, cuja fenda na alma o tempo certamente transformará em cratera — família como o Deus castigador ao qual muitos de nós continuamos (e continuaremos) a prestar vassalagem, à mínima indicação preparados para carregar uma vez mais a cruz monte acima.
O que mais de admirável há em Succession é a sua habilidade em suscitar empatia por um grupo de personagens totalmente vis e patéticas, cuja exuberância e jogos de poder são, no fundo, o único meio de preencherem o vazio deixado pela falta de afeição parental que os arrastou até à idade adulta. Em mãos menos hábeis, a série da HBO ter-se-ia contentado em ser uma simples comédia negra de colarinho branco, uma Guerra dos Tronos que substitui castelos por arranha-céus; mas Jesse Armstrong e o resto da sua equipa criativa, juntamente com o seu incrível elenco de atores, elevaram-na aos cumes da estratosfera, precisamente por conseguir de tão bela forma mostrar que até os deuses, refugiados nas suas torres de vidro do Olimpo cosmopolita, vivem, ainda assim, sob a sombra de Édipo.
2021 é, de certa forma, uma sequela menos atrevida de 2020. Novamente, vemos a mesma personagem principal a arruinar todos os plots que as personagens secundárias criaram nas suas cabeças e apesar do futuro parecer mais promissor, já todos temos a noção de que ainda veremos uma terceira instância desta saga de mau gosto.
Em termos de música, apesar de não me ter sentido particularmente em sintonia com os projetos que foram saindo, alguns álbuns impressionaram-me pela positiva. Os dois exemplos que me vêm primeiramente à cabeça são o ROADRUNNER dos BROCKHAMPTON, pelo seu carácter nostálgico, e o segundo álbum de Billie Eilish, Happier Than Ever, por me ter feito repensar tudo o que sei sobre produção musical.
No entanto, para mim, o álbum que melhor refletiu o estado atual “das coisas” foi o segundo álbum (e infelizmente, provavelmente, o último) do grupo de hip-hop alternativo Injury Reserve, By the Time I Get to Phoenix (BTTIGTP). Lançado na sequência da morte de um dos integrantes, Stepa J. Groggs, BTTIGTP é uma tapeçaria rica de sons e de ideias entregues da forma mais crua e abstrata possível. Em cerca de 40 minutos, o trio leva-nos pelos recantos mais obscuros das suas mentes e fala-nos de sentimentos com os quais qualquer um de nós se consegue identificar, seja a ansiedade com o presente, seja a insegurança inerente do futuro.
E se o futuro pode ser muito anxiety-inducing e é fácil perder o toque do presente quando deixamos estes sentimentos correrem livremente.Numa tentativa de balançar a sensação desoladora deixada por BTTIGTP, peguei no clássico do monge budista vietnamita Thich Nhat Hanh, The Miracle Of Mindfulness, um curto livro que explora o conceito de mindfulness, ou seja, viver a vida no presente e tentar ao máximo sentir, em cada momento, o que está à nossa volta, sem pensar em mais nada. Apesar de ter sido lançado em 1975, o livro é atual e ensina métodos práticos de como podemos focar-nos mais no presente. Com ele, voltei a aprender a resprar fundo e a aproveitar as pequenas coisas que só o dia a dia conseguem proporcionar. Inconscientemente deixei este livro à mão de semear e de tempos em tempos dou por mim a re-ler certos parágrafos, em busca de algumas respostas para questões que nem sabia ter.
No final deste ano podia recordar o Monólogo de Maria com a sua Patroa de Sara Barros Leitão, do Cerejal de Tiago Rodrigues, Aurora Negra de Cleo Tavares, Nádia Yracema e Isabél Zuaa ou Morte do Caixeiro Viajante dos Artistas Unidos ou fazer parte do coro que aclama os álbuns El Madrileño de C. Tangana, Introvert de Little Simz e filmes como Inside de Bo Burnham ou Annette dos Irmãos Spark.
Mas num ano em que a retoma aos solavancos da pandemia expôs os efeitos desta, fazendo pela primeira vez em décadas o cidadão comum pensar nos recursos finitos e a sua logística com racionalidade, uma reportagem sobre um mega petroleiro convertido em silo flutuante à beira da explosão é sem dúvida aquilo que mais me fascinou em 2021.
Além da pandemia um dos acontecimentos mais “memeficados” de 2021, o encalhamento do Evergiven que parou o tráfego de cargueiros no Canal do Suez por semanas, contribuiu para aumentar o meu interesse para me lançar na leitura desta história intrigante (além de sempre ter tido fascínio por barcos encalhados, devido à sua cómica imagem de elefante de patas para o ar).
Uma guerra civil interminável no Yemen, palco de sucessivas violações de direitos humanos, gera vazios de poder que criam um imbróglio diplomático mundial que impede a manutenção de uma bomba relógio no mar Vermelho que poderá colocar em causa grande parte do comércio mundial por meses se um desastre numa escala maior que o Pestrige acontecer, uma possibilidade nada remota. A reportagem descreve a fundo a situação inicial, como se chegou lá, diversas tentativas de negociação para se perceber a dimensão do problema goradas por interesses de diferentes facções participantes na guerra e termina mostrando que apesar de todos os efeitos nefastos que poderá haver na economia mundial e na natureza, quem sofrerá mais serão os yemenitas que já se encontram na pior situação à partida.
Não fosse o teor educativo aliado a uma escrita potenciadora do suspense não seria capaz de recomendar a leitura de um artigo com tão pouca esperança, mas a sua qualidade compensa qualquer ansiedade que possa causar.

Na passagem de ano de 2020 para 2021, O Ano do Pensamento Mágico estava na minha mesa de cabeceira. Depois de ter mergulhado nos ensaios de Joan Didion e ter percebido que estava ali o exemplo daquilo que gostaria de ser, no universo jornalístico, pareceu-me óbvio seguir para aquele que é o seu livro mais aclamado. Recordo-me de pensar que não lia no papel como se lesse pensamentos de alguém desde A Campânula de Vidro, de Sylvia Plath. Didion tem uma capacidade notável de reunir as suas angústias, as obsessões, os pensamentos que se repetem. E consegue pôr em palavras o que sempre me pareceu difícil de descrever: a sensação de desamparo.
Durante este ano, recomendei a leitura d’ O Ano do Pensamento Mágico a cada oportunidade — a pessoas que me perguntavam o que ler, a quem abria caixas para sugestões nas stories de Instagram, até a quem parecia não querer a referência mas que eu estava certa de que ficaria tocado pelo livro. Pensei muito no livro de Joan Didion quando vi A Metamorfose dos Pássaros, filme de Catarina Vasconcelos que foi este ano para as salas de cinema.
No livro de Didion, há uma sequência de frases a que volto várias vezes para pensar em como de repente tudo pode mudar: “A vida muda rapidamente. A vida muda num instante. Sentas-te para jantar e a vida, como a conheces, termina”. N’A Metamorfose dos Pássaros, Catarina Vasconcelos fala-nos da vida que continua depois da perda. Das árvores que continuam lá, das folhas que não deixam de cair, do rio que não deixa de correr quando perdemos quem amamos. E por muito que morra ali uma parte de nós — quem éramos com quem já não volta —, há algo que fica.
Catarina mostra-nos a dor de perder uma mãe cedo demais. Joan relata-nos a dor de quem perde o amor da sua vida e, sem saber, está prestes a sentir a dor de perder uma filha cedo demais. Tanto Catarina como Joan me deixaram a pensar nas relações entre mães e filhas, nos pressupostos de se ser mãe e filha, no que passa de uma mãe para uma filha e de uma filha para uma mãe. No amor incondicional, que não desaparece quando os corpos já não mais habitam nesta dimensão.
Há um diálogo entre O Ano do Pensamento Mágico e A Metamorfose dos Pássaros que se fez, à minha frente, em 2021. Sei que vou voltar várias vezes para retomar esta conversa, em que participei como mera mediadora, em 2022, 2023, pela vida fora.
Se naquela ânsia performativa característica da classe criativa sanduíchada no middle-management, naveguei o 2020 com fé no meu próprio possibilismo, 21 deu-me aquele upper cut – POW! Um segundo ano ‘remoto’ sob aquela constante cacofonia apocalíptica – epidémica, climática, económica e social – deixaram-me de rastos. Aliás, foi aquando, o único verdadeiro amigo que alguma vez fiz em círculos profissionais se juntou à Great Resignation – miss you Beth! -, que todos aqueles meses pautados pela plausible deniability e hipocrisia da matilha do Boris; da toxicidade da internet; e de ver amigos e família vítimas do algoritmo, que me senti terrivelmente ‘pesado’ física, mental, social e espiritualmente. Pior só mesmo aquela cada vez mais enraizada sensação de que o meu papel enquanto cidadão (principalmente a de contribuinte e trabalhador) é muito distante daquela a que eu próprio consideraria de humano, ou melhor ‘como deved’ser’. As leituras da altura – cenas tipo Debt: The First 5000 Years (David Graeber, 2011), Natives: Race and Class in the Ruins of the Empire (Akala, 2018) e o New Dark Age: Technology and the End of the Future (James Bridle, 2018) -, embora as considere essenciais e não me arrependa de as ter consumado, em nada ajudaram o ‘peso’ e powerlessness que sentia.
Tive de mudar de táctica. As obras que passo a recomendar foram aquelas que não só me ajudarão no futuro a mapear os altos e baixos destes dois anos, mas que melhor significam as diferentes fases destes mesmos: (i) cinismo e superação; e (ii) esperança e crescimento.
i. Com-fusão: When We Cease to Understand the World de Benjamin Labatut (2021 International Booker Prize)+ The Order of Time (Carlo Rovelli, 2019) + Entangled Life: How Fungi Make Our Worlds, Change our Minds & Shape Our Futures (Merlin Sheldrake, 2020) + Wilding (Isabella Tree, 2018)
Um livro de ritmo alucinante que enrola o real e o fictício, sem nos apercebermos bem em que dimensão nos encontramos – umas vezes minúcia perturbante e ‘científica’, outras tantas delírios afogados no ‘subconsciente’. Enquanto nos desvenda as vidas conturbadas e legados de alguns dos grandes cientistas e pensadores dos últimos séculos – Fritz Haber, Alexander Grothendieck, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger – numa estrutura e escrita que nos deixa a questionar a nossa própria sanidade, Labatut estabelece ligações ‘paranóicas’ e quasi-conspiracionistas das descobertas científicas, da ‘Matemática’, da loucura e da destruição que expandiram as nossas noções do (im)possível e/ou moldaram ‘novos mundos’. São ‘estórias’ sobre génios e genialidade(s) carregadas de ânsia existencialista, e consequências morais e éticas.
ii. Possível-mente: Actual Life (April 14 – December 17 2020) de Fred Again..+ When Smoke Rises (2021) de Mustafa + DEMOTAPE/VEGA (2020) de BERWYN + TAPE 2/FOMALHAUT (2021) de BERWYN
Fred Gibson é artista, produtor, compositor, multi-instrumentista e o recipiente do Brit Award para Produtor do Ano, mais novo de sempre. Não fosse ele chamado de “génio” pelo seu amigo e mentor Brian Eno, que desde cedo testemunhou o seu talento – aos 10 escreveu o seu primeiro álbum; aos 14 a sua primeira sinfonia, conduzida pelo próprio com orquestra aos 16; aos 17 a sua segunda sinfonia esgotou duas noites no Royal College of Music em Londres; e dos 19 para a frente tem sido collabs sem fim nos top charts com George Ezra, Ed Sheeran, FKA Twigs, Justin Bieber, Stormzy, Nicki Minaj, Headie One, Cardi B entre outros. Mas foi no seu álbum de estreia (cena ‘oficial’, de autor, vá!) que demonstrou por fim ser humano como qualquer um de nós.
Actual Life – que já tem sequela – é melhor caracterizada enquanto uma crônica de momentos guardados em notas soltas que à boleia de um electro-pop nostálgico dão corpo à memória (pessoal e/ou colectiva) de um ‘ano perdido’. As faixas são construídas a partir de uma base inicial de voice memos, diálogos capturados e sons encontrados no YouTube, Instagram, nas suas próprias mensagens ou whatever. Pedaços fugazes de expressão humana. A formatação dos nomes das faixas – personagem/autor (sentimento/hook) – deixam isso bem claro: ‘Marea (We’ve Lost Dancing)’, ‘Kyle (I Found You)’, etc. É emotivo. É pianos. É frágil. É fragmentos de diálogo destorcidos. É sensível na maneira em que favorece a emoção crua em vez de se esconder sob batidas mais punchy. É humano. É toda uma justaposição de emoções mistas: de culpa, de solidão, de um sofrimento maior, ao mesmo tempo que nos exalta e nos enche de alegria, saudade e esperança.
Tem sido difícil traçar uma linha entre o final de 2020 e o início de 2021 e por isso decidi escolher dois podcasts que ouvi este ano, apesar de terem sido lançados em 2020. Quando visitei Lisboa, em Setembro deste ano, fui surpreendido com a presença de moradores de rua na capital. A olho nu, pareceu-me muito acima dos anos de desemprego histórico, durante a intervenção da Troika. Estas duas séries áudio investigam as causas e consequências por detrás do crescimento exponencial de moradores de ruas em dois dos Estados mais ricos dos EUA: Califórnia (According to Need) e Washington (Outsiders).
A milhares de quilómetros de distância, estes trabalhos jornalísticos ajudam-nos a compreender a realidade portuguesa para lá dos efeitos imediatos da pandemia e os riscos de querermos ser a Califórnia da Europa a qualquer custo.
Nunca deixa de ser ingrato resumir a companhia cultural de um ano inteiro a uma ou duas referências. De todos os fenómenos que podia mencionar, as minhas escolhas são simbólicas, cada uma pelo seu motivo. Manual para Mulheres de Limpeza estava na minha wishlist há algum tempo. Fui-me cruzando com Lucia Berlin (1936-2004) nas mais diversas ocasiões e circunstâncias, como quando, por exemplo, decorei a frase, escrita por si, que se lê na sua lápide – “They call it heartache because missing someone is an actual physical pain, in your blood and bones.” -, ou quando dei de caras com a sua história e percurso literário. Sempre me fascinaram os autores que começam a publicar relativamente tarde e que, sem se perceber porquê, parecem condenados a viver na obscuridade até aparecer a obra que deixa o mundo a admirá-los em uníssono. Lucia Berlin publicou os seus primeiros contos aos 24 anos em várias publicações, incluindo The Atlantic ou The Noble Savage, revista literária dirigida pelo escritor Saul Bellow, mas foi apenas em 2015, 11 anos após a sua morte, que alcançou a fama literária repentina com a publicação de um volume de contos selecionados, Manual para Mulheres de Limpeza. Nesta sua obra, que se parece quase com um manual de sobrevivência, Berlin cria as histórias mais bonitas a partir da vida de todos os dias. Com um estilo muito próprio, conta-nos histórias de mulheres como ela, que riem, choram, amam, bebem, vivem, são mães e filhas, com casamentos fracassados e gravidezes precoces. Histórias de emigração, riqueza e pobreza, solidão, amor e violência, em salões de cabeleireiro, lavandarias, consultórios de dentista ou colégios de freiras. Com humor, às vezes com melancolia, mas sempre com uma empatia comovente (a empatia que este ano tantas vezes nos terá faltado) e com uma autenticidade que eleva as personagens e os lugares do papel da página ao nosso espaço.
E se Lucia Berlin entrou na minha vida em 2021 por acaso, Glow On, o quarto álbum da banda de punk e hardcore norte-americana Turnstile só podia mesmo ter chegado neste ano que agora termina. Não sei se foi a melhor música a sair em 2021, mas foi a que mais gostei de ouvir. No meu caso particular, há uma grande dose de surpresa porque não me afeiçoava a este género musical há mais de 15 anos, sem exagero. Mas isso talvez diga muito de Glow On. O álbum está construído com uma mestria que converte até os mais afastados do universo punk. É entretenimento puro, refrões para cantar aos gritos (“Underwater Boi”, “Holiday”), baterias mega groovy e ritmos latinos (“Don’t Play”), na verdade, o punk mais dançável que já ouvi, tipo funk da pesada (“Dance Off”) e a balada que fez o meu ano (“Alien Love Call”). Tudo desenhado com muito estilo e um bom gosto indiscutível. Como escreveu a Pitchfork, “Glow On is not a crossover hardcore album that looks to transcend the genre, but one that tries to elevate it to its highest visibility.” Há qualquer coisa na naturalidade com que Brendan Yates, Franz Lyons, Daniel Fang, Brady Ebert e Pat McCrory brincaram entre musicalidades, que nos leva a crer que talvez Glow On tenha sido um ponto de viragem para a forma como definimos os géneros musicais – aqui, pelo menos, punk é inovação, punk-rock-alternativo-dream-pop-funk-samba, e importa referir a participação do músico e produtor britânico Blood Orange em dois dos temas. Glow On é o álbum para gritar as frustrações de um ano complicado com boa disposição (em “Humanoid/Shake it Up” cantam: “Ain’t nobody getting in (locked down) / Ain’t nobody getting out (locked down) / Ain’t no other way around (locked down) / Now you’re in a lockdown (locked down)”, mantendo algum foco e esperança para o ano que aí vem.
O final deste ano chegou rápido e sem aviso; quando parei para pensar a quantas andava, estávamos no final de dezembro e era hora de fazer um resumo do que vivera ao longo do ano. As primeiras imagens em retrospectiva surgiam confusas, abstractas, um emaranhado de símbolos pouco inteligíveis formavam a paisagem de todo o meu ano 2021, e todos os pensamentos que irrompiam esta nuvem da memória eram ora frustrações de coisas que devia ter feito e não fiz, ora picos de ansiedade de coisas que tenho de fazer antes que me esqueça ou seja tarde de mais, logo no princípio do ano 2022. No meio de tudo isto, um pensamento claramente marcado por uma ansiedade com que vou batalhando todos os dias lembrei-me do local para onde voltei todos os dias, a todas as horas, quando na confusão de pensamentos queria estabelecer alguma ordem. Quando no meio de tudo queria lembrar-me onde estava. E esse local foi um disco, mais concretamente, o mais recente trabalho de James Blake.
O 5º álbum do cantor britânico James Blake é mais um capítulo na sua série de partilhas íntimas onde a saúde mental, propositadamente ou não, assume um papel central. As questões existenciais dominam o álbum do princípio ao fim, mas como é habitual no trabalho de James Blake, ancoradas numa voz única e em produções musicais bastante envolventes que nos proporcionam uma sensação de conforto mesmo sob alguma tormenta. Blake fá-lo como poucos, ou pelo menos eu sinto-o como a poucos. Com 33 anos e um longo historial de partilha das suas lutas internas, Blake não precisa de ser demasiado explícito, nem necessariamente traumático, basta-lhe ser simples e fazê-lo no seu tom habitual para nos dar que pensar. Friends that break your heart é um disco sobre isso mesmo, amigos que te partem o coração, mas não num sentido demasiado literal. É um disco sobre a importância das relações pessoais e que nos lembra de como são as pessoas que nos rodeiam, que fazem os espaços onde vivemos. Pode ser o disco mais simples de James Blake, mas talvez seja mesmo por isso, que num ano tão acelerado e com tanto ruído foi sempre um porto seguro onde me encontrar.
A rede de colaboradores do Shifter
Apoia a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.
Outros artigos de que podes gostar:


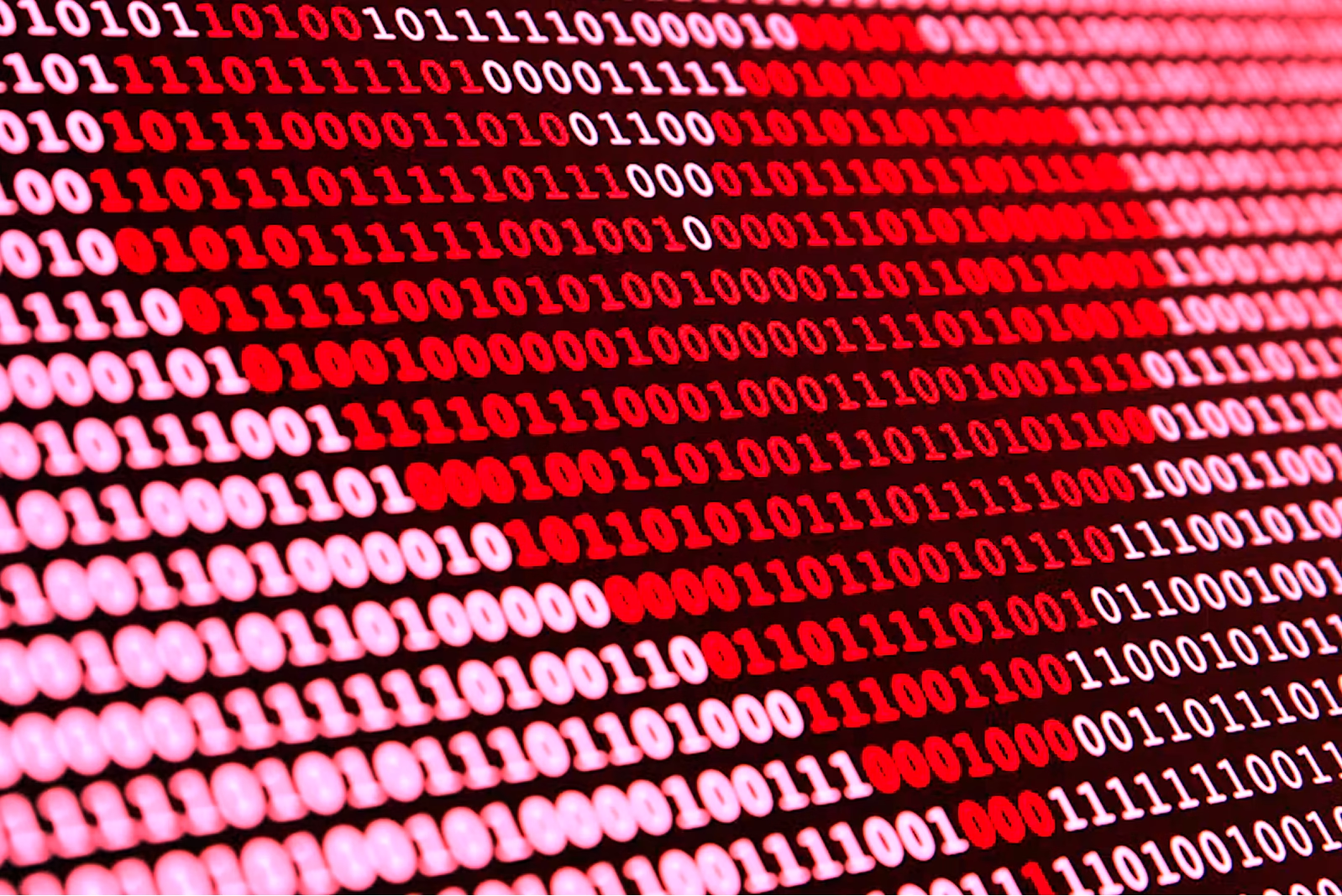

You must be logged in to post a comment.