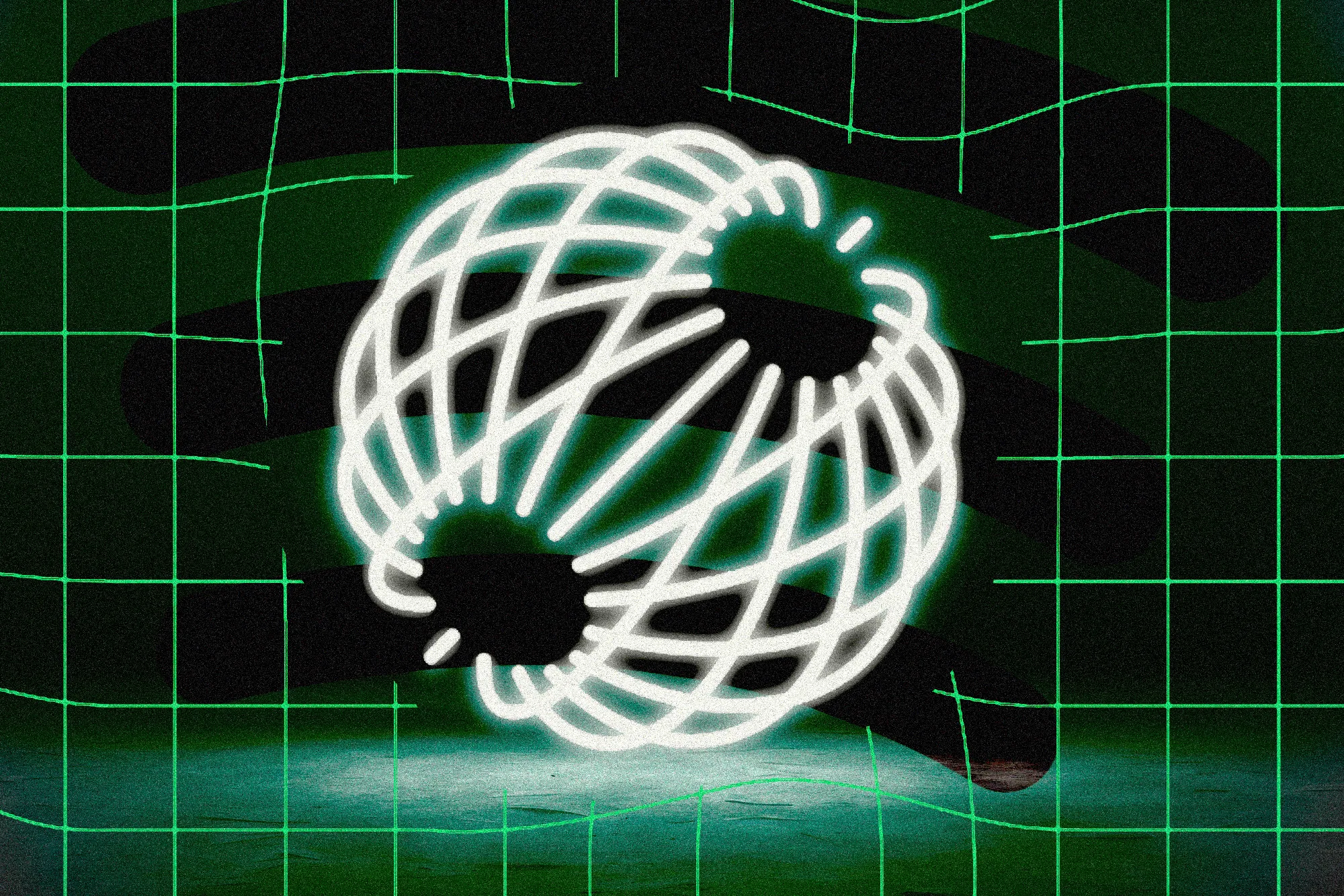
AVISO: este artigo descreve contém fortes spoilers para jogo The Last of Us.
Para muitos dos seus fãs, esta não é provavelmente a primeira coisa que lhes vem à cabeça quando tentam descrever The Last of Us, jogo originalmente lançado em 2013 para a Playstation 3 e depois portado para a 4. Dirão talvez que se trata dum jogo situado num mundo pós-apocalíptico, onde grande parte da humanidade foi dizimada por um vírus letal chamado Cordyceps — que existe realmente no nosso mundo, mas, para nossa felicidade, só afeta insetos — que converte os infetados em “zombies” cobertos de fungos. Outros referirão o sistema de combate robusto e realista, onde se prioritiza uma manutenção cuidada dos recursos escassos e uma ação furtiva, ao investimento sobre os inimigos à lá Rambo. Uma outra facção, mais dada à estética, lembrar-se-á certamente dos visuais deslumbrantes duma América dilapidada, reclamada novamente pela mãe Natureza, ou da magistral banda sonora do músico argentino Gustavo Santaolalla, vencedor de dois Óscares pelo seu trabalho nos filmes Babel e Brokeback Mountain.
Durante anos também me contentei com esta visão algo superficial de The Last of Us. Embora nunca tivesse tido a oportunidade de completar o jogo pelas minhas próprias mãos vi imensas playthroughs e apaixonei-me por este duma forma de forma vicária. Foi um jogo que esteve comigo desde que foi lançado, embora nunca tenha tido a oportunidade de jogar por completo. Só no último mês, mais coisa ou menos coisa, é que adquiri uma PS4 e realmente mergulhei nas águas da criação da Naughty Dog, a produtora do jogo. Fi-lo não só porque finalmente tinha a oportunidade de poder encarnar os papéis de Joel e Ellie, não só devido ao lançamento iminente da sequela The Last of Us: Part II (dia 19 de Junho), e porque uma pessoa se sente atraída a coisas que reflitam o status-quo que a rodeia (cough cough pandemia) mas principalmente, de forma a esclarecer-me sobre algo que Neil Druckmann, realizador e escritor do jogo, disse em 2016 quando se deram os primeiros teases à sequela. Algo cujo fascínio gerado se pregou aos cantos do meu crânio durante todo estes quatro anos, algo que até então não tinha considerado por completo:
The Last of Us é um jogo sobre amor. Mais especificamente, sobre o reencontro dum amor paternal anos a lidar com trauma, trazendo consigo toda beleza que acarreta — e toda crueldade e avareza que o poderão acompanhar.
Inicio então o jogo. É tarde, Sarah, filha pré-adolescente de Joel, aguarda pelo pai para lhe oferecer um relógio visto que é o seu aniversário. É também o dia em que o mundo começa a ser consumido pelo caos provocado pelo vírus Cordyceps. Famílias fogem, casas ardem, estradas inundam-se de carros, ocorre morte atrás de morte atrás morte. Sarah foge de carro com o pai e o seu tio Tommy. O trio tem um acidente, Sarah torce a perna e não consegue caminhar. Joel carrega a filha ao colo, segue em direção à ponte da cidade juntamente com Tommy. Este fica para trás para impedir uma série de infetados de perseguir o irmão e sobrinha. Já perto do seu destino são interceptados por um soldado. Este contacta um superior, e é ordenado a abater Joel e Sarah. Disparar sobre eles. De costas no chão, Joel implora. BAM, explode a cabeça do soldado, abatido por Tommy. Na periferia, ouvimos soluços pautados de dor: Sarah agarra a barriga manchada de sangue, Joel desespera e tenta manter a filha acordada, vê-a definhar, olha em seu redor à procura de algo, alguém, qualquer coisa que o ajude. Sarah solta um último suspiro. Joel agarra-se à filha em lágrimas, e implora que não seja verdade. Corta para preto. Título do jogo.
Num espaço de apenas 20 minutos com o comando na mão, e muito pouca interação, consegui compreender por completo o significado das palavras de Druckmann.
O prólogo de The Last of Us estabelece imediatamente um elo protetor entre o jogador e Sarah. Ao colocá-la no papel de protagonista temporária, é imediatamente estabelecido um elo afetivo entre o jogador e a rapariga. Este elo é de seguida subvertido e simultaneamente reforçado quando esta é removida das nossas mãos e colocada nos braços de Joel após o acidente. Agora o jogador é o pai que quer proteger a todo o custo a filha. Cinco minutos depois, o jogador é o pai que queria proteger a todo o custo a filha e que falhou, pagando o maior preço por isso. Esta perda reverba do ecrã até nós pela perda dum vértice no triângulo empático em que tão rapidamente me vi envolvido: eu senti a morte de Sarah, Joel sentiu a morte de Sarah, portanto fui trespassado pela perda de Joel e o amor que este sentia pela filha.
Pela primeira vez, podia dizer que sentia realmente a perda de Sarah. Há uma dimensão que se perde totalmente quando as nossas mãos não são preenchidas pelo comando. Arrisco dizer, que não há nenhuma forma de arte que consiga gerar tanta empatia na audiência como os videojogos, precisamente por causa da interatividade que trazem consigo. É um meio que torna difusa a linha que separa o protagonista do espectador. Um objetivo cada vez mais ambicionado nos jogos é o da imersão total, onde a influência do jogador sobre o mundo do jogo é absoluta e total. O que The Last of Us faz tão bem é subverter esta tendência com uma precisão cirúrgica, aproveitando-se do apego emocional do jogador para, ocasionalmente o relembrar de que o controlo que tem não é total — há personagens que têm os seus próprios objetivos e fantasmas, personagens que quando fortemente motivadas por algo (no caso deste jogo, amor) não deixarão nada nem ninguém impedi-las de conseguir o que querem. Nem mesmo o próprio jogador.
Isto aplica-se sobretudo a Joel.
Passam 20 anos e vemo-lo quebrado, agressivo, cruel. Ele e Tess, mulher com a qual mantém uma relação “profissional” que por vezes desliza para o íntimo, são encarregues de escoltar Ellie, uma rapariga de 14 anos imune ao Cordyceps, por um ambiente distópico que, para além de continuar a sofrer com o vírus, caiu sob a força dum regime marcial e por uma total desumanização nas zonas desmilitarizadas, abundantes em bandidos, canibais e infetados. A jovem pode ser a derradeira chave para se alcançar uma vacina, para isso tem de chegar às mãos dum conjunto de cientistas pertencentes ao grupo anti-militarista e pró-democrático Fireflies. O que Joel não sabe é que Ellie se irá tornar a única pessoa capaz de lhe conceder alguma felicidade após anos de miséria e violência.
O jogador é mais que cúmplice nisso. Assim que a rapariga salta para o ecrã a minha atenção e a de Joel automaticamente gravitam na sua direção. A sua baixa estatura, o fascínio pelo mundo que nunca viu, aliado à curiosidade mórbida por aquele em que vive, o sentido de humor extremamente seco e dorky, a língua afiada sempre pronta a disparar (a quantidade de palavrões ditos por Ellie faz corar qualquer um), e, acima de tudo, o seu espírito profundamente altruísta — Ellie é uma bola de luz hiperativa, ou melhor, um pirilampo num mundo às escuras onde tanto tempo viveu Joel.
Ele tenta a todo o custo preservar essa escuridão isolada; é até relembrado por Bill, um homem que vive isolado numa cidade coberta de armadilhas por ele construídas, sobre o custo que o amor em tempos de crise pode trazer: “In this world, that sort of shit’s good for one thing — gettin’ ya killed. So you know what I did? I wisened the fuck up. And I realized it’s gotta be just me.” Mas a luz de Ellie é demasiado forte. É o sacrifício de Tess (mordida por um infetado, esta fica para trás para atrasar um grupo de militares que persegue o grupo) que o compele inicialmente a seguir em frente com a jovem, mas é o carinho crescente que sente por Ellie que o mantém de pé.)
A certo ponto até, Joel tenta-se livrar de Ellie entregando-a ao seu irmão mais novo Tommy, ex-membro dos Fireflies, coisa que surpreende o jogador a quem nunca é completamente revelada esta sua intenção. A relutância expressa por Joel em acompanhar Ellie, inicialmente interpretada por mim como uma mera irritação que lhe poderia custar a vida, é finalmente revelada como face de um medo instintivo de que o que aconteceu a Sarah possa vir a repetir-se (novamente, experienciar o jogo de comando na mão muda toda a experiência).
Daqui segue aquela que, à parte do final (já lá vamos), é a mais poderosa cena do jogo, onde Ellie finalmente consegue encostar Joel à parede. Pouco antes disto, Ellie não só descobre que este tinha intenções de a entregar aos cuidados de Tommy, como tudo o que aconteceu com Sarah no desencadear da pandemia. Quando Ellie lhe diz “I’m not her, you know”, Joel é forçado a confrontar diretamente o fantasma da filha. E é a seguir a isto que Ellie revela a importância que Joel tem para ela e o medo que tem em ficar sozinha:
“Everyone I have cared for has either died, or left me. Everyone (*Ellie empurra Joel*) — fucking except for you! So don’t tell me I would be safer with somebody else, because the truth is, I would just be more scared.”
O isolamento que Joel morbidamente desejava é o que mais aterroriza a pequena Ellie, que vê nele a única pessoa que realmente se preocupa com ela porque até então nunca a tinha abandonado.
Um Joel obstinado ainda lhe responde: “You’re right. You’re not my daughter — and I sure as hell ain’t your dad. And we are going our separate ways.” Mas não se separam e prosseguem juntos.
Joel aceita o título de guardião, de pai de Ellie. E nada lhe vai roubar essa sensação, ninguém lhe vai roubar Ellie. É por isso que Joel toma a decisão que toma no final do jogo.
Quando eventualmente alcançam o grupo de Fireflies que durante um ano procuraram (ao qual Ellie chega num estado inconsciente por quase se ter afogado momentos antes), o maior medo de Joel — o maior medo do jogador — ameaça novamente tornar-se realidade. A única forma de estudar a imunidade de Ellie é removendo-lhe o cérebro, local onde o vírus se aloja no corpo humano. A hipótese de salvar a humanidade envolve a morte certa de Ellie, alguém que após uma viagem repleta de morte e trauma está pronta a abdicar a sua vida para dar ao mundo mais uma oportunidade.
Mas Joel não se importa com o mundo; o seu mundo é Ellie.

O jogo força-nos questionar a empatia que criámos com Joel e com Ellie, a perceber qual é o caminho que pessoalmente escolheríamos, mas depois força-nos a seguir as pegadas de alguém que tem vontade própria e que a quer impôr acima de tudo de forma a nunca mais sofrer algo remotamente parecido ao desgosto que sentira 20 anos antes. Uma questão que para mim não é de todo trivial (Ellie vs Humanidade) tem para Joel há uma resposta clara, curta e convicta: matar todo e qualquer Firefly que encontre pelo caminho e resgatar Ellie. E é exatamente isso que faz.
Já dentro dum carro a sair da cidade, Ellie desperta da anestesia e pergunta a Joel sobre os Fireflies. Este responde-lhe:
“We found the Fireflies. Turns out, there’s a whole lot more like you, Ellie. People that are immune. It’s dozens actually. Ain’t done a damn bit of good neither. They’ve actually st- They’ve stopped looking for a cure. I’m taking us home.”
O seu amor por ela, egoísta e egocêntrico, compele-o a mentir. Mas o jogador sabe a verdade e por isso torna-se cúmplice.
Segue-se o final do jogo: Um curto espaço de tempo depois, o duo chega à comunidade de Tommy, que meses antes lhes prometera asilo quando tudo terminasse. Ellie revela a Joel uma razão até então secreta para ter aceite aquela missão. Semanas antes do início da viagem, ela e a sua melhor amiga, Riley, foram mordidas por um infetado. Riley “converteu-se” por causa da infeção e Ellie ficou para trás, viva e imune. Há uma dor desesperada em Ellie que nunca se revelara explicitamente mas que do nada atinge o jogador como sempre tivesse sido óbvia. A morte de Ellie era a sua chance não só de salvar o mundo, mas de se redimir e reencontrar com a amiga que abandonou na morte. Enquanto agarra o relógio que lhe fora oferecido por Sarah, há muito partido mas sempre no seu pulso, Joel tenta dizer-lhe que o segredo para sobreviver é encontrar algo pelo qual se deva lutar. É subitamente interrompido por Ellie. Ocorre então aquela que possivelmente é a mais poderosa troca de palavras que já vi numa obra de arte narrativa até hoje:
“Swear to me. Swear to me that everything that you said about the Fireflies is true.”
“I swear.”
“Okay.”
Rolam os créditos. Fim do jogo.
Lembro-me que em 2013 fiquei extremamente dividido com este final. Uma mera troca de palavras num tom passivo-agressivo sucedido duma parede de texto rolante com música bonita a dar. Percebia o propósito (achava eu), mas essa era uma altura em que eu inocentemente achava que para uma coisa ser boa esta tinha de ser um grande puzzle mental.
Mal eu via a dimensão emocional que um simples “okay” poderia carregar consigo. Jogando eu mesmo o jogo, sentia que cada pedaço de mim que apoiou a decisão de Joel era uma traição que havia cometido a Ellie. A complexidade não é lógica, é emocional. Senti que tinha traído alguém que gostava, alguém com que me importava, mesmo sabendo que a minha única escolha era essa porque essa era a única escolha que Joel aceitava. O jogo aproveitou a minha empatia por aquelas duas personagens para me dar uma lição expansiva e emocional sobre a relatividade do amor humano, que por vezes não é suficiente para cicatrizar todas as feridas que um indivíduo acarreta, e que por vezes só cria mais dor nos demais.
É o melhor final para uma narrativa a que já assisti.
Com isto dito, pergunto-me o que me espera com The Last of Us: Part II.
Por um lado, a crítica tem sido tremendamente generosa com o jogo, atingindo uma média agregada de 95 em 100 no site Metacritic. Por outro, vários leaks revelaram a imensa gente os destinos polémicos de certas personagens, o que causou uma certa revolta numa secção de fãs, resultando em insultos e ameaças de mortes atirados a vários membros da Naughty Dog, em particular a Druckmann e Halley Gross. a co-escritora do guião do jogo. E ainda existem as referências constantes à violência extrema do jogo que o tornam uma experiência dura de engolir para alguns.
E claro, não me consigo esquecer da descrição que Druckmann usa em referência a esta sequela: “Se o primeiro jogo é sobre o amor entre estas duas personagens, esta história é um contraponto a isso. Este jogo é sobre ódio.”
Aquilo que sinto neste momento é a maior antecipação que alguma tive perante um jogo, filme, livro, ou álbum. Sinto-me feliz por poder descobrir o que irá acontecer a personagens que adoro com tudo o que há de mim. Sinto-me igualmente aterrorizado com aquilo que possivelmente lhes irá acontecer. Sabendo o que estas são capazes de cometer por amor, só imagino aquilo que acontecerá quando a amargura se torna o motor principal que as fará mexer.
Mas amor e ódio são a matéria que sempre nos constituiu e constituirá até aos últimos de nós voltarmos ao pó de onde surgimos. É o ócio da arte, e portanto o ócio dos jogos. Sobre o amor, sobre o ódio, sobre a vida. The Last of Us é um jogo sobre a vida. Certamente, a sequela também o será.


Tem 26 anos, tirou o mestrado em Engenharia Informática e de Computadores e trabalha atualmente como engenheiro de dados. A sua real paixão reside nas artes, nomeadamente no cinema, literatura, e videojogos. Planeia eventualmente aventurar-se na área de cinema, mas até lá contenta-se a escrever sobre tudo aquilo que o inspira.
Apoia a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.
Outros artigos de que podes gostar:
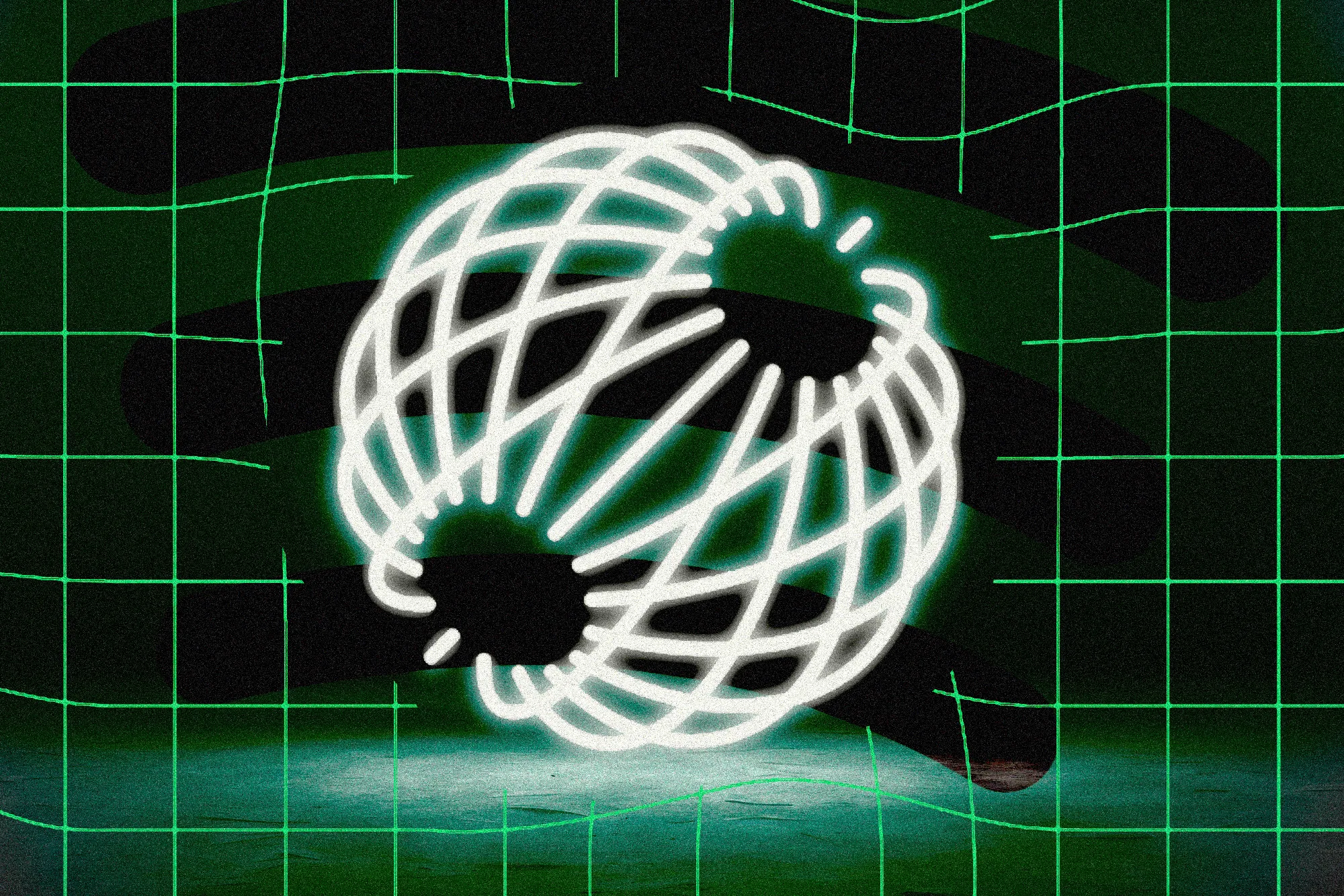



You must be logged in to post a comment.