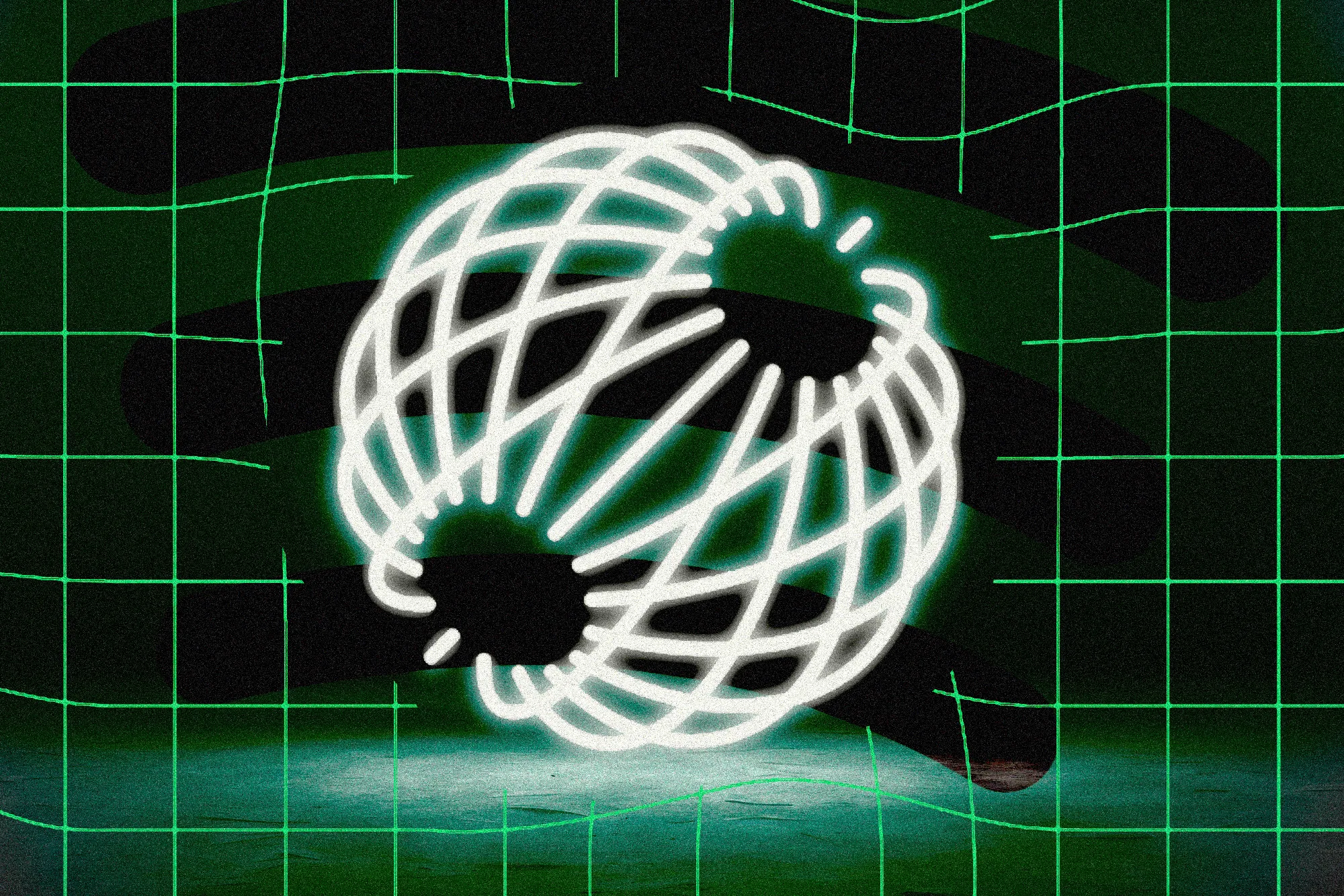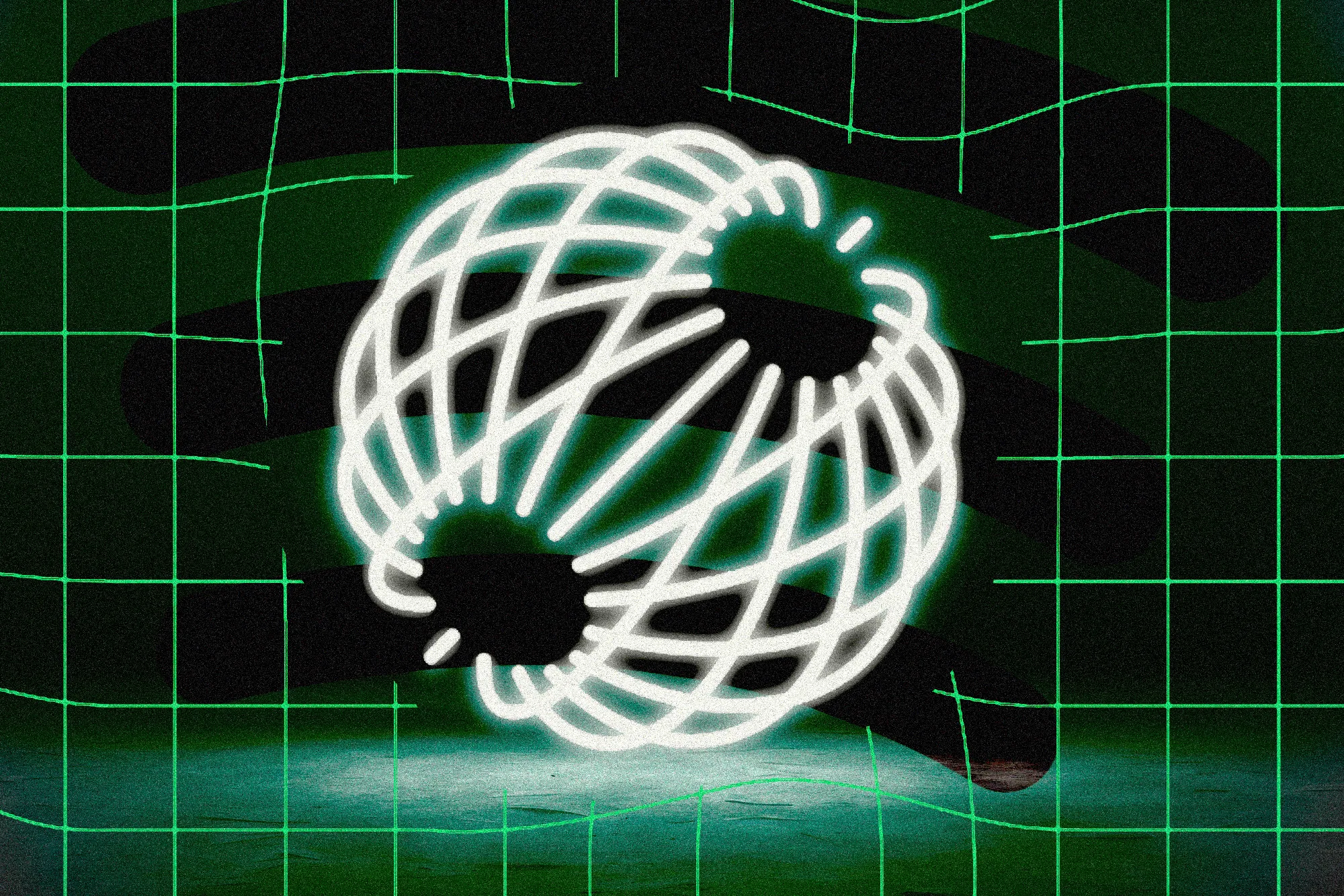

Nota prévia: incentivo todo e qualquer um que vá ler este texto a primeiro dar um olho no conto Biblioteca de Babel. Encontra-se facilmente por aí na net, e não é maior que umas 8 ou 9 páginas. Dirijo-me a todos, tanto os que nunca o leram como aqueles que outrora já vibraram com as suas divinas passagens. Vale sempre a pena recordar as belas bonanças que a vida nos põe em mãos, e esta é certamente uma delas.
“By this art you may contemplate the variation of the 23 letters…”
– The Anatomy of Melancholy, part. 2, sect. II, mem. 1V.
Foi no fim de 2018 que, na admiração dos meus recém-chegados 22 anos, desenterrou-se dentro de mim um fascínio imenso pelos artifícios da linguagem. À semelhança da minha paixão pelo cinema, admito que me surgiu um pouco tarde – alguns diriam até demasiado tarde. Encontrava-me já no segundo ano do mestrado em Engenharia Informática, tirava uma cadeira sobre Processamento de Língua Natural, cadeira esta para a qual tinha inicialmente zero expectativas, que decidi fazer só porque ainda tinha cadeiras por fazer para conseguir chegar às quatro necessárias para obter especialidade em Sistemas Inteligentes. Mas – sorte a minha – calhou-me nas aulas a Professora Luísa.
Nesta mulher (à qual, na remota eventualidade de ler isto, estendo o mais sentido dos agradecimentos) irradia um entusiasmo intoxicante pelas brincadeiras e peculiaridades da linguagem, tanto no modo como é capaz de brincar com a visão, com a audição, com ergonomia magnífica do músculo que é a língua, e com o modo como nos distorce e transfigura a percepção do que nos rodeia. Claro, havia naquelas aulas muito technical knowhow que não me entusiasmaram muito (a culpa recai sobre os conteúdos obrigatórios da disciplina, não na voz que os transmitiu), mas raios partam!, nunca antes havia sentido tal gana de me enfiar de nariz num livro. Eu já era um leitor semi-assíduo antes desta viragem, mas senti um o focar dum holofote sobre algo que até então desconhecera ou – se calhar – ignorava. Nas letras, via agora algo que, se tivesse surgido mais cedo, provavelmente teria mudado toda a minha rota académica e universitária. Pode-se dizer até que foram estas que finalmente me viram.
Todo o texto, por mais insípido que fosse, ganhava alguma magia porque neste detetava um certo algo, até então imperceptível, mascarado por detrás do véu da sua particular (in)formalidade linguística. Rodeava os parágrafos, saltava da abertura dos às para se afundar nas profundezas dos ús, sapateava entre os tês e pês, serpenteava os pontos e as vírgulas, e finalmente sentia nos meus olhos mãos e dedos para o agarrar.
E foi ano e meio depois de tudo isto ter ocorrido, que este elemento mágico me foi relembrado quando me deparei com aquele que, sem dúvida alguma, é um dos epítomos de toda a literatura: o conto Biblioteca de Babel, publicado em 1941, do poeta e escritor argentino, Jorge Luis Borges.
Um narrador anónimo (que tanto pode ser somente uma personagem à qual foi dada voz, como uma encarnação diegética do próprio Borges), descreve a Biblioteca (à qual ele casualmente chama de “universo”) onde ele e muitos outros residem:
“(…) compõe-se de um número indefinido, e talvez infinito, de galerias hexagonais, com vastos poços de ventilação no centro, rodeados por balaustradas baixíssimas. De qualquer hexágono, vêem-se os andares inferiores e superiores: interminavelmente. (…) Vinte prateleiras, em cinco longas estantes de cada lado, cobrem todos os lados menos dois; sua altura, que é a dos andares, excede apenas a de um bibliotecário normal. Cada uma das faces livres dá para um estreito vestíbulo, que desemboca numa outra galeria, idêntica à primeira e a todas outras. À esquerda e à direita do vestíbulo, há dois armários minúsculos. Um permite dormir em pé; outro, satisfazer as necessidades fecais. Também por aqui passa a escada espiral, que se abisma e se eleva ao infinito. No vestíbulo há um espelho, que fielmente duplica as aparências. (…) A luz provém de algumas frutas esféricas que carregam o nome de lâmpadas. Em cada hexágono, existem duas, colocadas transversalmente. A luz que emitem é insuficiente, incessante.”
Uma realidade alheia à nossa, populada também esta por humanos (denominados como “bibliotecários”), onde o mundo conhecido é todo ele feito de galerias e estantes sem fim à vista, totalmente indistinguíveis entre si, à exceção do conteúdo de cada livro que preenche cada prateleira:
“A cada um dos muros de cada hexágono correspondem cinco estantes; cada estante encerra trinta e dois livros de formato uniforme; cada livro é de quatrocentas e dez páginas; cada página, de quarenta linhas; cada linha, de umas oitenta letras de cor preta. Também há letras no dorso de cada livro; essas letras não indicam ou prefiguram o que dirão as páginas.”
Na totalidade dos livros, encontram-se todas as possíveis ordenações de 25 símbolos: o alfabeto latino (privado das letras “K”, “Q”, “W” e “X”), a vírgula “,”, o ponto final “.” e o espaço “ “. A lógica por detrás da decisão de caracteres possíveis – juntamente com a introdução de todo o alicerce que suportou a construção do conto – encontra-se em A Biblioteca Total, ensaio redigido por Borges em 1939 onde descreve o modo como esta operaria, e enumera as várias origens históricas por detrás da ideia. Aparentemente, o seu embrião é datado ao século IV A.C., autorado por Aristóteles, cuja obra Sobre Geração e Corrupção em parte atomiza toda a existência nos 24 caracteres do alfabeto grego.
Por outras palavras, a Biblioteca contempla, na sua imensidão, o que se escreveu, o que se irá escrever, o que foi, o que pode vir a ser, ou o que poderia ter sido: tudo, portanto. Tal é a totalidade da Biblioteca de Babel, que até o seu tempo se torna uno: eterna esta é, anterior e posterior ao homem, e a qualquer outra raça mortal que o tenha precedido ou vá suceder.
De mão dada ao eterno caminha o divino, e é assim que Borges, no contexto narrativo, justifica toda aquela realidade. A única verdadeira certeza que o narrador tem sobre a Biblioteca é a da qualidade divina do seu desconhecido progenitor – algo que, a meu ver, simultaneamente apimenta e apazigua o efeito posterior da obra –, justificando que mãos mortais nunca poderiam replicar até ao infinito a carpintaria elegante das estantes e balaustradas, ou a precisão caligráfica dos textos, cuja qualidade é descrita como “pontual, delicada, perfeitamente negra, inimitavelmente simétrica.” Mas em esmagadora oposição a toda esta elevação, a todo este todo, o nada é o principal ocupante da Biblioteca e dos seus habitantes.
Borges culmina a sua tese em A Biblioteca Total elucidando o leitor sobre a motivação que o levaria a cunhar a sua interpretação da ideia: resgatar do esquecimento eterno aquele que imediatamente se afigura como um dos maiores pesadelos do ser humano: a possibilidade angustiantemente ínfima, mas não-nula, do conhecimento total. E é precisamente neste horror puramente existencial que, a meu ver, reside metade do encanto da Biblioteca.
Coloquem-se no lugar de um dos bibliotecários. Toda a vossa vida rodeada por milhões e milhões de livros, sabendo que num monte deles – devido a possíveis variações de uma ou outra palavra, ou de um ou outro carácter, ou de um ou outro ponto, virgula ou espaço – se encontra descrito ao mais ínfimo detalhe cada acontecimento do vosso futuro. Que há um livro que apresenta as soluções a todos os problemas que possam ter ao longo da vossa vida. Que a totalidade do caos e aleatoriedade do universo (no caso deste conto, a Biblioteca) podem ser racionalizados numas meras quatrocentas e dez páginas. Agora imaginem também que existem volumes e volumes que possam contradizer e anular tudo isto, que anulam toda e qualquer coisa que se afigure como certa. Cada frágil certeza é contradita, contradição esta também refutada por múltiplas outras. O que é ou não verdade deixa de importar porque a nossa percepção de tal é completamente deturpada. Tudo ganha o perpétuo estado de subjectivo, de incerto, mas acima de tudo, inatingível. Porque, no meio de todo estas teorias e informações, reina uma infinita e intraduzível anarquia linguística.
Páginas e páginas de gatafunhos aleatórios, é o que espera a grande maioria dos olhos que pousem sobre uma das incontáveis folhas. Fortunado é aquele que, no decorrer da sua vida na Biblioteca, encontrou sequer uma curta frase legível perdida entre páginas. Seguem-se dois exemplos que marcaram a longa vida do narrador:
“Um que o meu pai viu num hexágono do circuito quinze noventa e quatro, consistia das letras M C V, perversamente repetidas da primeira até à última linha. Outro (muito consultado nesta área) é um mero labirinto de letras, mas a página penúltima diz ‘Oh, tempo tuas pirâmides’.”
Ali, há quem procure ao máximo justificar algum significado dum mero padrão de letras; há quem arraste todo um sentido para a vida somente por uma frase de quatro palavras; nuns reina a revolta incendiária contra qualquer tipo de livro considerado inútil (esforço absurdo, já que existirão resmas de outros extremamente semelhantes ao destruído, com variações num ou outro caracter); noutros, impera um niilismo crónico que lhes anula toda a ação, menos aquela que, eventualmente, os tropeça para o negro vazio além das balaustradas. E esta crise é por fim transposta para o leitor quando este se dirige a nós, leitores, com uma das questões mais arrepiantes que alguma vez me foram colocadas por uma obra artística:
“Tu que me lês, tens Tu a certeza que compreendes a minha linguagem?”
Mas é precisamente quando todo o tom do conto se avizinha deste vale depressivo que Borges nos resgata e nos mostra que só há escuridão se existir também luz.
A esperança aos olhos do narrador encontra-se não no texto, mas na linguagem. Não há uma renúncia do que fora enunciado, somente há uma apaziguação da alma face ao que não se consegue controlar. Repulsa é substituída por fascínio, por esperança. O significado do texto não resulta somente duma amálgama de símbolos combinados numa qualquer sequência, mas principalmente de quem os apreende e do idioma que o cobre:
“Ninguém consegue articular uma sílaba que não esteja cheia de ternura ou medo, que não seja, numa destas línguas, o poderoso nome de um deus. Falar é cair em tautologia.”
Num simples par de frases, o autor reivindica o globo do texto, mostrando que a linguagem e sua literatura são uma moeda só, de cara voltada para o infinito e coroa apoiada no todo interior e espiritual da pessoa. O nada é sempre algo para alguém, que existe, existiu ou existirá. A ordem não existe lá fora: nós é que a ditamos, que a comandamos, e, para Borges, também ele um bibliotecário, não há melhor leme para a vida que a palavra. Acabamos o texto e sentimos olhos novos nas cara, capazes de percepcionar todo um mundo novo diante de nós.
Se quiserem experienciar uma leve amostra do que seria estar é a Biblioteca, vejam o site de Jonathan Basile, onde existe um simulador textual no qual se podem aventurar, juntamente com o mais completo ensaio sobre as particularidades da criação de Borges.


Tem 26 anos, tirou o mestrado em Engenharia Informática e de Computadores e trabalha atualmente como engenheiro de dados. A sua real paixão reside nas artes, nomeadamente no cinema, literatura, e videojogos. Planeia eventualmente aventurar-se na área de cinema, mas até lá contenta-se a escrever sobre tudo aquilo que o inspira.
Apoia a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.
Outros artigos de que podes gostar: