A regra jornalística diz que, ao introduzirmos a obra de alguém, devemos sempre citar os seus trabalhos mais notórios. Nesses moldes, Rui Cardoso Martins equivale-nos a Contra-informação, Herman Enciclopédia, Zona J, O Público e Deixem Passar o Homem Invisível. Mas o que restará para além do óbvio, para além do mínimo que cabe numa página de Wikipédia?
Cardoso Martins é pai, marido, jornalista, contador de estórias, escritor, cronista e argumentista. Mesmo tecnocrata, talvez seja esta apropriação de cargos mais adequada para categorizamos o homem. Ela é mais justa do que os sucessos, mais ampla do que os insucessos, mas injusta para com o homem. Fica-nos a faltar tanto sobre ele.
Rui Cardoso Martins é, acima de todas as designações que caibam em documentos legais, um homem honesto, um tipo brutalmente justo, um gajo que não se coíbe de chamar os bois pelos nomes, um Cavalheiro — com C em caixa alta — que não se importa de chorar em público, como aliás aconteceu no lançamento do seu livro. É sobre toda essa justiça que falamos. Passamos por Levante-se o Réu Outra Vez, o seu novo volume de crónicas, vamos à Zona J, o seu mais aclamado filme, mas terminamos com o que realmente lhe é indispensável: a justiça, a honestidade e a família.
Costumas contar uma história de família em que o teu pai, recebendo por engano uma nota a mais no banco, decide, sem grandes dilemas morais, devolver a nota. É esse o primeiro gesto que marca a justiça na tua vida?
Havia já outras coisas que indicavam justiça, mas aquele foi um bom exemplo. Nunca vi o meu pai ser realmente injusto, nem a minha mãe. Eram às vezes um pouco bruscos, mas educava-se assim na altura. Injustiça não havia. O meu pai recebeu seis mil escudos em vez de cinco, numa máquina multibanco — ainda eram novas —, e resolveu ir lá dentro devolvê-la, quando não tinha de o fazer.
Foi inexperiência ou correcção?
Eu senti que o meu pai estava mesmo a fazer o correto. Mas isto faz tudo parte de uma coisa maior… Os meus pais foram sempre pessoas que não pensavam em ganhar muito dinheiro, nem com esquemas, nem com nada. Eram dois professores que viviam para os alunos e para terem uma vida modesta mas honrada, como também se usava na altura [risos].
És um fã dos grandes escritores russos. Acreditas, como o Tolstoi, que o maior erro do sistema judicial é ser uma instituição em que “os seres humanos são tratados sem amor”?
Nunca tinha pensado nisso… Enfim, quando se pergunta a um juiz se ele está a julgar, muitas das vezes ele diz que não está a julgar as coisas, mas sim a aplicar a lei. A lei em si por vezes parece muito restritiva, mas por outras vezes não o é. Depende muito dos agentes, da pessoa que está a aplicá-la. Vi várias vezes — e acho que as minhas crónicas de tribunal reflectem isso — a dúvida a instalar-se, juízes a tentar encontrar um… não vou dizer a palavra misericórdia, mas um meio limpo, e às vezes não tão limpo, de fazer justiça quando a justiça está errada. Vi isso num caso de aborto: uma menina foi violada pelo próprio pai e a médica em questão estava a ser julgada pela prática de aborto, quando já tinha ultrapassado os prazos todos. Vi nitidamente naquela juíza que cumprir a lei seria um absurdo total. De maneira que ela arranjou uma forma de instalar a dúvida, contornando a lei pela falta de provas. Ali via-se amor. Posso dizer que havia amor daquela juíza, que sentia que a justiça estava errada, e que aplicá-la seria então mesmo muito errado.

São a compaixão e o amor que permitem contornar a lei?
Podem ser. A compaixão, o amor, a inteligência, o ter vontade de dar uma oportunidade. Também vi o contrário. Houve um caso, que também está contado, em que um miúdo — que já não era um miúdo, tinha vinte e três anos — mata dois polícias. O tipo não tem qualquer arrependimento, não tem qualquer problema em mentir e passar as culpas para outros; não mostra sequer qualquer respeito pela situação que criou, que foi terrível, uma situação de filhos sem pai… No fim, a juíza deu-lhe uma oportunidade para não estragar a vida, porque ainda era jovem. Mas ele não merecia, eu senti isto, e a dúvida mais uma vez instalou-se. Ali devia ter sido aplicada a lei como estava escrita. Mas, como é óbvio, não me competia a mim julgar, embora a minha visão nestas crónicas seja muito subjectiva…
Parece haver, da transição do primeiro volume para o segundo, uma diferença de crimes e de realidades: enquanto o Levante-se o Réu tem mais crimes passionais, mais morte, sexo e violência, o Levante-se o Réu Outra Vez parece mais focado no pequeno delito, no consumo de álcool e droga. O que é que te levou a concentrar essa dureza toda na primeira edição? Não tinhas pensado num segundo volume?
Não tinha a certeza se ia haver um segundo volume, e no primeiro simplesmente escolhi aqueles que me pareciam mais relevantes, tanto do ponto de vista cómico como dramático. Fui pelos mais exemplares, se pudermos usar aqui a palavra. Depois, quando se pôs a hipótese de um segundo volume, fui buscar crónicas talvez mais ligeiras, crónicas de pessoas um pouco menos dramáticas, embora haja algumas bastante fortes. Mas também reflecte os primeiros tempos em que eu estive no tribunal de polícia, e em que esta crónica ganhou algum nome. Eram histórias de pessoas muito normais, com crimes mais ou menos banais — alguns deles. Quando acabei a primeira recolha fiquei quase com mais 67 crónicas livres, prontas para entrar. A escolha foi difícil por isso mesmo…
A altura em que começas a escrever estes relatos coincide com alguns flagelos da sociedade portuguesa. Nos anos 90 intensificam-se a venda e consumo de drogas, a prostituição, vive-se o pânico da sida… Chegámos nessa época a um nível de miséria humana sem precedentes?
Talvez tenha sido um bocadinho assim em todo o lado. Se olharmos para os filmes dos anos setenta, oitenta e noventa nos Estados Unidos da América… basta lembrar Scorsese. Talvez tenham sido anos em que a sociedade não sabia lidar com um certo tipo de violência, que também tinha a ver com a violência contra si própria. A droga devastava muitas famílias, ricas e pobres, e eu apanhei isso. As coisas já aconteciam, a questão é que quando eu comecei a escrever julgamentos com toxicodependentes não havia muitas histórias dessas. Depois transformou-se numa questão de boas reportagens. Aqui no parque onde estamos [a entrevista decorre durante a Feira do Livro, no Parque Eduardo VII]… É engraçado estarmos aqui tão perto do tribunal onde eu assisti a estas coisas. Havia ali o Tribunal de Polícia e depois passou a haver o Tribunal Criminal. Lembro-me muito bem da primeira vez que um rapaz me descreveu a maneira como começou a drogar-se. Perguntei-lhe se se lembrava da primeira vez que tinha consumido heroína e ele respondeu-me: “sim, foi no dia em que o pai morreu”. Isto até parece simples, mas é um bom diálogo cinematográfico, se pusermos as coisas assim. E pronto, isto tinha força porque não era muito costume aparecerem reportagens escritas em diálogo. Nem sei se alguma vez tinha sido usado em jornalismo…
Podemos justificar esse aumento de criminalidade com a última fase do êxodo rural, bem como com a chegada de imigrantes africanos e do leste europeu? Há no livro muitas crónicas sobre estrangeiros…
Eu nunca usei uma perspectiva muito sociológica nisto. Dizem-me hoje — e eu fico contente e tendo a aceitar que sim — que as crónicas eram um bom retrato de Portugal nesses anos. É claro que há linhas distintas entre uns casos e outros, mas acho que sim; retrata um pouco do que se estava a passar na sociedade portuguesa, e eu tentava perceber isso, sempre da perspectiva de tentar entender aquelas pessoas como meus concidadãos, como pessoas que podiam ser os meus vizinhos, que podiam ser eu até. Pretendia não fazer um juízo nem rebaixá-las; não senti que tivesse o direito de zombar das pessoas. Posso usar a ironia, posso usar o sarcasmo, mas nunca para zombar das pessoas. Talvez houvesse um caso ou outro em que senti que elas mereciam… Mas muitas daquelas pessoas tinham, de facto, vindo do campo para a cidade; eram pessoas que tinham vidas muito miseráveis…
Esse não-julgamento pode relacionar-se com o facto de também tu seres, de certa forma, um imigrante em Lisboa [Rui Cardoso Martins é natural do Alentejo]?
Eu nasci num sítio complicado. Rico, mas complicado. Cresci numa altura em que ser alentejano não era tão chique quanto é agora [risos]. Havia muitas anedotas — que aliás se replicavam noutros países, com variantes que se aplicavam, por exemplo, aos escoceses na Inglaterra… Sempre me habituei a viver com isso, com orgulho, mas também com a noção de que muitas coisas eram injustas e que as tínhamos de aceitar. Não sei explicar isto muito melhor, mas acho que é o sentido de justiça… Nunca quis ser advogado — os meus pais gostavam que eu tivesse sido —, porque pensei sempre que ser advogado implicava um dia ou outro vendermos a nossa consciência à defesa de uma pessoa que não merecesse, ou então falharmos com uma que merecesse. Nunca achei que fosse uma profissão como o jornalismo, que pode ser muito interessante, sobretudo se mantivermos a lealdade os princípios.

Os advogados têm um papel secundário nas crónicas, focando-se quase sempre os holofotes no réu e no juiz. Quando aparecem, aparecem para ser exemplos de crime. É propositado?
Eu gosto muito de mundos a colidir [risos]. Estes julgamentos muitas vezes eram só uma interrogação. Havia uma acusação, uma pessoa apanhada em flagrante (ou não)… Os advogados não tinham grande influência. Estava lá muitas vezes um advogado estagiário, uma figura um pouco triste. A certa altura comecei a ficar mesmo enervado, porque ele podia fazer duas ou três perguntas que ajudavam os réus e nem sequer as fazia. O advogado oficioso era uma triste figura do “peço justiça”. Hoje já não é bem assim, e acho que esta crónica ajudou um bocadinho nesse sentido, porque levantou várias vezes essa questão, sobretudo nos casos dos ricos contra os pobres.
Na crónica “O filho do general e o cigano” fica no entanto latente a ideia de que a justiça parece não fazer distinção entre classes sociais…
Eu achei esse caso muito interessante, sobretudo pela justiça da juíza. Nós não estamos à espera daquilo… É daquelas coisas que só mesmo chegando lá e ouvindo. Aquele miúdo tinha-se embebedado, era filho de um general importante — uma pessoa, e posso dizê-lo agora, com as mais altas distinções nacionais — e armou-se em estúpido com um polícia. Estava convencido na sua embriaguez de que era mais do que os outros, mas não. Acabou por ser preso. O que é realmente bonito, e quase comovente, é ver que a juíza aplicou ao cigano que veio a seguir não só a mesma pena como também a mesma formulação: “ponha exactamente o que escreveu no caso anterior”, pediu ela.
O teu papel enquanto jornalista permitiu-te, entre outras coisas, salvar da morte um jovem liberiano que estava em vias de ser deportado e assassinado no seu país de origem… Foi o caso mais gratificante?
Esse foi muito bom, porque a minha crónica tinha sido apresentada nas alegações finais e ajudou a tomar a decisão de que ele não podia ser expulso. É uma daquelas vezes em que nos sentimos úteis. Por acaso não encontrei, em tempo útil, uma crónica sobre um carpinteiro que tinha o mesmo nome de outro — que já tinha batido na mulher várias vezes — e que, volta na volta, os policias iam buscar ao trabalho às sete da manhã; levavam-no como um preso à frente de toda a gente. O patrão era um tipo simpático, e já tinha dito que aquilo não podia ser, porque já tinha testemunhas… Mas sistematicamente — umas três ou quatro vezes — foi preso assim. Eu nessa crónica, ao contrário do que era comum, escrevi o nome dele, precisamente — e ele depois passou a andar com aquilo na carteira — para provar que ele, José qualquer coisa, um cabo-verdiano, era muitas vezes tomado por outro.
Sentes que hoje, com a realidade da ultramediatização e do sensacionalismo, se está a perder o respeito e a dignidade?
Sinto, então não sinto? As pessoas começam a dar entrevistas à televisão sem pensarem que estão a dar cabo da sua vida, da vida dos seus filhos… Tem de haver um certo decoro. Eu tentei pôr um pouco de decoro nas crónicas. Olhando agora as minhas crónicas, muitas delas estão cheias de palavrões, de calão, de situações dramáticas, mas tentei nunca perder essa perspectiva. O que estava em causa era o caso, não eram as pessoas. Quando um caso era importante, era importante para todos nós. Nunca foi feito para vender, claramente.
Quando nos primeiros anos do Público o Vicente Jorge Silva te pediu que começasses a escrever estas crónicas, que exemplos queria ele que seguisses?
Eu fiz uma reportagem, ainda como estagiário, para entrar no Público. Essa reportagem foi mostrada ao Vicente e ele lembrou-se… Era uma reportagem bastante dinâmica, estava escrita de uma forma ligeira mas profunda… Alguns dos melhores escritores, e até argumentistas de Hollywood, foram tipos que começaram a fazer tribunais: o Ben Hecht, o Dalton Trumbo… tantos escritores bons que começaram na tarimba da rua… Nós lemos os textos deles e o que é que sai dali? Sai dali vivacidade; é o pulsar de um país. Era só isso que me interessava. Esse jornalismo tablóide, que as televisões intensificaram, já existia. Já existia O Crime, o jornal d’O Incrível… Eu tentei, e acho que consegui, levar para um jornal dito de referência esta realidade, sem perder aquilo que estava em causa, que era mostrar o nosso país. É preciso também dizer que eu não fazia só isto: fui a vários sítios do mundo onde estavam a acontecer coisas importantes, mas não eram mais importantes do que isto. A guerra da Bósnia, as eleições na África do Sul eram uma responsabilidade enorme, mas no momento de escrever não eram mais importantes do que isto. Isto deu-me muito trabalho… Eu passava uma ou duas noites a escrever as crónicas, depois de andar a fazer o meu trabalho no jornal. Foram fins-de-semana, muitos anos de fins-de-semana que eu dormi mal. Foram muitos os dias de folga que não tive por causa desta crónica.
Por que razão achas que venceste o prémio Gazeta com estas crónicas e não com outras até mais sensíveis e tocantes, como a cobertura das primeiras eleições livres na África no Sul ou o cerco de Mostar? Foi um reconhecimento de que nas tuas crónicas de tribunal estava, de facto, o Quarto Poder?
Isso não sei dizer. As pessoas riam, choravam, ficavam arrepiadas, isto tudo com casos simples que se passavam à nossa volta… Como disse uma vez o Ferreira Fernandes — que muito me ajudou desde o princípio —, era o mesmo que assistir à chegada de um barco cheio de refugiados em Portugal… Eram vidas naufragadas, apanhadas em circunstâncias criadas pelos próprios, mas muitas vezes apenas por ignorância, falta de dinheiro, brutalidade policial, por ciúmes. Há muitos casos de ciúme. O ciúme dá cabo da vida a muita gente…
Há uma diferença significativa entre o que vias nos tribunais portugueses e o que viste, por exemplo, em Sarajevo, com civis a serem baleados diariamente? Ou corresponde tudo à mesma dimensão de miséria urbana?
A guerra intensifica tudo. Na guerra fazem-se coisas que parecem normais; é uma interrupção do Direito, não é? Um estado está durante séculos a dizer “tu não podes matar, não podes roubar”, e de repente faz-se uma interrupção em que o objectivo de um soldado é fazer exactamente o contrário do que aprendeu na sua meninice, que é matar, roubar, violar, abusar do poder. A guerra é outra coisa. Eu estive em Sarajevo antes e depois da guerra. Ainda em jovem, fui como turista num interrail, e depois voltei lá já durante a guerra… A ideia de que há um vizinho com quem nos dávamos razoavelmente que nos mata a filha… Epá, é outra coisa. No entanto, aqui, no seu ridículo, temos nestas minhas crónicas um vizinho a quem estamos capazes de matar porque ele tem um cão que nos morde…
Ou um ar-condicionado que faz barulho.
É interessante falares nisso, porque há uma hipótese de apresentar um projecto sobre isto com o Edgar Medina, um dos co-argumentistas do Cartas de Guerra, do Ivo Ferreira. Nós temos um projecto pensado para televisão, que pega em cada caso destes e, ficcionando um bocadinho, como é óbvio, resulta num episódio por semana de Levante-se o Réu. Nós pegámos nisso mesmo pelo seu absurdo: como é que um ar-condicionado se transforma numa guerra civil dentro de um prédio? Pode até levar a mortos, como nós sabemos… À guerra a sério temos de ter mais respeito, porque é uma coisa mais terrível. Que nunca nos chegue cá a guerra, como já chegou noutros períodos.
Uma das cenas mais marcantes no Zona J envolve um confronto entre a autoridade e os jovens negros do bairro. Nessa sequência o polícia, protagonizado pelo Almeno Gonçalves, insulta os negros e chama-lhes, entre outras coisas, “caras de carvão”. Este racismo via-se de forma clara nos tribunais, ou era mais polido?
Havia alguns casos, mas também havia casos de negros que iam ao tribunal e, depois de terem feito um disparate qualquer, como conduzir bêbados, se desculpavam logo com o racismo. Eu tentei também ver que nem sempre as coisas são como parecem. Agora, no Zona J, foram coisas que fui escrevendo com base no que os miúdos me diziam. Estive lá há dias, com a Antena 1, e tive a satisfação de ver que até os moradores acham que o filme estava muito fiel em relação ao que o bairro era. Aquelas rusgas, aquela vida… O bairro mudou muito, também bastante graças ao filme. O racismo também mudou um bocado, sobretudo na questão dos pares mistos. Um negro com uma branca hoje é uma coisa comum, mas na altura não se via em lado nenhum.
Como é que se convive com jovens que ensinam a fazer ligações diretas e a falsificar um par de calças Levi’s?
Essa história das calças ficou conhecida porque ninguém tinha pensado naquilo… Existem sete pormenores importantíssimos para saber como se falsificam as calças. Os falsificadores às vezes conseguem aldrabar em um, dois ou até quatro pormenores, mas nunca conseguem os sete. É uma especialidade deles. Perguntei-lhes, quando estava a escrever a cena do assalto à ourivesaria, como é que o fariam. Eles, não sendo assaltantes, mas sabendo de outros que eram, explicaram-me. Tinha havido aliás um problema em Chelas de um rapaz que morreu em Évora, baleado por um segurança. O tipo tinha vindo de Chelas e levou um tiro nas costas…
Foi daí que veio o desfecho do assalto no filme?
Não. Já tinha escrito aquilo. Aconteceu uma série de coisas… Quando falei ao primeiro [rapaz] da hipótese de trazer diamantes escondidos no corpo, inacreditavelmente um tio dele tinha estado nessa situação.
Caíste na tentação de aconselhar alguns dos miúdos da Zona J a não entrarem pelo mundo do crime?
Isso nunca resultaria. Senti que havia uma desconfiança inicial, por pensarem que eu podia ser um infiltrado da polícia, mas depois, ao terem percebido que não era, ganhei confiança com eles. Eu não tinha nada que estar a julgar pessoas que tinham uma vida tão diferente da minha, isto por terem nascido ali, por serem pobres, por serem negros — alguns, não todos. Queria captar o espírito melhor deles, o espírito genuíno, como fiz aqui no Levante-se o Réu. Se por arrasto pudesse mudar a vida deles, o que aconteceu num caso ou noutro, melhor. O Mariana — que no filme se transforma em Filomena, e depois se transforma actor — transforma-se numa vedeta, o que não durou sempre, mas ele acaba a agradecer-me o facto de eu lhe ter dado livros e de lhe ter aberto o mundo para outras coisas. Isso para mim era o mais importante. Não sou assistente social nem moralista.
Até onde vai a responsabilidade social do jornalista?
A responsabilidade é grande. Devemos lutar contra injustiças; não acredito num jornalismo neutro perante o fascismo. É um disparate. Não tomar partido é tomar partido pelos fascistas, pelos assassinos. Há causas que não admitem não nos metermos nelas. Esse problema resolve-se facilmente com aquilo que realmente interessa à humanidade. O jornalismo não pode estar fechado nos seus próprios conceitos; deve ter, na minha opinião, bons instintos. Deve servir para fazer o bem, não para disseminar o mal, o gangsterismo e a aldrabice, como tantas vezes infelizmente acontece com jornalistas que estão ao serviço de interesses económicos, de interesses políticos. Isso sim é completamente fora. Agora, há causas que me parecem genuínas: acabar com a fome, acabar com a guerra, acabar com a violência sexual… É óbvio que isso faz parte do trabalho do jornalista.
Ainda reconheces esta Lisboa do Levante-se o Réu na Lisboa dos dias de hoje?
Aquilo era Lisboa, mas não só Lisboa. Lisboa também é isso. Havia tipos que vinham das Beiras… Mas acho que grande parte sim. Os roubos de discos já não existem, não é? Houve coisas que mudaram, coisas que já não fazem sentido. Muitos dos casos que dantes eram julgados agora transformam-se noutros processos complicados… Houve a seguir uma invasão dos tribunais com histórias de histórias de não pagamento às operadoras de telecomunicações. Aquilo ficou tudo inundado, e de repente já parecia difícil encontrar casos. Eu pus a hipótese de voltar a escrever estas crónicas, mas não encontrei assim tanto interesse em lado nenhum. Algumas pessoas ficaram muito entusiasmadas, mas depois já não há dinheiro para isto se tornar numa coisa outra vez .
É possível que retomes a crónica em formato exclusivo para livro?
Nunca pensei nisso, mas isto só faz sentido quando feito de semana a semana. O livro ficou muito mais interessante do que eu esperava. Era um projeto antigo, que muitas vezes se falou, ainda no tempo da D.Quixote, mas não tinha a noção de que as crónicas tinham este impacto. Uma pessoa lê uma cómica, depois lê outra mais comovente… o efeito é muito equilibrado.
As referências que trazias do jornalismo criminal português não faziam isso?
Vamos lá ver, quando o Público apareceu não havia nada de extraordinário em lado nenhum. Estava tudo muito cinzento, muito dominado por agendas. Foi aquele tempo ainda de transição do cavaquismo, da tecnocracia. Entretanto o Público aparece e estamos abertos ao mundo todo. Íamos ao mundo inteiro na boa… Já não se escrevia uma coluna criminal há algum tempo, mas houve antecedentes. No Diário de Lisboa… o Mário Castrim fez, a Alice Vieira, se não me engano, também fez… Havia um tipo chamado Manuel Geraldo que escrevia sobre crime, e publicou depois até um livro [Um Juiz no Alto do Parque]… Fiz o Levante-se o Réu à minha maneira. Não tinha nenhuma referência; fui eu que inventei as minhas próprias crónicas. De tal modo que, quando escrevi a primeira, e isto está no prefácio, eles mudaram aquilo para uma notícia, porque não tinha interesse nenhum. Só tinha interesse precisamente pela dinâmica humana da coisa. Não tentei fazer à maneira de, porque as minhas referências eram outras… o António Lobo Antunes, o José Cardoso Pires, o Dinis Machado… havia muito, muito bairro. Uma coisa que o António Lobo Antunes me disse há dias, a propósito deste livro, e que me deixou muito contente, foi que “o seu livro não deve nada a ninguém. É um livro só seu, que vive por si só. Não vamos dizer que faz lembrar não sei o quê. É um livro que você inventou, uma literatura que você inventou, com estas pessoas que ainda por cima estão vivas”. Maior elogio do que este não há.

A requalificação de espaços como o Intendente, Chelas ou o Casal Ventoso, de que falas nas crónicas, diminuiu mesmo a prática da prostituição e o consumo de drogas?
Acho que, um bocado por reacção às crónicas, a câmara de Lisboa da altura resolveu limpar o chamado “corredor da morte” [em Chelas]. Aliás, os tipos falam nisso, os habitantes de lá. Deve ter tido esse efeito, porque toda a gente falava na Zona J. Havia muita gente que ia lá depois de ter visto o filme… O Zona J podia ter ficado muito melhor, só que o realizador era um bocado azeiteiro, como eu disse uma vez, e isso só mais tarde é que se percebeu. O pior do filme, que é aquele lado assim quase telenovelesco, foi puxado por ele. Agora, que ele tem umas capacidades técnicas, uma coisa que ninguém tinha na altura, também reconheço. Não podia era andar a dizer “quando eu estive em Chelas”, e não sei o quê, mas depois quando diziam mal do filme o argumento é que era o problema. É um tipo com problemas de carácter, disso não há dúvida nenhuma.
Qual foi a sensação de ter um dos filmes mais vistos de sempre em Portugal (em 1998, Zona J ocupava o quarto lugar na lista dos filmes mais vistos de todos os tempos, sendo a obra cinematográfica nacional mais vista de sempre na televisão)?
Eu achava bem que houvesse miúdas que diziam que tinham visto o filme seis vezes. Tinha graça reverem-se nas miúdas do bairro. Adoravam o filme. Ainda hoje vejo que as pessoas gostam do Zona J. Na altura fiquei com a impressão de que aquilo tinha trazido um mau nome ao bairro, e que não era bem assim. Mas para minha surpresa, ao fim de dezoito anos o filme é muito respeitado lá. Fiquei muito contente, claro. Dizem-me que “era mesmo assim”. Fiquei furioso foi com alguns críticos de meia tigela, que atacaram o filme precisamente na sua grande virtude. Não tinham percebido que os miúdos falavam mesmo assim. Achavam que era um “ya, vamos puxar aqui para armar ao moderno”… uns idiotas completos… tipos do Expresso, do Público, do Independente, a quem hoje digo na boa que eram uns idiotas. Não havia uma palavra fora do sítio, um calão fora do sítio, um sonho fora do sítio. Não havia ali nada que não fizesse sentido para aqueles rapazes e para aquelas raparigas. Mesmo aquela coisa estrambólica de Angola, que eu tinha imaginado com o Luís Pedro Nunes, existia. Infelizmente o guião teve algumas alterações em relação ao original; o realizador foi a terceira escolha; houve outros que não foram aprovados por questões de burocracia. Acabou por ser aquele que se revelou tecnicamente muito bom, dinamicamente muito bom, mas que é um tipo com lacunas graves de compreensão do ser humano e do cinema enquanto arte. Foi só isso que falhou. O filme devia ter muito mais grão… e depois tinha diálogos que não escrevi, o que me deixou um bocado doente.
Qual foi o papel do Luís Pedro Nunes no filme? És creditado no genérico como o único argumentista, embora nos créditos finais percebamos que a história foi criada por ti e por ele…
Ele tinha estado em Angola em reportagem. Começámos a falar e ele disse-me que “os gajos querem é trazer diamantes e não sei o quê”… depois perguntou-me: ”olha lá, como é que podia ser? Eu acho que os gajos arranjam maneira de trazer aquilo no corpo”. Fui para Chelas para perguntar isto e apanhei logo um caso desses. A partir daí estava o filme justificado.
Tens pena de não deixar legado no jornalismo criminal?
Não deixo?
Aparentemente não há ninguém que o faça com a mesma qualidade, e muito menos com a mesma intenção…
Talvez apareça… Há boa reportagem de crime, de vez em quando. Eu estive a ler umas coisas muito interessantes sobre o Dalton Trumbo, o Budd Schulberg e o Ben Hecht. O Ben Hecht era um notável jornalista, como foram outros — por exemplo o Hemingway— que começaram no jornalismo e depois passaram para a ficção. Mas o mais engraçado é que, quando eles começaram a escrever, envolviam-se de tal modo na vida no submundo que acabavam por parecer gangsters. Esse tipo de envolvimento implica outra época; hoje em dia não há essa tradição de envolvimento direto do jornalista. Depois é preciso, apesar de tudo, um certo talento e uma certa cultura. Tem de se aliar tudo. No meu tempo havia vários jornalistas a cobrir a Polícia Judiciária, as rusgas… mas, valha a verdade, às vezes acho que faltava uma dinâmica literária nas coisas. Gostava que tivesse deixado alguma herança… mas até acho que deixei. Não vou dar nenhum exemplo, porque parece que estou a dizer que alguém o fez, mas de vez em quando aparecem coisas que acho que tiveram influência do Levante-se o Réu. Por exemplo, o uso de diálogos. Ninguém usava diálogos, eu é que comecei a usar diálogos com travessão.
Tanto a Bárbara Bulhosa, tua editora na Tinta da China, como o Álvaro Laborinho Lúcio, Ministro da Justiça à data das tuas crónicas, consideram que neste livro não há apenas um lado jornalístico. Vemos no Levante-se o Réu um Rui Cardoso Martins escritor?
O Lobo Antunes diz-me: “isso que você faz é literatura. Isto são personagens, não são pessoas reais”, mas depois também me diz que “estas pessoas existem”. O que é que a gente quer mais, se não isto? Estas pessoas existem. Eu não podia inventar nada, caramba. Não houve nada que eu inventasse sem ser as linguagens, ou o pôr-me na pele da pessoa num outro dia… pequenos desvios. Aquilo que era o essencial do crime, das motivações, da descrição da pessoa, estava lá. Não podia mesmo mentir, até porque eu voltava lá todas as semanas. Estava tramado se o fizesse…
Mesmo defendendo um rigor jornalístico, há momentos em que adoças a inocência de alguns criminosos e outros em que te exaltas com esse lado mais “miserável” do ser humano. Até que ponto é que é possível ter dois pesos e duas medidas para os delitos graves e os menos graves?
É uma crónica pessoal. Não tinha de ser isenta, tinha de ser justa. Prestar justiça aos meus próprios sentimentos também fazia parte… Como não escondo, como não há agenda, está tudo clarinho. Se um dia escrevo uma crónica que se chama “O miserável”, é claro que vou falar de um miserável, de um tipo que batia na mulher e que lhe roubou tudo. Se o descrevo quase como um gorgulho, o escaravelho do feijão — esse eu sei que ficou zangadíssimo —, foi porque o vi assim na altura. Sei que literariamente estava ao serviço da verdade, mesmo torcendo… Ninguém é um gorgulho [risos], mas é fácil imaginar uma pessoa assim. O exagero, que é um recurso literário, era usado ao serviço do que eu achava que servia o caso. Há um narrador que entra nas histórias… Aliás, na série de televisão vai estar um jornalista que interfere…
Por norma estes casos acabam com uma sentença…
… Nem todos. Há uns em que a sentença não tem interesse.
Mas quando há sentenças, geralmente vemos que culminam em pena suspensa ou no pagamento de multas. Estas ditas sentenças “mais leves” eram suficientes para que os criminosos não reincidissem?
Às vezes fazia-me impressão, porque eu percebia que algumas pessoas não iam poder pagar as multas. Noutras vezes estavam a fingir, mas vi muito isso. Há um caso no livro em que um tipo rouba um casaquinho para dar à filha no Natal e depois lhe é aplicada uma coima que era três vezes o preço do casaco… Isso custava-me muito. Também assisti a um gajo que dizia que não conduzia, que só tinha encostado o carro, mas que depois saiu do tribunal a conduzir, com a mulher sentada ao lado, isto já depois de ter sido condenado a não conduzir e de lhe terem tirado a carta [risos].
Por que são tão poucos os crimes relacionados com o roubo de mantimentos? Vemos muitos julgamentos em que a base está no furto de cd’s, livros, perfumes, roupa interior, brinquedos…
Porque tudo isso valia mais… o whisky… Mas os sabonetes e os perfumes também são mantimentos. Foi uma coisa que eu aprendi na Bósnia, quando fui de Split, na Croácia, para Sarajevo. Pensava que ia levar queijos e comida, e o que levei foram desinfetantes vaginais, sabonetes… coisas de que as mulheres precisavam desesperadamente para manterem a sua dignidade. Não é só a comida… Mas ainda houve vários casos relacionados com comida: roubos de bacalhau, azeites, de coisas assim. Custava-me muito ver que as pessoas roubavam para comer e ficavam entaladas com penas e outras coisas…
Estiveste envolvido num caso bastante mediático de negligência médica, onde a sentença, neste caso decidida em teu favor, se revelou inédita, uma vez que condenava a clínica responsável pela morte da tua mulher. Até que ponto continuas crente no sistema judicial, mesmo percebendo que, para além do teu caso, há muitos outros onde não se faz justiça?
Esse foi um dos exemplos em que a justiça funciona da melhor maneira. Há uma juíza corajosa, que vê as coisas como são, que se atreve a fazer jurisprudência, o que aliás está já, segundo o que me disseram vários advogados, a ser estudado em vários sítios, incluindo o Centro de Estudos Judiciários… O caso abre novas perspetivas de justiça para a pouca vergonha que são os conglomerados que andam a fazer negócio com a medicina privada, e que depois não assumem responsabilidades. A justiça deve servir para isso. Fiquei obviamente contente por ter conseguido uma coisa que se pensava impossível, e para a qual sofri muito, muito mesmo. Enquanto houver pessoas como o Laborinho Lúcio e como aquela juíza, que tomou uma decisão tão corajosa… Há muito tempo que não via os portugueses tão orgulhosos da justiça. Ainda hoje me falam disso. Finalmente apareceu uma boa notícia sobre a justiça portuguesa, em que os ricos, os grandes escritórios de advogados e o dinheiro não ganharam. Assim vale a pena.


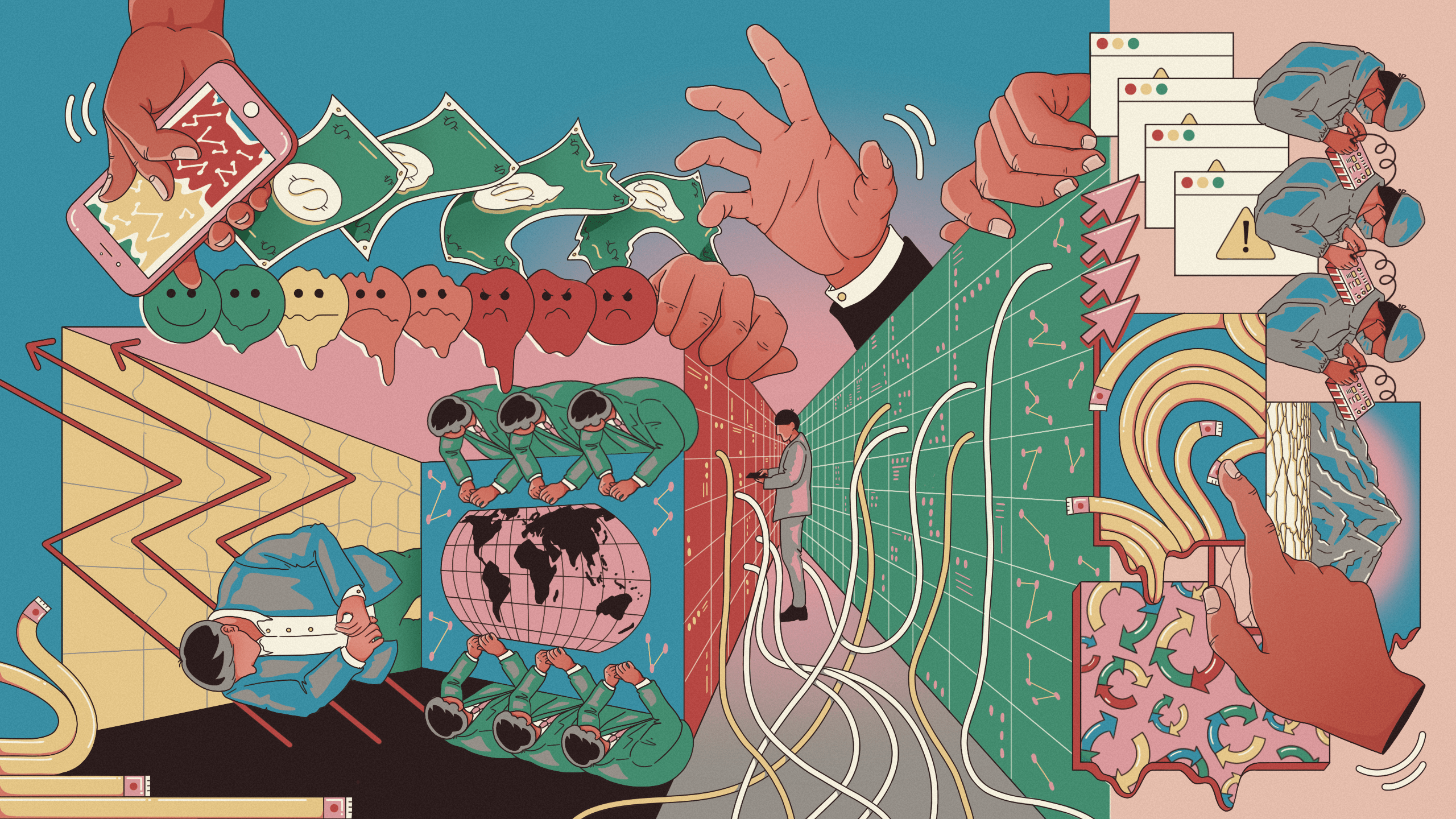

You must be logged in to post a comment.