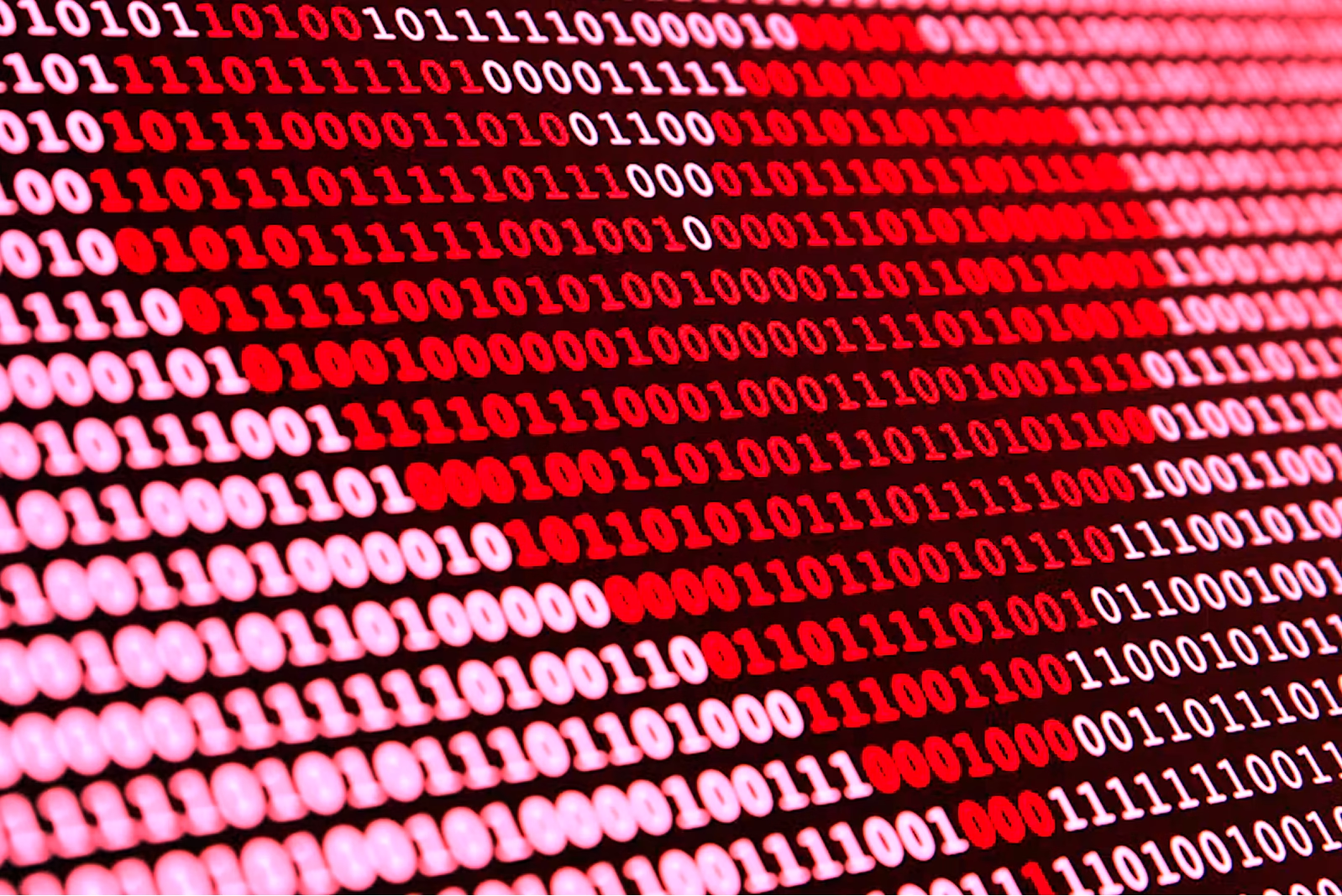

Na primeira entrevista desde o lançamento de Deus-dará, Alexandra Lucas Coelho apresenta-nos o seu novo livro, uma estrada de Damasco percorrida em mais de quatro anos em que a escritora se converte à magia na literatura e à sua impossível indissociação do real.
Em dois actos (a entrevista, no seu todo, excede as três horas de duração), esmiuçamos o complexo processo de escrita por detrás das quase 600 páginas do livro, percorremos a História nacional e do Brasil — ou não andassem ambas de mãos dadas —, caímos na atualidade e tentamos compreender a relação da autora e do narrador com as suas personagens; Tristão, Zaca, Inês, Gabriel, Noé, Judite e Lucas, construções que abanam cinco séculos de história, habitam agora junto a nós, nesse campo tão vasto que é o da literatura de expressão portuguesa.
A primeira vez que fala em ‘deus-dará’ acontece no livro Vai, Brasil: “com um Brasil ao deus-dará saindo pelos sete buracos da sua cabeça”. É o mesmo ‘deus-dará’ que aparece neste livro?
Os “sete buracos” vêm de uma canção de Caetano Veloso de que gosto muito, já nem me lembrava desse excerto. Este livro começou pelo título: foi a primeira coisa que apareceu e nunca mudou. E por que é que isso acontece? Porque a expressão “deus-dará” faz parte do Brasil, do quotidiano, a todo o momento, para além da canção do Chico [Buarque, Partido Alto]. Por outro lado, é uma expressão que tem esta riqueza, várias leituras. Parecia conter tudo, numa cidade em que a presença dos deuses é tão poderosa como no Rio de Janeiro. É tão forte que ficou ali o tempo todo, apesar das transformações. Aquele nome estava certo.
Que transformações foram essas?
Fui ao Brasil cobrir a sucessão de Lula e mudei-me para lá em Dezembro de 2010. Dois anos depois comecei a pensar neste livro. Recordo-me de estar na Lagoa — aquele céu de água que existe no coração da Zona Sul do Rio, 7,5km que fiz muitas vezes, contra e no sentido dos ponteiros do relógio — e de pensar que gostava de fazer um retrato do Rio, que obviamente nunca seria o que um carioca faria, mas sim o de uma portuguesa que já tinha uma relação com o Rio. Comecei a pensar nisto: um romance que tivesse sete protagonistas, mais um, que era a cidade, que se chamaria Deus-dará, que se passaria em sete dias, como no Génesis, uma espécie de construção da própria cidade. Planeei-o para acontecer entre 19 e 25 de Dezembro de 2012. Seriam sete dias seguidos, de quarta a terça, até ao Natal. Lembro-me de que vim a Portugal no princípio de Dezembro e voltei ao Rio a 19, tal como a Inês, a portuguesa que no livro chega ao Rio nesse mesmo dia.
Foi então tudo programado?
Sim, para encaixar naqueles dias. Fiz uma espécie de diário dessa semana, de como estava o céu, como estavam as nuvens, como estava o mar, do que estava a acontecer na cidade. Depois comecei a construir as personagens noutro caderno. Logo desde o início pensei que queria ter um português [Tristão] que apresentasse o Rio a uma portuguesa [Inês] que acabava de chegar e nunca tinha estado ali, e que no fundo apresentavam a cidade aos leitores. Queria que este livro pudesse dirigir-se a cariocas, a portugueses que conhecessem o Rio e a pessoas que nunca lá tivessem ido. Se não tivesse uma personagem que abrisse a porta não podia estar a introduzir a cidade, como o narrador faz. Pensei também em cinco brasileiros. Não que tivessem de caber numa espécie de gaveta, foram evoluindo de várias formas. Sabia apenas que eram cinco, que seriam duas mulheres, Judite e Noé, e três homens, com estas características: Gabriel não teria um olho, Lucas não falava. Eles apareceram-me assim. O primeiro parágrafo do livro foi sempre o primeiro parágrafo. Houve um momento em que pensei que o próprio Karim, personagem que nasce no E A Noite Roda, aparecesse no livro, mas depois decidi que ele deveria continuar lá na Síria e quem está lá são os seus irmãos.
Tentou construir a visão de Inês, a portuguesa recém-chegada, a partir das suas memórias da primeira visita ao Rio de Janeiro?
Ambos [Tristão e Inês] são muito diferentes de mim, de outra geração, etc, mas eu queria que de alguma maneira pudessem refletir o que pode ser a chegada de um português ao Rio, como no caso de Inês. E há pequenos detalhes, por exemplo a primeira vez em que ela pisa a praia e diz “nunca aqui estive, mas estive”, que é um pouco verdade para qualquer português que vá ao Rio, mesmo que nunca lá tenha estado. Tal como Nova Iorque. Há cidades que são tão icónicas que é impossível não termos uma representação delas.

Quando é que o livro começa a ser escrito?
Em Janeiro de 2013. Passei três anos e meio a escrevê-lo, com grandes intervalos. Houve um ano em que não lhe toquei, publiquei Vai,Brasil, O Meu Amante de Domingo. Descobri que era difícil escrever este livro enquanto morava no Rio, onde o presente convoca demasiado. Escrevi muito numa casa isolada em Minas Gerais, e quando estava lá aconteceram as manifestações de Junho de 2013. Ia no princípio do Segundo Dia do livro, ainda tentei escrever um bocado, resistir, mas era impossível. Voltei para o Rio, cobri a visita do Papa, e entretanto tudo o que acontecia estava a ser absorvido, fui para as ruas, para as manifestações.
A própria estrutura do livro é influenciada por essa quebra.
A decisão que tomei foi de os sete dias do livro não serem seguidos, para lhe dar maior amplitude. Depois dos primeiros três dias, que instalam a cidade, vai dando saltos para criar uma espécie de arco entre a euforia e aquele buraco negro em que era difícil perceber o que estava a acontecer. Foi perturbador porque o livro já tinha esse clima um pouco apocalíptico e de repente há a explosão. Eu tinha de o largar. Entre Julho de 2013 e Abril de 2014 não escrevi nada deste livro. Depois, voltei a Portugal, fechei-me no Alentejo, escrevi durante uns meses e estive mais um ano sem lhe tocar. Neste último ano é que estive a trabalhar nele sete dias por semana, tirando a coluna do Público, fechada em casa.
As personagens e a cidade vão crescendo dia-a-dia. Existe um contínuo crescendo nestas duas dimensões.
Tinha de ser assim. Não sou nada mística, mas aconteceram coisas verdadeiramente mágicas. Quando estava no Alentejo, isolada para acabar o livro, percebi que não conseguia, ele estava a resistir. Parei e tomei a decisão de escrever O Meu Amante de Domingo; escrevi-o em Agosto e Setembro. Hoje penso que o bom de o ter escrito foi ter atrasado este livro. Isto permitiu que tivesse uma respiração no pós-2013. Precisava desse tempo todo. É uma tarefa de enorme solidão, muitos dias de frustração e incerteza. Em Agosto de 2015 fechei-me em Lisboa, escrevi até ao Sexto Dia e percebi que tinha de parar outra vez. Ia ficar meses só a ler, História, Antropologia, tenho cadernos só com notas de leitura. Os próprios personagens pediam isso. Aí já entramos numa zona mágica.
Como é que funciona essa zona mágica? Podemos ir por aí?
Sim, claro. Passei imenso tempo sozinha com os personagens. Fui indo com eles e eles modificaram-me. Na verdade, são pessoas para mim. A dada altura só pensava “não posso morrer antes de acabar este livro”. Se morresse, eles nunca iam sair cá para fora, nunca iam chegar a existir. A certa altura, assemelha-se à fronteira da loucura. Nunca tinha estado tanto tempo com pessoas na cabeça que dependiam completamente de mim. Só sair de casa era estranhíssimo, como se fosse para outro mundo. Tinha de largar os personagens com quem dormia, sonhava, acordava. Acordava a pensar em todos os problemas deles. Estavam ali comigo, e era um diálogo o tempo todo. Já eram muitos, e começaram a aparecer os secundários, Império, Alma, Rosso, Orfeu… Apaixonava-me por todos eles. Estas pessoas continham segredos do Brasil que eu ainda não tinha aberto. É um processo absolutamente mágico, criar alguém para que esse alguém nos crie. Fui parar a uma dimensão do mágico que de todo não tinha.
Escreve neste livro: “A Astronomia será sempre uma solução quando a literatura já não der conta.” Foi isso que lhe aconteceu?
Nem é tanto a questão da literatura. Coisas abriram-se como se fossem várias portas, que por sua vez dão para muitos lugares. Isto pode acontecer ao ler Lévi-Strauss, quando fala das constelações indígenas, como ao ler textos xamânicos dos índios, como ao ler cronistas portugueses do século XVI, ou textos sobre Náutica e Astronomia. Cada porta amplia: é um processo por expansão de núcleos que podemos comparar à antropofagia. A antropofagia tem um caráter absolutamente positivo e criativo aqui. Tem-no na cultura brasileira — uma herança de Oswald de Andrade [poeta modernista brasileiro], que toma a antropofagia como a marca do que pode ser a diferença do Brasil no mundo, esse processo de absorver o outro porque nos interessamos por ele. É disto que estou a falar quando menciono o abrir portas: experimentar ser outros. Em Vai, Brasil falo já da identidade estar em movimento, de não me preocupar esta coisa que angustia os portugueses, o medo de deixarmos de sermos quem somos, toda essa nostalgia que tem a ver com o fado, com D.Sebastião…
A nostalgia como base da cultura popular, é isso?
Há razões geográficas, culturais, históricas e míticas para tudo isso. A antropofagia é o completo oposto: em vez de termos medo de perder a identidade, passa a ser positivo sermos outros, variarmos. [O antropólogo brasileiro] Eduardo Viveiros de Castro é uma inspiração forte para este livro. Já está presente em O Meu Amante de Domingo, e aqui cruza-se com Oswald de Andrade, que por sua vez é uma influência para o próprio Viveiros. A ideia “eu posso ser muitos” é-me muito cara, e julgo que assim seja com qualquer repórter. Sou repórter por isso. Queremos ir para o mundo e contar coisas porque nos interessamos. Se não nos interessarmos, quem está a ler também não se vai interessar. O García Márquez tem uma frase célebre: “Se te aborreces quando escreves, o leitor também se vai aborrecer”. Acho que é mesmo isso.
Até que ponto é que o ego realmente acaba? Continua a ser a Alexandra Lucas Coelho a escrever Deus-dará?
O ego explode, e idealmente transforma-se numa supernova [risos]! Quanto à segunda questão, é para quem está fora de mim. Nunca posso pensar assim. Eu quero ser outros.
Mesmo que isso implique uma ruptura total com tudo o que já fez?
Espero que rompa a qualquer momento! Sempre achei aborrecida a ideia de não variar, ter várias vidas, vários trabalhos, conhecer vários lugares, preferências sexuais. Não sou crente num deus único, que me dará uma vida depois da morte, etc. Acredito apenas nesta vida, em tudo estar contido nela, todos os deuses, todas as possibilidades. Talvez tenha sido a isso que antes chamei real. Disse muitas vezes que só me interessava o real, e de alguma maneira este livro parece contrariar isso. O que talvez quisesse dizer é: interessa-me esta vida. Acontece que esta vida tem inúmeros núcleos, pontos que nunca unimos antes, portas que podem ser abertas, expandindo-se. Aí estamos num território de transição para a magia. Este livro fez-me ver que o real contém a magia, porque é, em última análise, a vida, estar vivo. A vida é uma improbabilidade. Estarmos aqui sentados a conversar é uma improbabilidade física, e nesse sentido milagrosa. O mágico não se opõe ao real, é o real. Senti isso de forma poderosa neste livro, e foi libertador. Permitiu-me deixar ir o narrador em toda a plenitude. Quando percebi quem era o meu narrador, quando ele me disse quem era, pensei ”caramba, estou no território do realismo mágico!”. É incrível, porque li muitos sul-americanos na minha adolescência, mas estavam “in the back of my mind”. Para quem vive na América Latina, a experiência de lidar com o mágico, com os deuses está na carne. Tudo está tão na pele, a dançar na pele, que é impossível não o recebermos, a menos que estejamos completamente fechados.
A Alexandra Lucas Coelho que se confessa agnóstica no Vai, Brasil foi mudando.
Não me tornei crente num deus. Há um momento no Vai, Brasil, sobre o terreiro de umbanda, em que escrevo: “Não vejo deuses, vejo homens.” Isso continua a ser verdade, com esta nuance: os deuses estão nos homens, os homens estão nos deuses. Sinto que estou noutro lugar, onde o mágico e o real não se opõem, não se combatem. Talvez não seja exatamente Realismo Mágico, mas é um real que contém o mágico. Quis deixar que as personagens me mostrassem isso. Continuo a ser cética em relação a uma banalização do misticismo. Há um universo new age com o qual não tenho a ver, e isso fica claro no Sexto Dia do livro, que vive dessa tensão. Mas também não quero fazer qualquer tipo de julgamento. Queria que as pessoas o lessem livres, sem noção do que é o meu juízo. Aliás, não sei se aquilo que o narrador conta, e aquilo com que se fica do livro — toda a questão da ayahuasca, das drogas — corresponde ao que penso. Quero convocar tensões, visões que colidem. Inês é uma total cética, Tristão, que é um católico, já está num processo de transição, a mãe de Noé é uma adventista… Há o deus dos africanos, dos católicos, dos indígenas, dos evangélicos. Há muitos deuses aqui.

Sobre a religião, talvez se possa dizer que Noé é a personagem que apresenta um maior ceticismo.
Num determinado momento do livro questiona-se repetidamente sobre a existência de deus. Eu queria essa tensão: Noé adora a mãe, é a única família. A mãe é uma crente e ela respeita isso; quando se zanga, é para invetivar aquele deus que nem se sabe se está à altura da mãe. No fundo, deus está na mãe dela. Há uma citação nessa parte, a certa altura: “Eu vi deus e ele era uma mulher negra.” É um pouco isso. Mas é muito estranho estar a falar pelos personagens. Sinto quase um pudor, até porque eles agora estão livres, estão no mundo. Não posso dizer a ninguém como lê-los ou interpretá-los.
Não se ressente se forem mal interpretados?
Fico com pena se alguém revelar alguns segredos que se tentam guardar até ao fim. Há vários spoilers possíveis, uns mais radicais do que outros [risos]. Mas, tirando isso, leitor e autor são entidades autónomas, valendo isto nos dois sentidos. Quero ter a liberdade para fazer o que quiser. Não que me esteja nas tintas para o leitor, e isso é uma herança do jornalismo. Escrevo com tudo o que sou, sou uma repórter, há um esforço de clareza, o que não quer dizer que não abra as portas escuras. Não quer dizer decifrar tudo para o leitor, mas que a própria escuridão possa ser colocada no osso. A metáfora aqui seria um bloco de granito ou mármore. O escultor está ali com o seu escopo a tirar o que está a mais. Por outro lado, o leitor tem a sua liberdade, acha o que achar. Fica com todas aquelas figuras, e iniciam uma vida juntos, na qual eu não tenho interferência.
No caso desta escrita em particular, numas partes em português de Portugal e noutras em português do Brasil, sentiu dificuldades em tornar compreensível esta narrativa a dois públicos diferentes?
Foi um desafio formal ao longo do livro, sobretudo no princípio. Soube sempre que havia uma margem perdida. Que este livro seria tanto para brasileiros como para portugueses, mas havia zonas e camadas que se iam perder. Cada um escolhe com que camada ficar. Há pessoas que se interessam mais pelas personagens, pelo enredo, enquanto outras se vão ligar mais à parte histórica, ou política, ou da linguagem.
Consegue dividir o livro em camadas?
O livro é um todo, mas o leitor tenderá a fazer essa escolha. Se eu quisesse só enredo e diálogos, tê-lo-ia feito. Queria pensamento, intervenção política, vida a acontecer em direto, magia, muitos tempos ao mesmo tempo. No fundo, um buraco negro em que tudo de alguma maneira estivesse ao “deus-dará”.
No entanto, o leitor, quando acaba o livro, tende a escolher a camada com que mais se familiarizou.
Achas [risos]? Espero que o leitor não saiba o seu sítio, que vá experimentando vários lugares.
No caso específico da minha leitura, enquanto português, senti o meu país diretamente chamado à razão, e por isso talvez tenha essa maior afinidade por uma das camadas, neste caso a da História colonial.
Não diria tanto “chamar à razão”. O narrador está a cutucar. Trata-se de espicaçar a História. Fico feliz que os leitores fiquem com essa parte do livro. Não é a questão de falar de política, é um gesto político. Não tenho espírito de militante, mas interessa-me muito a intervenção e a luta.
A política portuguesa também é uma parte deste livro. Logo no início, ouvimos o narrador falar dos milhares de emigrados e desempregados, a “geração mais bem- preparada de sempre”.
A política está nos livros como o pensamento que deve estar em ação, e se dirige a esta coisa improvável e dificílima de vivermos juntos num planeta. Política é nesse sentido. Este livro começa com um parágrafo de um homem que nós não sabemos quem é, que está a fazer uma coisa que não percebemos bem o que é, que tem uma lâmina na mão, e que termina com uma citação: ”Enfrenta com força a morada terrestre.” É uma espécie de mote para o livro inteiro. Um verso indígena que Herberto Helder mudou para português, e que eu mudei da mudança que ele tinha feito. Essa citação é política, é tudo. Como vamos viver juntos? Onde estamos a viver? Que planeta é este, o que lhe estamos a fazer? Estamos a caminho do quê? Não tenho filhos, mas tenho sobrinhos e amigos que têm filhos. Como vamos traçar o futuro da forma mais generosa possível? Permitir a quem vem depois continuar vivo e aqui, sabendo que estão vivas as árvores, os animais?

Esse é o lado “mágico” na política. E o real, mais tangível?
Este livro fala de um período entre 2012 e 2014, uma altura em que Portugal estava governado por um governo de direita, em que o sofrimento, o abandono, o “deus-dará” estava vivo mais do que nunca. Fui para o Brasil em 2010, quando essa crise ainda não se tinha abatido de forma tão feroz em Portugal. Lembro-me de estar no Cosme Velho, onde tive a sorte de morar, e ver aquelas manifestações no Terreiro do Paço. Todos os dias recebia mensagens de pais, tios, amigos, pessoas que não me conheciam, e diziam: “tenho um filho, um sobrinho, um amigo que precisa de ir embora, que já não pode mais estar aqui”. Senti no Brasil o desespero, o menosprezo em que as pessoas foram lançadas. O Meu Amante de Domingo é o resultado concreto da vinda para Portugal, do encontro com isso, de onde resulta aquela narradora em fúria. É uma experiência literária que transporta a raiva para um campo amoroso e sexual. Quis canalizar essa energia e transformá-la numa linguagem.
Esse é o quadro português, depois existe o brasileiro. Eu estava com um pé aqui e outro ali, e o chão sempre a mover-se, tudo acontecia, tudo se desmoronava; foi o Impeachment da Dilma, os escândalos de corrupção do Lava Jato. Rebentaram todas as consequências das alianças desastrosas que o PT fez, com os evangélicos, com os ruralistas que estão a destruir a Amazónia. Esta junção de ideias quase contraditórias e tensas de quem foi Lula, do que o lulismo trouxe ao Brasil, espero que o livro as traga todas. Por um lado, este homem, que vem de onde vem, consegue fazer emergir um país que nunca se tinha visto assim, com direito a existir, ter um papel, transitar — e do qual Nóe, Gabriel e Lucas são fruto —, um país que rasga as fronteiras estanques. Por outro lado, em muitos casos isso esgotou-se num novo bem-estar económico, mas não se traduziu na educação, na saúde. As alianças de Lula são um processo quase faustiano: não digo que ele tenha vendido a alma ao diabo, mas menosprezou o preço que o país ia pagar pelas alianças desastrosas para conseguir votos. Juntou-se a gente da pior espécie: corruptos, gente com programas de dominação política através da religião, proprietários gananciosos e muitas vezes assassinos. Daqui resultou também o esquecimento dos povos indígenas. Não há como não ver Lula como uma figura extraordinária no século XX: extraordinária no trágico, no terrível, no fantástico.
Aproveito para a citar em Vai, Brasil: “[Lula] foi o pai natal dos pobres, mas os ricos que riem dele nunca estiveram tão ricos”.
Em Deus-dará há um diálogo entre Judite e Rosso, uma personagem que não está do lado dos revolucionários, muito pelo contrário. E Judite diz a Rosso: não vai me dizer que o PT não foi bom para quem tem grana no Brasil. Há também um diálogo sobre os revolucionários, em que Zaca pede a Tristão, com quem está sempre a chocar, que lhe diga nomes de revolucionários. Ele vai dizendo, e Zaca combatendo. A certa altura diz: “Lula”, Zaca responde: “Lula não é revolucionário”, Tristão diz: ”Não sei se não é. Ainda é cedo para dizer.” Tudo isso é verdade, e uma verdade não exclui as outras.
Por que decidiu ter apenas homens e mulheres com licenciaturas e mestrados? Até Lucas, a personagem mais desfavorecida, frequentou um ano de ensino universitário. Não é uma opção pouco representativa, uma vez que isso nem sempre corresponde ao perfil das favelas?
Interessava-me que todos pudessem estar implicados num debate. Sempre pensei em Lucas como o outsider, uma figura que atravessava o livro no seu skate, meio “fora”. Ele frequentou um ano de faculdade, uma coisa que neste momento milhões de jovens brasileiros fazem. Existe uma nova realidade nas favelas em que uma percentagem frequenta as universidades públicas. Fora das universidades estatais existem igualmente bolsistas. Gabriel, Noé e Lucas não são improváveis. Tenho amigos da favela que foram bolsistas da PUC [Universidade Católica, privada]. Isto faz parte da tentativa de retrato do que é o Brasil agora, quebrar o clichê de que não há mobilização e pensamento na favela. A Império entra aí também como ativista, representa um novo feminismo muito forte que surgiu quando eu estava a fazer este livro. Vem também de mulheres crioulas, mulatas, negras, da favela. Tudo isto aconteceu de uma forma explosiva.
Com destaque para a Marcha das Vadias?
Nem é tanto a Marcha das Vadias. Estou a falar de manifestações gigantescas pela questão do aborto, contra as violações. A Marcha das Vadias aconteceu durante a visita do Papa, o que criou uma tensão, um embate mítico, que tentei traduzir nesse dia. Mas este feminismo é diferente, porque não vem sobretudo da classe média e de mulheres brancas. Toda esta nova geração de mulheres negras não estava nesse clichê da favela, do tráfico, da Cidade de Deus, etc. Eu queria retratar essa transição. Voltando a Lucas, ele morou na rua, não é um universitário mas sim alguém que vem de fora do Rio, do mundo da Amazónia. Tem menos recursos intelectuais do que Noé, e muito menos do que Gabriel.
O Henrique Mota Lourenço é redactor de cultura do Shifter. Estuda Jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social, em Lisboa.
Apoia a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.
Outros artigos de que podes gostar:
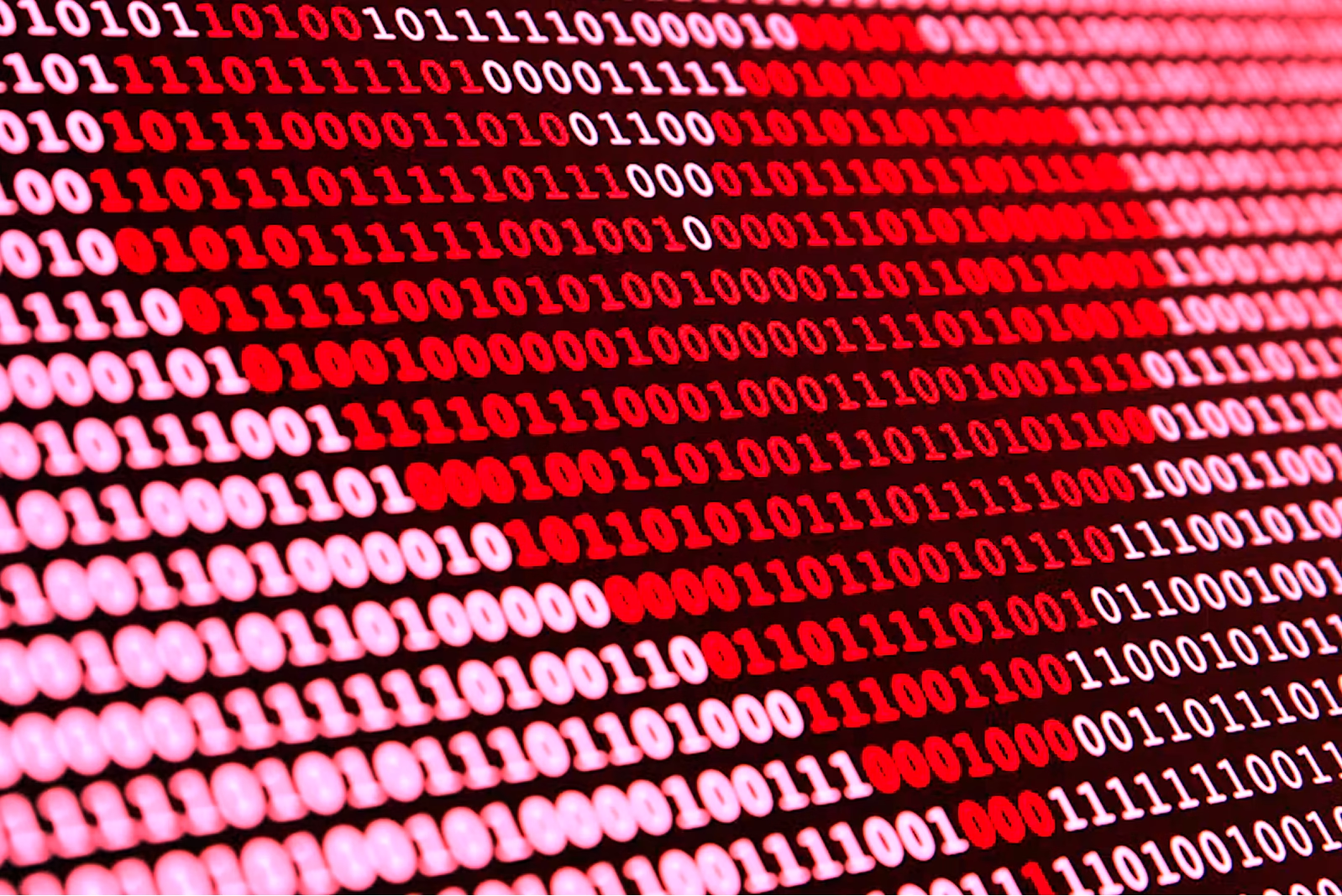



You must be logged in to post a comment.