

Faz tempo desde a primeira vez que vi Patrícia Ferreira, Alberto Álvares e Ailton Krenak. Do auditório da Gulbenkian escutava as suas estórias que, na altura, representaram total novidade para mim. No outro lado do planeta a situação política do Brasil estava em chamas, mas por algum motivo traziam consigo paz no olhar e nas palavras, com uma generosidade que logo reconheci ser comum aos três e a todo o painel que integravam. Sem grande esforço consigo recuar ao dia em que os conheci na Mostra Ameríndia, num 15 de março de 2019 quase tão quente quanto os dias de Primavera que Lisboa recebeu pouco depois.
Numa linha composta por vários cineastas e ativistas indígenas, Patrícia Ferreira falava sobre a importância de “demarcar a tela”, com um sorriso de aprovação de Ailton. Alberto fechou a conversa com um pedido para que todos nós, do lado de cá e de lá, fechássemos os olhos enquanto agradecia numa espécie de reza a oportunidade de estar novamente em Portugal para falar sobre cinema indígena, rodeado de pessoas que lhe eram mais ou menos familiares. Até ali o cinema indígena não era parte do meu imaginário, nem tão pouco dos meus interesses.
Depois de ver “Índio Cidadão?”, um filme de Rodrigo Arajeju, percebi que queria — precisava de, na verdade — falar com os três. Com Alberto pela sua experiência dentro e fora das comunidades indígenas, com Patrícia pela sensibilidade com que percebeu que devia fazer cinema para preservar a memória das mulheres indígenas da sua comunidade, e com Ailton pelos anos de coragem a remar contra a maré. Sentámo-nos os quatro numa mesa de café e conversámos sobre o cinema indígena e a preocupação de preservação da memória que lhe é inerente, bem como da (falta de) voz dos povos indígenas nos media brasileiros.
“A gente estudou juntos desde 2003, eu e a Patrícia. Eu morava no Espírito Santo e ela tinha acabado de chegar de outra aldeia, onde ela está morando agora, e começámos a fazer o curso da formação dos professores. A partir daí formámo-nos juntos, cada um foi para outro canto e o cinema fez a gente sempre se reencontrar em vários lugares”, disse rapidamente Alberto para iniciar a conversa. Patrícia, visivelmente cansada e ainda a acertar o seu corpo à diferença de horários entre Brasil e Portugal, sorria e concordava, enquanto o ouvia.
A escola de que Alberto falava chama-se Vídeo nas Aldeias e é uma ONG criada em 1987 por Vincent Carelli, um cineasta que também é indígena, natural de França. Surge no fim da década de 80 como um projeto experimental integrado nas atividades da ONG Centro de Trabalho Indigenista, inicialmente com os índios Nambiquara. De acordo com o Lugar do Real, “o ato de filmá-los e deixá-los assistir o material filmado foi gerando uma mobilização coletiva” e o sucesso da primeira experiência tornou possível que Carelli repetisse o modelo com outros grupos e realizasse, em 1997, a primeira oficina de formação na aldeia Xavante de Sangradouro.
No filme “Cineastas Indígenas” (2009), disponível na íntegra no Lugar do Real, Vincent Carelli, que assina a direção geral, faz um levantamento dos principais cineastas indígenas formados pelas oficinas do Vídeo nas Aldeias entre 1997 e 2009. O porquê de ter começado um projeto assim parece-lhe óbvio: “Na cabeça de maioria das pessoas, um índio é uma ficção. E querem fazer do índio a sua própria ficção”.
É na linha de pensamento de Carelli que Alberto explica a importância de filmar o seu povo. “Quanto mais a gente levar a imagem do nosso povo para a sociedade entender como a gente pensa sobre esse mundo e como vê este lugar, melhor”, diz Alberto confiante. Hoje cineasta, o guarani começou em 2008 a vestir o papel de índio para criações performáticas e logo entendeu que não se revia. Sentia-se, como contou naquele dia, “um atormentado, atuando para a frente da câmara”. “Sempre vi que o cinema feito por pessoas que não são indígenas contava a história do mundo romantizada, como se o índio parasse no tempo e a sua imagem fosse um congelamento. Como se a gente não viesse acompanhando esse mundo moderno e a gente não tivesse conhecimento para o acompanhar.”
Alberto transformou a experiência de “atormentado” numa aprendizagem e questionou-se a si mesmo “por que não contar a minha própria história? Do jeito dos nossos olhares, contar o olhar do nosso próprio povo”. Começou a usar o cinema como ferramenta de preservação de memória e para dar a conhecer a realidade muitas vezes distante da que é passada na “realidade” contada pelos media e pela ficção.
“Quando as pessoas vêem que um diretor de cinema conta a história do índio romantizada, ela acha que um índio ainda vive assim — que anda todo pintadinho, com uma tanguinha e vai com a vara nas costas pescar. Mas isso é história do passado. Hoje tem índio que é formado e é médico, enfermeiro, dentista, advogado, perfeito e escritor… enfim, a gente está circulando dentro da sociedade, que é onde a gente está buscando ter mais os nossos espaços”, explica Alberto.
“Eu acho que no meu caso começar a filmar foi uma forma de luta”, interrompe Patrícia. Na oficina do Vídeo nas Aldeias percebeu que não havia mulheres na equipa e sentiu “uma dificuldade dos meninos ao conversarem com as mulheres mais velhas” — estava aí a necessidade da sua presença. “Eu quis mostrar um pouco mais as vozes das mulheres. Em muitos dos filmes que eu via quem falava mais eram os homens e eu queria entender o porquê disso acontecer, porque fora das câmaras as mulheres são muito participativas e decidem sempre com os homens a educação dos seus filhos. O homem e a mulher andam sempre de mãos dadas e eu queria trazer esse outro olhar para dentro do cinema indígena”, diz Patrícia com a voz serena que mantém ao longo do seu discurso.
Com poucos recursos para fazer filmes, Patrícia, Alberto e os outros cineastas indígenas procuram fazer justiça com as próprias mãos, utilizando apenas uma pequena câmara, sem grande mise-en-scenes e com a honestidade como arma mais poderosa.
Alberto tem 36 anos e Patrícia 33. Esta é, para ele, “a idade da busca do conhecimento”, em que segue sem saudades dos tempos de criança, nem arrependimentos do que poderia ter feito. Ambos reconhecem na sabedoria dos mais velhos o melhor guia para seguirem os seus caminhos e têm medo que com o tempo a troca de conhecimentos entre gerações se perca — aí está mais um dos motivos pelos quais filmam. “Hoje em dia os jovens acordam, vão para a escola, voltam e as conversas acontecem menos. E aí os filmes podem ajudar um pouco na relação entre os mais jovens e os mais velhos”, diz Patrícia com esperança no trabalho que tem sido feito pela Vídeo nas Aldeias.
Antes de apresentarem os seus filmes onde quer que seja, mostram-nos às comunidades por uma questão de respeito, para garantirem que se sentem representadas na tela. É esse o processo com que se sentem confortáveis, para que a honestidade seja sempre a sua melhor arma.
O cinema já levou Alberto Álvares a alguns pontos do globo, mas ainda não consegue ir a festivais de cinema de Brasília, Cannes ou Berlim porque não tem “o certificado de produto brasileiro”. “Isso cada vez vai ser mais difícil com este governo, mas quem sabe a gente um dia a gente vai chegar lá. Chegando lá o pessoal vai passar a entender e até comparar com o filme Hollywoodiano e pensar “os outros diretores estão mentindo a vida dos índios, estão contando a história do congelamento deles” “, refere Alberto entre risos, mas com um brilho no olhar que não deixa esconder a esperança.
Patrícia já viajou até Nova Iorque e fez um intercâmbio com indígenas do Canadá. Na sua caminhada de cineasta tem sentido que o cinema indígena se mostra “muito mais fora do que no próprio Brasil”, porque “o Brasil também não tem muita abertura para este tipo de filmes, no geral”.
“É maravilhosa esta cineasta que está aqui, não é?”, disse Ailton Krenak enquanto se juntava à conversa.
Olhar nos olhos de Ailton foi voltar por momentos ao auditório da Gulbenkian e vê-lo no grande ecrã com a cara pintada de preto. Em “Índio Cidadão?”, Rodrigo Arajeju resgata a participação do movimento indígena na Assembleia Nacional Constituinte, entre 1987 e 1988, e recupera um vídeo de arquivo que não deixa esquecer um marco para a participação política dos indígenas: no dia 4 de setembro de 1987, Ailton fez um discurso que viria a ter ecos da sua força. De fato branco, o porta-voz do Movimento Indígena pintou simbolicamente a cara de preto enquanto discursava pela defesa da Emenda Popular da União das Nações Indígenas com a coragem que, como me contou mais tarde, se deveu à força indestrutível da juventude.
“Eu espero não agredir com a minha manifestação os membros dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não poderão ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder económico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. E hoje nós somos alvo de uma agressão que pretende atingir na essência a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm dinheiro para fazer uma campanha incessante de difamação, que saiba respeitar um povo que sempre viveu à revelia de todas as riquezas. Um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão não deve ser identificado de jeito nenhum como o povo que é inimigo do Brasil, inimigo dos interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare os 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. ” – Excerto do discurso de Ailton Krenak na Constituinte a 4 de setembro de 1987
“Sabe, essa imagem me impressiona pelo quanto ela foi capaz de comunicar aquele instante para diferentes contextos”, começa por dizer Ailton. “No mês de janeiro do ano passado — imagine você, Alberto querido — eu recebo uma carta em coreano dizendo que queriam que eu autorizasse a exibição da minha obra numa exposição que ia inaugurar em Seul, onde a minha instalação estaria numa parede de 30 metros com o texto da minha fala em mandarim, português, inglês, tudo isso. E eu pensei “não acredito, isso não é a minha instalação”, conta o ativista com um riso genuíno.
Para os curadores da exposição em Seul , o discurso de Ailton foi, de alguma forma, um gesto performativo e que “teve algum sentido na arte”. Mas para si, foi apenas o que tinha de ser feito. “A gente faz porque é o que a gente acha que é natural”.
Ainda que o gesto tenha surgido com naturalidade e “porque tinha de ser”, Ailton conta que demorou “cerca de 10 anos para tirar aquele quase-estigma da pintura”. “Às vezes eu pensava que aquilo que fiz não devia ter-me comprometido tanto. Houve alturas em que senti que perdi um pouco da minha liberdade e privacidade, mas aquilo também me fez refletir a escolha que eu tinha feito e que essa escolha é a opção de seguir descobrindo maneiras de fazer valer aquele gesto de reivindicar os direitos dos povos indígenas”, explica.
Enquanto Ailton falava, Patrícia e Alberto olhavam-no com um sorriso de respeito e aprovação. Considerado por muitos um dos grandes líderes indígenas, o ativista está seguro do caminho que foi traçando, mas não se olha de cima. Ailton já viu “Índio Cidadão?” vezes sem conta, mas o confronto consigo mesmo continua a não ser confortável. “Toda a vez que eu estou assim em situação de que esse filme é exibido, o sentimento que me toma é uma mistura de vontade de sair correndo, sair fora, ou vontade de me agarra ali e ficar com lágrimas, porque me comove também. Eu descobri que ele me comove como uma pessoa fazendo aquele gesto; como se o Alberto estivesse fazendo, como se a Patrícia estivesse fazendo. E aí eu penso “como é que eu tinha coragem?”

A coragem “de um moço” eternizada num vídeo serve “para outras gerações verem”, espera Ailton. A força simbólica de uma ação não para erguer bandeiras, mas para amplificar vozes que dificilmente saem da sombra atravessa o tempo e continua pertinente enquanto for necessária.
Há uma necessidade de “produzir uma auto-imagem” sobretudo para o “mundo de fora”, que acredita poder ser reforçada com o cinema indígena. “O que mais urgentemente incomoda o povo indígena é ter os seus direitos questionados por um mandato presidencial, político, que não tem conhecimento da história do Brasil e toma decisões a partir de um lugar desinformado”, contextualiza. E para a informação, a imprensa brasileira “pouco tem contribuído”.
“É um fenómeno muito interessante, difícil de reduzir”, diz Ailton sobre a representação dos povos indígenas na imprensa brasileira. “Se eu disser que eles não dão nos dão voz, eu não estou falando a verdade. A grande imprensa no Brasil tem todo o interesse com o que acontece com a gente e ela manipula isso da maneira que ela quer. “Quando foi construída uma grande barragem na Amazónia e nós estávamos lutando contra a licença ambiental para construí-la, no momento em que a grande imprensa queria contestar o governo nós viramos notícia, e aí eles queriam entrevistar todos nós e dar capa de jornal e de revista para a gente. No jornal nacional, na televisão, nas medias todas. Quando eles foram absorvidos pela questão toda, nós deixámos de ser notícia.”
Numa espécie de long-story-short, explica que “principalmente na última década a autonomia das agências de notícias foi sendo reduzida, ficando apenas duas ou três — uma que é uma televisão nacional que distribuiu tudo” e detém, inclusive, outros jornais e revistas, “outra que são televisões controladas por evangélicos que marcadamente são anti-indígenas”, e “umas outras agências que só se interessam por coisas que os povos indígenas fazem quando coincide com as agendas deles”. “Por isso não há propriamente noticia sobre nós”, conclui com a mesma sinceridade que trouxe consigo desde o começo para a mesa de café.
Passaram-se quase trinta anos do momento do discurso de Ailton Krenak e a urgência das suas palavras continua, de alguma forma, a fazer sentido. Depois da nossa conversa parte da esperança ardeu na Amazónia e cá, longe, pouco mais do que partilhar a fotografia dos indígenas em pânico conseguimos — ou sabemos? — fazer. Compreender o que está longe, estar atento e ouvir as vozes que nem sempre estão nos lugares mais óbvios para serem ouvidas é um esforço que, a longo prazo, certamente será recompensador. Para Alberto, até “à beira do asfalto” há esperança: “Eu não sei muito bem sobre essa questão da política brasileira que está acontecendo no nosso país, mas eu penso sempre que mesmo que haja alguém que quer acabar com a nossa gente, essa pessoa não vai durar para sempre no governo. Um dia desses vai haver alguém com a cabeça iluminada e nos vai deixar viver em paz porque a gente não quer o Brasil todo; a gente só quer um pedaço de terra para viver feliz”.
Até que esse dia chegue Alberto, Patrícia e Ailton vão continuar “caminhando”, carregando consigo a diversidade dos 380 povos indígenas que tantas vezes são guardados na mesma caixa. E se cair chuva na aldeia, não há problema. “A chuva que cai na aldeia é uma chuva de alegria”.
Nota: O Lugar do Real é um arquivo que tem disponível vários filmes exemplares do cinema indígena, inclusive da Patrícia Ferreira, que podem ser vistos de forma gratuita.


Carolina Franco tem escrito sobre cultura, juventude e direitos humanos. Cada vez acredita mais que está tudo ligado. É jornalista colaboradora no projeto de literacia mediática PÚBLICO na Escola, e co-editora do Shifter. Estudou Ciências da Comunicação no Porto, de onde é natural, tem pós-graduação em Curadoria de Arte e está a completar mestrado em Antropologia - Culturas Visuais com uma tese sobre a importância da representatividade trans* no audiovisual.
Apoia a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.
Outros artigos de que podes gostar:


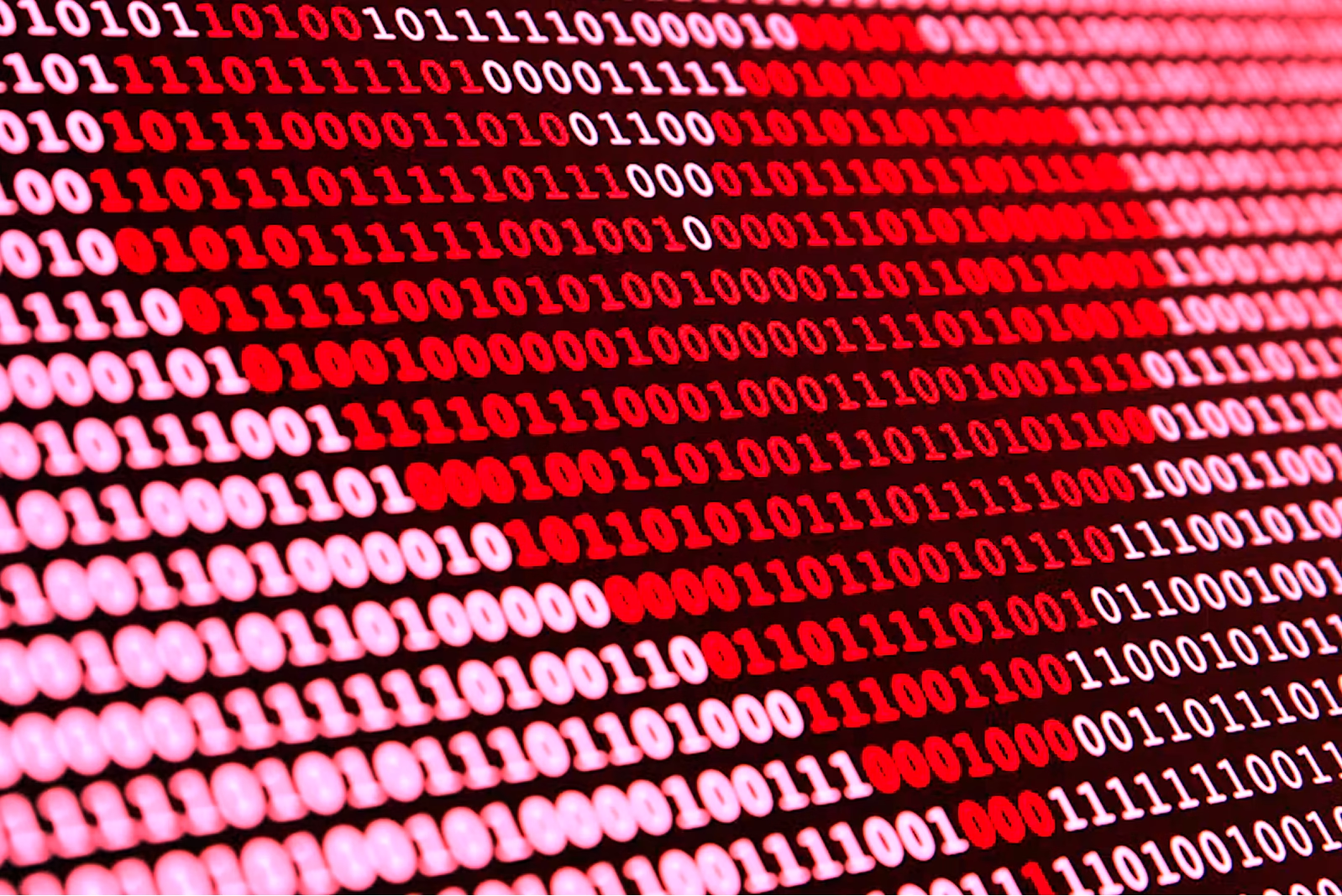

You must be logged in to post a comment.