O olhar de Catarina Eufémia, gravado no mural que celebra a sua mitologia em Baleizão, parece cruzar-se com o olhar da mulher de nome desconhecido do Hindustão que por ali passa. Talvez o olhar fugaz que a trabalhadora rural dos olivais e amendoais intensivos dos campos de Beja dirige ao rosto de Catarina questione que mulher e de que emancipação fala o mural. Nesse instante fotográfico, o olhar já não se cruza com o cravo imprescindível à memorabilia comunista. Provavelmente, nem tamanhos questionamentos e simbologias assolam a trabalhadora migrante. O seu mundo está antes ligado por um fio a um smartphone. Do outro lado, a milhares de quilómetros, estará uma voz familiar e uma condição de miséria que a levou a atravessar meio mundo em busca das migalhas da fatia do bolo que ditou que as muitas Catarinas Eufémias do hemisfério sul não tenham direito a uma vida digna. Muito menos que os seus nomes sejam recordados pelas múltiplas lutas que povoam a sua mera sobrevivência quotidiana.
A fotografia de André Paxiuta sugere o ponto de partida desta crónica. Em primeiro lugar, uma inquietação: o desencontro entre a migrante explorada nos grandes olivais de Beja e um mural que se revela afinal um muro de indiferença que percorre as vilas e campos do Alentejo para com aqueles que de fora aqui vêm trabalhar à jorna. Depois, uma pergunta que cedo se revela um equívoco e uma ilusão: como lidam os trabalhadores rurais alentejanos com a vaga dos trabalhadores rurais migrantes?
Inquietação
Se em números anteriores do Jornal Mapa abordámos a situação laboral de escravatura e as lutas específicas dos migrantes nos campos do Sul, regressamos para retratar um território que vive silenciosamente numa tensão social fracturante. A pergunta atrás formulada é equivocada porque a condição de trabalhador rural alentejano há muito que desapareceu, e ilusória porque a questão não se coloca verdadeiramente como prioridade a quem habita o território. E, quando é posto em praça pública, o problema corre o risco de afundar-se no preconceito racista. A inquietação persiste ao não nos depararmos com uma resposta positiva, possível e desejável. Uma resposta de solidariedade expressa entre os olhares cruzados dos filhos e netos, nascidos da geração de Catarina Eufémia, e os migrantes sem nome do Hindustão, do Leste europeu ou da África subsariana.
Situemo-nos antes de mais nesta paisagem forjada pelo homem e pelo trabalho rural. Afinal de contas, a presente e brutal transformação dos campos alentejanos apenas pode ser comparada com a conquista humana das charnecas, matos e florestas que moldou há cem anos atrás o Sul de Portugal nas planuras do celeiro da nação. Paisagem que hoje desaparece, repetida a avidez das grandes extensões de terra, numa transformação programada e apoiada com dinheiros públicos, em nome do lucro circunscrito proporcionado pelas culturas permanentes do olival e amendoal.
O que acontece a uma velocidade estonteante. Num fechar de olhos, perdemos os sentidos e acordamos emergidos numa outra terra qualquer. O olhar ferido pelo sol não vislumbra mais a planura e os montados que a salpicavam. A promessa foi cumprida. O Alqueva abriu as veias da sua água ao regadio da agroindústria de Évora a Beja. E onde o sol se põe, na aragem da costa alentejana, é o reflexo plastificado das estufas que fere a vista a caminho das falésias que se esboroam. É esse o novo Alentejo e todos sabíamos que aí vinha. Décadas de promessas, progresso e betão concretizadas. Surpresa mesmo, somente o assomo da vertigem com que de um dia para o outro o mar é em terra extensões de plástico e as encostas dos barrancos se vêm esquadrinhados em ruas de olival e amendoal, enevoados pela química, e as margens das ribeiras cortadas a perfil recto convidam o solo a conhecer definitivamente a sua aridez.
Maravilhoso mundo novo…
A Maravilha Farms é uma das multinacionais norte-americanas de frutos vermelhos, junto com a Driscool’s instalada em Odemira. Há 10 anos em Portugal, representa cerca de 2% do universo da californiana Reiter Affiliated Companies (RAC). Actualmente, os lucros destas multinacionais ascendem a perto de 150 milhões de euros por ano. Com cerca de 150 hectares de produção, a Maravilha Farms prevê duplicar as estufas de framboesas, amoras e mirtilos, para 300 ha, anunciando um aumento de mão-de-obra de 60 a 70% dos 700 trabalhadores contabilizados (15% deles portugueses). Números à parte da mão-de-obra sazonal, que representam no fim de contas a espinha dorsal desta indústria. O plano de investimento da Maravilha Farms («Ambição 2021») fora apresentado em maio de 2017 nas instalações da empresa em São Teotónio, numa cerimónia presidida pelo primeiro-ministro António Costa.
Contrariando a ambição desse mar de estufas, o processo de avaliação ambiental, em fase final à data em que escrevemos, aponta um conjunto de indicações desfavoráveis ao Projeto Agrícola da Maravilha Farms a desenvolver em 84 ha de Alcaria Nova (São Teotónio), incluindo a base logística e https://staging2.shifter.pt/wp-content/uploads/2021/02/e03c1f45-47ae-3e75-8ad9-75c08c1d37ee.jpgistrativa da multinacional, centralizando as outras unidades produtivas já existentes na envolvente. Em causa está a violação dos princípios de conservação do Sítio de Importância Comunitária Costa Sudoeste e do próprio Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, espelhando uma preocupação crescente com esta ocupação excessiva no Perímetro de Rega do Mira.
Mas, para lá da evidência de crime ambiental, a expansão das estufas trouxe inevitavelmente ao de cima a questão social. Questão centrada sobretudo na habitação e na interacção social de diferentes comunidades, desde que há mais de uma década atrás chegaram a São Teotónio levas de búlgaros, hoje ofuscados pelos milhares de tailandeses, nepaleses, indianos e bengalis que ocupam toda e qualquer casa e casebre. O novo projeto agrícola previa inicialmente a construção de 19 edifícios para alojamento de 16 trabalhadores cada um, um refeitório, uma lavandaria e um posto de saúde. Contudo, em janeiro passado, a Maravilha Farms dá o dito por não dito e excluiu simplesmente a criação de espaços e equipamentos destinados aos trabalhadores temporários, quando questionada pela CCDR Alentejo relativamente ao escasso número previsto e ao compromisso social da empresa.

Quando só este projeto significará cerca de 1050 novos trabalhadores em época de colheitas, foi recebida com evidente incompreensão a conclusão do estudo de impacte ambiental de que não haveria impactes com significado sobre os fatores socioculturais locais. Em sentido contrário, a freguesia local tem vindo a apontar uma série de dificuldades inerentes ao aumento de pressão sobre os serviços públicos, desde a recolha de resíduos, saneamento básico, água, luz e comunicações. E neste cenário há quem acentue ainda que a corrida ao alojamento colide com o alojamento temporário do turismo da costa alentejana. Em ambos os casos, o ganho dos proprietários locais, à custa com os migrantes de casas sem condições, veio criar uma crise para a restante população incapacitada em suportar os custos de alojamento.
Numa freguesia que registava 6439 residentes nos censos de 2011, só o número de atestados de residência entre 2016, 2017 e 2018 evoluiu de 1758, 2788 a 3767 pedidos. Números que não reflectem fixação de população, mas sim a rotatividade dos migrantes, ditada por verdadeiros cartéis de trabalho precário, que operam legalmente em empresas de trabalho temporário. Essa demanda de centenas de trabalhadores para as estufas de frutos vermelhos espelha a constante da alma capitalista: lucros astronómicos garantidos por mão-de-obra barata e explorada. Uma condição inquestionada enquanto funciona como chantagem a uma possibilidade migratória que é mais favorável em Portugal para garantir uma passagem legal ao sonho europeu.
O certo é que esta miragem encarniçada do plástico não atraiu apenas multinacionais, mas envolve igualmente os pequenos proprietários de terras no sudoeste alentejano que instalam estufas com o retorno garantido pela Driscool’s e congéneres, recorrendo em igual medida ao anónimo recrutamento dos migrantes. Numa terra que acompanhou a tendência regional da rejeição da terra, enquanto actividade económica, pela terciarização da população local nos serviços públicos ou no sector turístico, há um regresso à terra: plastificada, na serventia e dependência da monocultura e pactuando com a desgraça dos outros.
Estufas e festivais
Lado a lado, distintas comunidades vivem entrincheiradas. Com os búlgaros e as populações de leste, que em boa parte acabaram por se fixar, os lugares comuns da criminalidade são mais acentuados, ainda que hoje mais esbatidos, do que os juízos populares para com as populações tailandesas e do Hindustão. Impronunciado existe um racismo encapotado ou latente na separação dos «locais» com as muitas populações estrangeiras de Odemira, um dos mais extensos municípios da Europa. Numa população de 26 104 habitantes (Censos de 2011), conforme dados da autarquia em 2017, 18,8% da população residente era migrante legalizada (4 912, na maioria asiáticos), constituindo 57,8% dos migrantes registados no Distrito de Beja. Já nesse ano a revista Visão apontava números não-oficiais de perto de 40 mil imigrantes.

O facto é que na escola de São Teotónio – onde decorre um sistema de ensino próprio, para integrar 22 nacionalidades – há pais portugueses que optam por deslocar os seus filhos para a vila de Odemira. O processo de integração atrasa o passo, enquanto o espaço público rejuvenesce num mosaico de diversidade. Idosos alentejanos perfilam-se nos bancos à esquina a ver o que se passa, mas ao largo e na rua são muitos os grupos de jovens asiáticos de cócoras. O espaço doméstico das casas passou com os novos habitantes para a soleira das portas e na rua, até porque a privacidade deixou de ser um garante no interior dos alojamentos sobrelotados.
Já no tortuoso mundo de gabinetes, alicerçados em fundos nacionais e comunitários para um conjunto instituído de associações e ONG, a integração dos imigrantes deu corpo a iniciativas e planos estratégicos, como o 2º Plano Municipal para a Integração de Migrantes 2018/2020, que garantiu a continuidade do Centro Local de Apoio ao Imigrante (CLAIM). Promovido pela TAIPA, funciona desde 2014 em São Teotónio e responde à procura da aprendizagem da língua portuguesa e como antecâmara do SEF no tratamento dos papéis. É financiado metade pelo município, via fundos europeus, a outra parte pela Associação de Produtores Agrícolas Lusomorango, empresas agrícolas (Sudoberry, Vitacress, Haygrove, Hall Hunter) e a empresa de trabalho temporário Multitempo.
Longe estão ainda os objectivos anunciados em planos e estratégias de «assegurar das condições de acolhimento e integração aos imigrantes residentes»; na «promoção das suas competências» (da língua portuguesa à participação) e na promoção «do conhecimento e a aceitação da multiculturalidade». O que se observa reduz-se a eventos e festividades «para português ver». No passado dia 16 de março, a celebração primaveril do Festival Holi, da Índia ao Nepal, chegou à festivaleira Zambujeira do Mar, onde à exuberância anunciada das cores hindus não faltaram bandeiras e hinos nacionais, colando à multiculturalidade o cunho da celebração nacionalista ou reduzindo a integração ao verniz do folclore pitoresco. Ilusoriamente poder-se-ia esperar que a partilha das expressões artísticas, por detrás do projecto Gira Mundo, que decorre do CLAIM e que promoveu o Festival Holi, para lá das partilhas nas redes sociais, possa quebrar o verniz deste projecto financiado pela Maravilha Farms e outras empresas agrícolas.
O largo de Catarina
Regressamos a Baleizão. Ao nascer do dia no Largo Catarina Eufémia a multidão de migrantes a aguardar as carrinhas para os olivais e amendoais de Beja é imensa. Aqui é o busto de Catarina no centro do largo que se vê rodeado de tamanho movimento de trabalhadores rurais. Nem nos melhores tempos da Reforma Agrária, dizem-nos. Nesta freguesia alentejana, que nos censos de 2011 registava somente 902 habitantes, assistiu-se a um virar de página já depois da mais recente crise financeira ter de novo batido às portas da aldeia. Concluídos os blocos de rega do Alqueva, deixou de haver, com o incremento da agroindústria, motivo para a até aqui usual emigração para a Suíça dos jovens locais.
Tal como em São Teotónio há emprego e este é assumidamente diferenciado. O alentejano partilha com os espanhóis, chegados ao distrito de Beja, os cargos de gestores agrícolas, de supervisores das equipes, ou de tractoristas e afins. Depois, essa multidão dos novos trabalhadores rurais migrantes arregimentados nas voláteis empresas de trabalho temporário. E estes povoam agora Baleizão dando vida às ruas até há pouco desertas. No reverso da moeda, não valerá a pena repetir também aqui as condições de habitabilidade que envergonham este novo povoamento rural.
Os que chegaram primeiro vindos do Leste, romenos e moldavos sobretudo, permanecem reféns ou na sombra de esquemas mafiosos de tráfico humano, ainda que haja, tal como no litoral alentejano, quem se tenha instalado de modo permanente. Depois em trânsito pelos campos de Beja estão as diversas populações asiáticas, assim como aqui também os migrantes chegados da áfrica subsariana, do Senegal às diferentes Guinés. A presença desta imigração na região é em tudo contrária a qualquer ideia de «ameaça económica», antes pelo contrário, preenchem o trabalho duro e mal pago que os portugueses recusam, ao mesmo tempo que as suas prestações sociais ajudam a sustentar a segurança social nacional (em 2017 contribuíram com 603,9 milhões, dos quais beneficiaram apenas de 89,6 milhões). E mais descabida é a ideia de uma «ameaça demográfica». Num país envelhecido, conforme estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos (2017), se não contarmos com os migrantes, os actuais 10,4 milhões de habitantes cairão para 7,8 milhões até 2060.
No entanto, a desejada fixação de novos povoadores permanece uma miragem na região e uma impossibilidade. Responsável: a falácia do próprio crescimento económico que atrai os imigrantes baseada na precariedade, salários baixos e trabalho agrícola sem escrúpulos. O que não significa que essa alma capitalista, a que já atrás aludíramos, não tenha laivos de beneficência no apelo à fixação de novas famílias. É o caso de António Ferreira, que tomou em mãos a herdade da família do Vale da Rosa, em Ferreira do Alentejo, vindo do Brasil depois de indemnizado em mais de um milhão de euros pela ocupação da terra, em 1975, por trabalhadores agrícolas no âmbito da Reforma Agrária. Na herdade trabalham mais de 500 funcionários, outros 500 na colheita das uvas de mesa. A maioria é desde há vários anos asiática. Agora há o projeto de duplicar a vinha e empregar 400 trabalhadores, uma centena integrada no quadro, os demais com contratos de seis meses para a apanha de uva. A oferta dos 400 não é dirigida aos migrantes asiáticos, mas aos luso-descendentes da Venezuela que se acantonam na ilha da Madeira. “O meu coração sofre com eles”, desabafava ao Diário do Alentejo António Ferreira. O sentimento compatriota faz também aqui a diferença com o «outro» asiático, que permanece com uma indiferença pactuada à sorte na engrenagem do trabalho precário. Tamanha distinção compatriota valeu igualmente o empenho autárquico local em procurar formas de financiar a recuperação de casas devolutas para alojar os imigrantes… luso-venezuelanos.
Lá na terra deles era pior
Ao colocarmos nesta crónica um ênfase inicial no paralelo entre o imaginário camponês das lutas rurais simbolizadas em Catarina Eufémia e a realidade destes novos trabalhadores rurais, corremos o risco de reduzir o nosso discurso a uma fórmula ideológica. Mas a validade desse paralelo não coloca em causa a chamada de atenção e o retrato de uma situação de fratura social. E não pretende esconder que a realidade em Baleizão e no restante Alentejo está hoje claramente afastada do imaginário ideológico. Não nos iludimos quanto a isso. O certo é que a indiferença social vai alargando dia para dia a distância entre os dois pólos desse paralelo que nos propusemos interrogar. Perante as vagas anónimas e temporárias de novas gentes, a diferença gera localmente medos e preconceitos, tal qual acontecia há um século atrás nos campos do Alentejo (ver secção ‘Fio da Memória’ no final deste artigo).

Resta inquirir porque não se gera a solidariedade. Porque não se cruzam os olhares entre as Catarinas de variadas latitudes nos campos alentejanos. Quando no largo central da vila alentejana, de Baleizão a São Teotónio, ouvimos o lavar das consciências lavrando a sentença “lá na terra deles era pior”, isso não significa que não haja a noção de que os migrantes passam mal. Mas a distância entre as comunidades dá espaço à indiferença que se instala por diferentes ordens de razão.
Poder-se-ia começar por explicar essa indiferença por não existir efectivamente qualquer «consciência de classe». Na relação das pessoas, no trabalho, menos ainda para com quem surge do outro lado do mundo. Uma ausência de referentes sociais que espelha o consenso dominante, que recusa em colocar à actualidade uma visão crítica e de resistência ao modelo capitalista depredatório dos territórios. Territórios que são inevitavelmente lugares humanos delapidados.
É possível equacionar a integração dos migrantes e a revitalização do interior rural, permanecendo sem questionar o modelo económico depredatório dos recursos e do território que representa a industrialização sem limites do mundo rural? Um processo liderado já não pelas grandes famílias latifundiárias, que com maior ou menor dose de absentismo estavam ligados à terra, mas por sociedade de fundos de investimento e pela financeirização da agricultura apostada em monoculturas de rápida execução de lucros.
Mas a derradeira questão de fundo à distância e indiferença para com os novos trabalhadores rurais migrantes é que este é um problema que não se coloca naturalmente para quem nasceu no Alentejo sem qualquer relação com a terra. Ou, o mito dos mitos, que perdeu há muito qualquer relação com o trabalho rural. O êxodo migratório dos seus avós nos anos sessenta e as políticas agrícolas comuns desde os anos oitenta aos nossos dias, são dois momentos que testemunharam o afastamento das populações locais para longe da terra e definitivamente arrumaram a figura do «trabalhador rural», já em si mesma, um espectro fantasmagórico quando sucedeu o intervalo histórico do pós-25 de abril e da Reforma Agrária.
Depois do abandono, o regresso à terra e à agricultura, arriscamo-nos a dizer, é todo ele feito, seja por quem for, desprovido dos laços com o território e, como tal, desprovido dos laços de solidariedade e da vida comunitária outrora forjada nos campos. Será possível equacionar a integração dos migrantes e a revitalização do interior rural, permanecendo sem questionar o esvaziar da vida em comunidade?
O fio da memória
A chegada de trabalhadores de fora e as suas miseráveis condições de trabalho estão inscritas nos campos alentejanos. Na primeira metade do século passado – quando a campanha do trigo moldou a paisagem hoje dita tradicional – o trabalho à jorna fazia uso da miséria dos trabalhadores locais, os ganhões, mas não podia dispensar os ratinhos que chegavam das serranias das beiras ou os algarvios da serra. Na ceifa das planícies, já então a relação entre os locais e os de fora colhia preconceitos para com os que chegavam. Mesmo que partilhando necessidades e pobreza.
Hoje a pobreza não é partilhada em igual medida e esse fio da memória desapareceu. Porém, o fio acaba por enlear-se de novo no juízo imediato e racista para com o outro estrangeiro. Ou nesse linguajar desumano que muito ecoa a sul, denegrindo-os à laia de ciganos. Esquecidos que ainda ontem assim eram tratados os outros, esses portugueses, das beiras ou do Algarve.
José Alves Capela e Silva (1884-1972), em Ganharias (1939), dava conta como “rato ou ratinho significa para a ganharia, uma coisa inferior, quási desprezível (…) E os ratos são esses sêres inferiores, que vivem do que podem apanhar, ou d’aquilo que lhe deixam”. “População aventureira e miserável, que invade a planície — em contraste com os seus naturais em geral de temperamento sedentário, — à mingua de recursos nas suas terras, e que se sujeitam às mais baixas missões nas lavouras.” “Desde que chegam até ao dia da abalada, sentem cair sobre eles o peso despótico do mundo que os rodeia”, vaticinava Capela e Silva.
Manuel Ribeiro (1878-1941), em Planície Heróica (1927), obra que é por muitos considerado o momento alto do escritor mais lido nos anos vinte – anarco-sindicalista, fundador do Partido Comunista Português e místico espiritual por fim – legou-nos estes retratos do trabalho rural:
“Desconheciam-se pedintes, porque ninguém vivia ocioso. Poucos se assoldadavam. Ser jornaleiro, às sopas de outro, implicava uma degradação.” E quando “pouco jornaleiro havendo, quem alombava com as grandes ceifas eram as récuas de algarvios da serra, rabosanos sediços, gente miúda, de citiliqué, que eles desdenhavam pelo seu feitio nómada e despegado, como os ratinhos, os pelotiqueiros e os ciganos, e sobretudo por não lavrarem terra nem semearem pão”. Os «algarvios da serra», referidos no enleio do romance: “ia dizendo ao senhor compadre prior o Sr. José Mingorra – saíam das suas tocas serrenhas ao rebentar das ceifas e passavam toda esta quadra longe das suas serras e das suas mulheres, acoitando nos campos que ceifavam, não se chegando a monte nem a povoado, senão no cabo da empreitada, para fazerem contas e desencardir a morraça dos corpos nos pegos das ribeiras. A sua lida durava todo o tempo da aceifa, ele domingos e dias santos, desde o romper da manhã até ao pôr do ar do dia, quando não metiam pela noite adiante em havendo lua que se enxergasse. Sob o mando dum manageiro-capataz que não só dirigia a manobra, mas arneirava, emolhava e jogava a foice também, os corpos de aço, farruscos e encardidos, banhados de suor e ardidos das soalheiras, giravam numa dobadoira, buliam como endemoninhados, abatendo searas enormes com um vigor de atletas.
Não se ouvia uma fala, que o esforço do arranco e o frenesi da tarefa não davam margem a paleios, e com os dentes cerrados, ágeis e desengonçados, arrepanhavam às braçadas os feixes de trigo, degolando-os e atirando-os para trás.
– Raça danada estes algarvios da serra! – arremetia o Sr. José Mingorra. – Eu não sei como os diabalmas aguentam um trabalho destes, semanas e semanas. Amalham nos restolhos, quando Deus quer sem mantas, e enganam a fome com vinagradas e algum prato de grão e cheiro de toucinho, sem mais alimento nenhum.”
Texto de Filipe Nunes
(Nota: este texto foi originalmente publicado no Jornal Mapa, jornal de informação crítica, editado em papel, tendo sido aqui reproduzido com a devida autorização.)

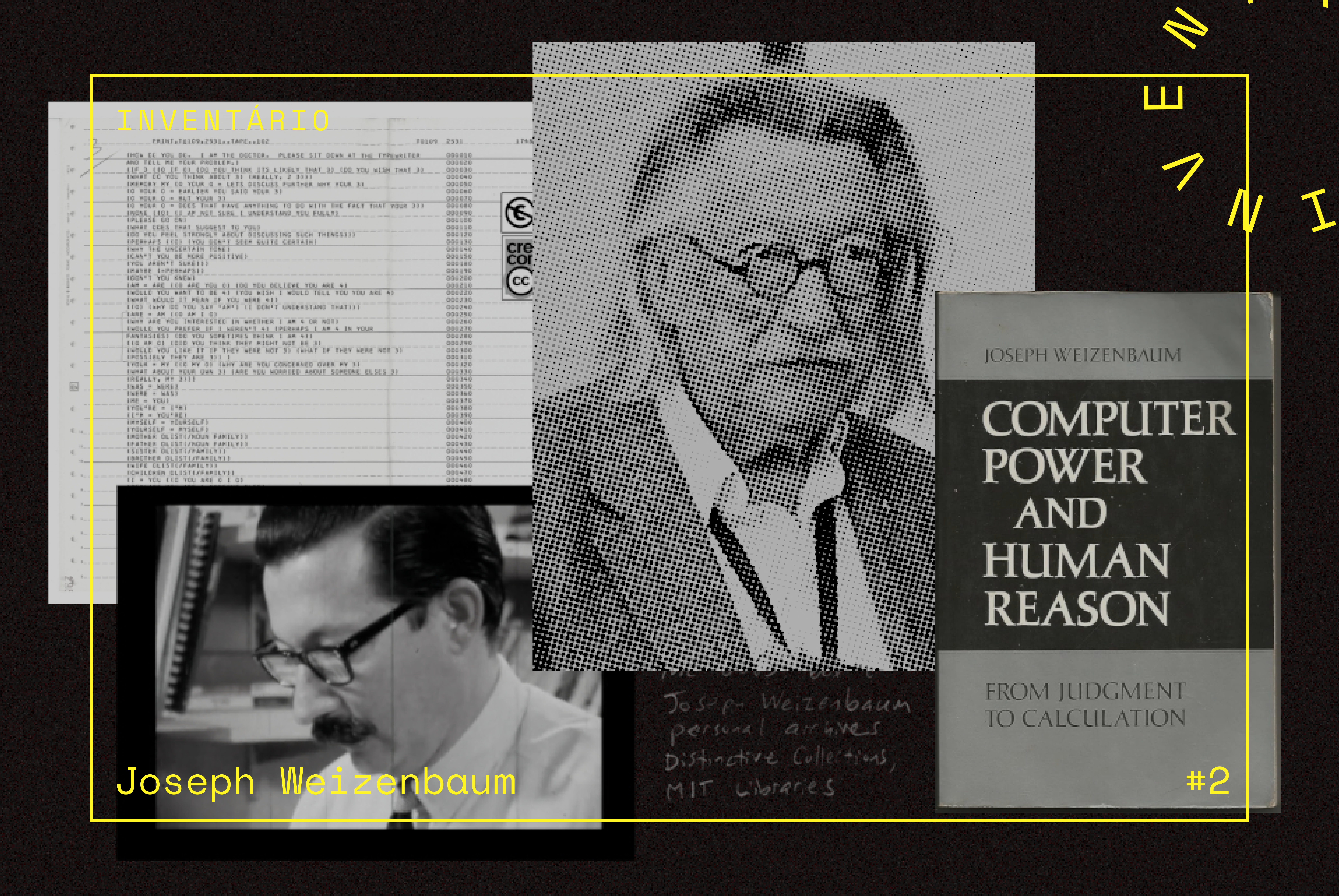


You must be logged in to post a comment.