
Parece loucura, mas em termos antropológicos, faz todo o sentido. A Lei é uma construção cultural. Numa sociedade democrática, os grossíssimos volumes que encontro com tanta frequência no metro, entre os braços de algum estudante de direito com olheiras, são uma tentativa de regular a actividade humana naquele país à luz dos valores dos seus cidadãos. Apesar da mais que óbvia inspiração que o legislador poderá receber dos seus homólogos internacionais, existem diferenças; não só axiológicas, mas também no que diz respeito aos factores que influenciam eventuais revisões dos textos e que, a tempos diferentes para cada estado, condicionam – esperemos nós – o progresso. É também por este motivo, que os portadores dos referidos calhamaços têm uma Unidade Curricular Opcional que recebe o nome auto-explicativo de Direito Comparado.
Por cá, a definição legal de violação tem dado mais problemas do que possa parecer. Em Setembro deste ano, ficou conhecido o caso da jovem de Vila Nova de Gaia, cujo estado de inconsciência foi aproveitado por dois funcionários de uma discoteca para manterem relações sexuais com ela, sem o seu consentimento.
O acórdão tem muito de discutível, a começar pela escolha de palavras (a expressão “sedução mútua” nunca soou tão aterradora) e a terminar na desvalorização de várias agravantes potenciais, entre as quais, a não utilização de preservativo por parte de, pelo menos, um dos arguidos. Mas o infeliz fraseamento dos juízes poderá ter levado a um certo desvio das atenções daquilo que me parece ser a raiz do problema. Independentemente da barbaridade geral que, na minha opinião, constitui aquele texto, é difícil argumentar que a classificação do crime em si foge ao que está legislado.
Instintivamente, catalogamos como “violação” os actos que descrevi acima. Mas de acordo com o artigo 164º do Código Penal, a violação “à portuguesa” prevê apenas o acto sexual levado a cabo por meio do constrangimento activo da vítima pelo agressor, seja por meio da violência, ameaça grave, tornando-a inconsciente ou impossibilitando-a de resistir.
Deste modo (e ressalvando – porque me é impossível não o fazer – que os magistrados parecem ter ignorado quer as múltiplas equimoses que a vítima apresentava, quer o facto de um dos ofensores ter oferecido à vítima várias unidades alcoólicas determinantes para o estado de inconsciência que desenvolveu), os arguidos foram condenados pela autoria material de um crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, conforme previsto pelo artigo 165º do mesmo volume.
Uma polémica semelhante provocou uma inundação humana das ruas por toda a Espanha, a meados deste ano, quando uma jovem de 18 anos, alcoolizada, foi encurralada por cinco (sim, leram bem, entre os quais um militar do exército e um polícia) homens entre os 24 e os 27 anos que mantiveram relações com ela nesse estado e ainda tiveram a espectacular ideia de gravar o crime e o partilhar num grupo de Whatsapp que acabaria por baptizar o processo de “La Manada”. Também aqui, os acusados foram condenados por abuso sexual porque o tribunal considerou que não houve violência ou intimidação.
Tanto a lei portuguesa como a espanhola, encaram a questão da coação activa como critério obrigatório para enquadrar um crime como violação. Surpreendentemente, não são a minoria.
Publicado em Janeiro deste ano, mas actualizado há cerca de duas semanas, o relatório da Amnistia Internacional “Right to be free from rape – Overview of legislation and state of play in Europe and International Human Rights Standards” cita os dois casos que referi quando aborda a situação ibérica, salientando que os governos de ambos países já terão prometido alterações à legislação. Mas não se fica por aí.
Ao longo de 34 páginas de investigação exaustiva, a legislação dos diversos países europeus é comparada com o que poderia ser considerado o “estado da arte” no que concerne aos padrões internacionais do que são os direitos humanos referentes à liberdade sexual e integridade física. O que, na prática, diz respeito à Convenção de Istambul (adoptada pelo Conselho da Europa em 2011 e implementada três anos depois) cujo principal pilar é a definição de violação com base na ausência de consentimento explícito para o acto sexual em questão, independentemente do uso de qualquer tipo de coação ou violência e abrangendo, por definição, os casos em que a vítima não oferece resistência.
E, neste sentido, a Península Ibérica não é a única a ficar bem atrás do que referem as boas práticas. Dos 31 países europeus observados, apenas 8 consideram o conceito de violação supracitado em oposição ao modelo assente no uso de força ou coação (adoptado pela maioria dos restantes países): Reino Unido, Irlanda do Norte, Bélgica, Chipre, Luxemburgo, Alemanha (desde 2016), Islândia e Suécia (ambas alteradas este ano).
A própria definição de consentimento tem ainda um longo caminho a percorrer. A proposta internacional, que já é seguida em países como o Reino Unido, exclui o consentimento presumido. Em teoria, estabelece-se que nunca existe consentimento verdadeiro na presença de qualquer tipo de coação ou alteração do estado mental e que o mesmo não pode ser inferido através de comportamentos prévios da vítima (evitando qualquer “avaliação de carácter”) ou da ausência de resistência ou de um “não” explícito. Na prática, “não é não”, mas a ausência de um “sim” claro, consciente e livre também é “não”.
Em países como a Áustria, a ausência de consentimento implica que a vítima expresse a sua oposição, o que deixa de parte um número considerável de crimes.
Com a divulgação deste novo documento, fica claro que esta discrepância com as recomendações internacionais é apenas a ponta do iceberg de uma Europa que está longe de dar às suas vítimas de crimes sexuais o tratamento que elas merecem, com destaque para determinados aspectos protecionistas de algumas legislações face aos agressores e da própria conceção dos crimes sexuais.
No primeiro caso, destaca-se a referência à “exclusão do matrimónio”. Nos últimos 5 anos, países socioculturalmente tão díspares como a Dinamarca, a Bulgária e a Grécia alteraram disposições legais que permitiam sentenças reduzidas aos agressores que casassem com as suas vítimas, repelindo o conceito de “casamento como indeminização”.
Já no segundo, e por incrível que pareça, são ainda muitos os países europeus que classificam os crimes sexuais como crimes contra a “honra” ou a “moralidade” em oposição a crimes contra a liberdade sexual (classificação utilizada em Portugal). Malta, Bélgica, Luxemburgo, Holanda e Polónia são exemplos de estados que se referem a crimes contra a “boa ordem das famílias”, a “moral pública” ou mesmo “a decência”. Todas estas designações subvertem o conceito universal de direito de liberdade sexual da vítima, pessoal e intransmissível, vinculando-o a uma mera problemática de âmbito familiar ou moral.
Se a lei deve refletir os ideais dos povos por ela regidos, ambos os braços terão de progredir em conjunto. De acordo com o relatório da Comissão Europeia sobre violência de género, emitido em 2016, 19% dos portugueses consideram que o facto da vítima estar embriagada ou sob o efeito de outras drogas pode ser considerado como justificação para a prática de actos sexuais sem o seu consentimento. Muito há a fazer se 19 em cada 100 magistrados pensarem desta forma, mas uma conformação da lei aos padrões internacionais pode sempre dificultar a justificação das decisões judiciais que tendem a valorizar mais as atenuantes (como a ausência de cadastro) do que as agravantes (como a não utilização de preservativo), bem como facilitar o abandono dos velhos estereótipos de género.
Uma mesma moldura de valores de referência comuns (a qual em si constitui de forma mais abrangente, os fundamentos do sonho europeu), nesta e noutras questões em que as divergências persistem (em particular quanto às populações fragilizadas, portadores de deficiência e crianças) pode ajudar nesse caminho, especialmente se servir ela própria de alicerce para o desenvolvimento de uma estrutura prática de suporte quer das vítimas durante todo o processo de investigação e julgamento, quer do exercício do direito à liberdade sexual.
Texto de Pilar Burillo Simões
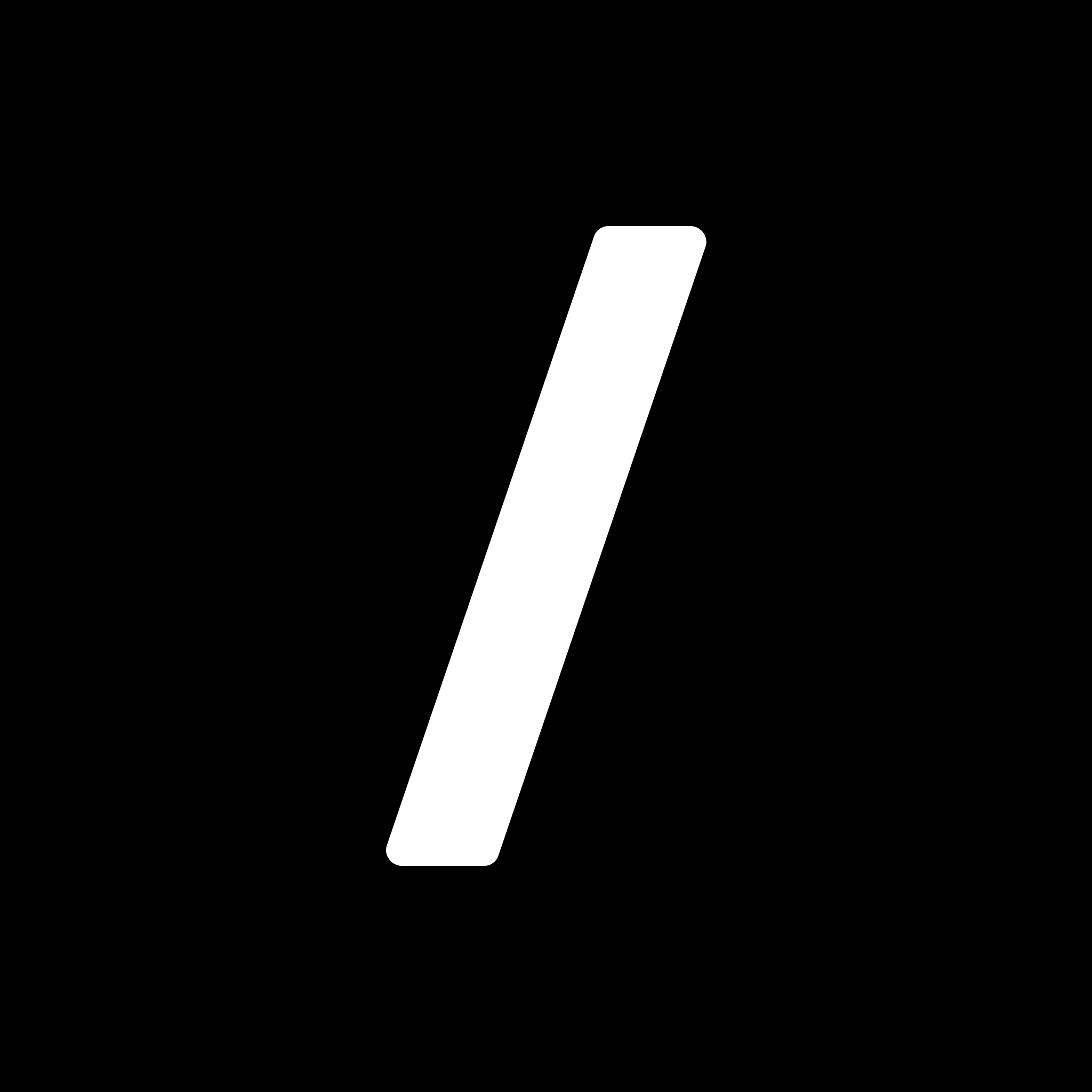
O Shifter é uma revista comunitária de pensamento interseccional. O Shifter é uma revista de reflexão e crítica sobre tecnologia, sociedade e cultura, criada em comunidade e apoiada por quem a lê.
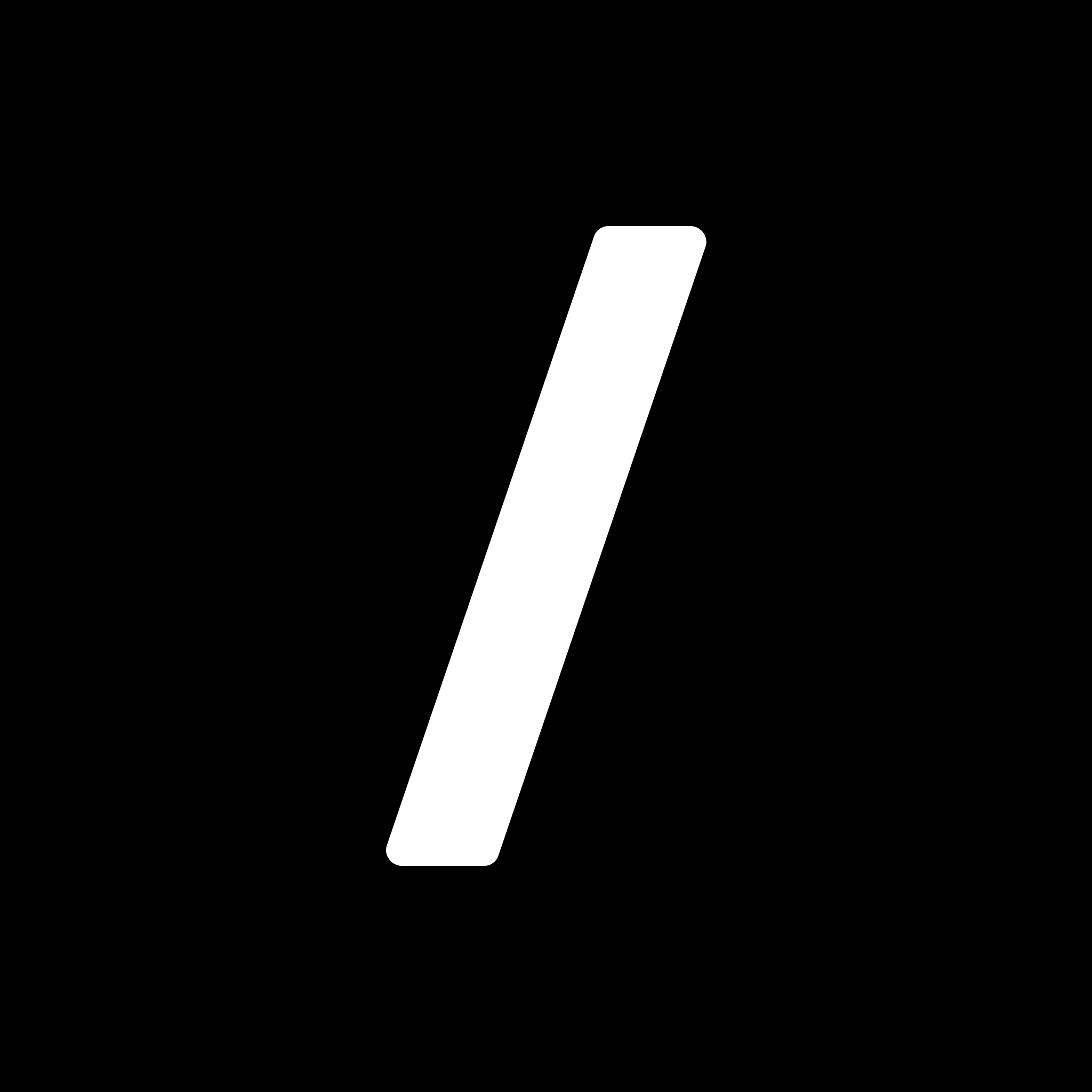
O Shifter é uma revista comunitária de pensamento interseccional. O Shifter é uma revista de reflexão e crítica sobre tecnologia, sociedade e cultura, criada em comunidade e apoiada por quem a lê.
Subscreve a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.
Outros artigos de que podes gostar:


