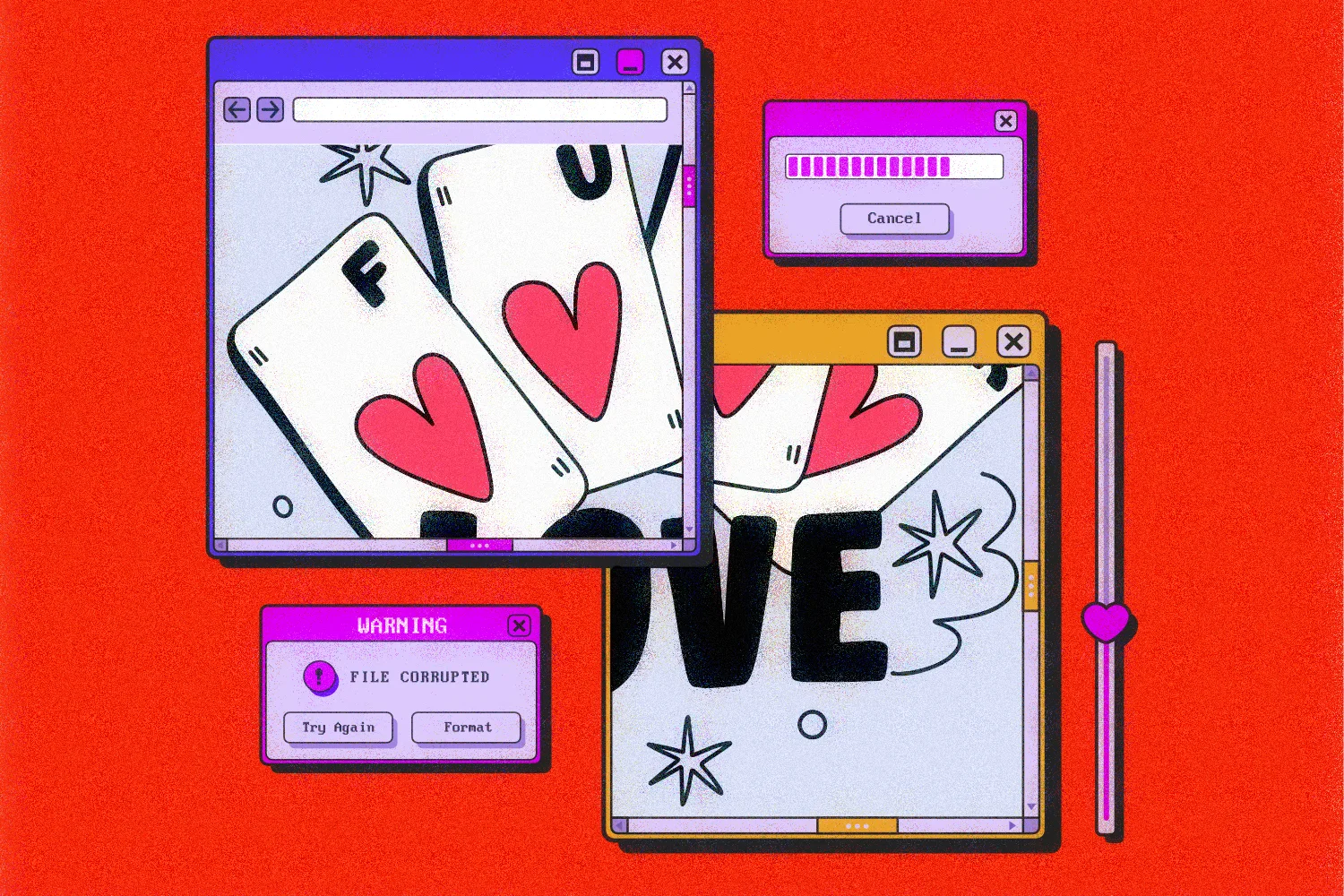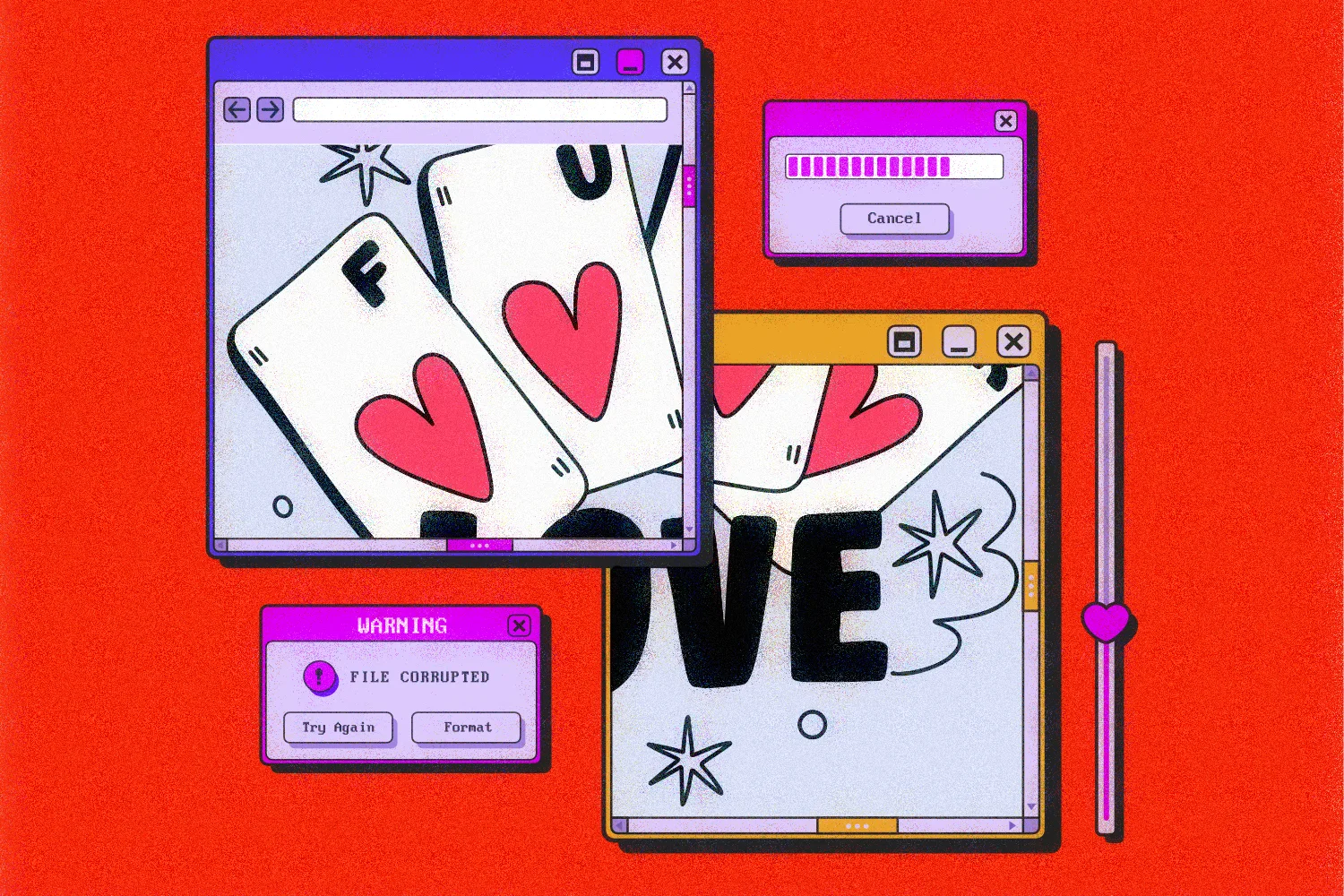

Lembro-me bem da sensação de intriga que me invadiu quando vi a passar no meu feed um livro com o título Dont Talk About Politics: How to change minds in the 21st century. Toda a minha vida adulta, e todo o meu percurso profissional, pareciam de repente postos em cheque por esta proposta editorial. A sinopse da obra lia-se como um obituário do debate e uma nota de alerta sobre o periclitante estado de saúde da democracia: “A democracia está a morrer porque nos agarramos a um mito perigoso e ultrapassado: que falar sobre política pode mudar a opinião das pessoas. Mas isso não acontece.”
Pesquisando pelos perfis sociais da autora, rapidamente percebi que não se tratava de um apelo ao conformismo, nem nenhum tipo de queda para o niilismo político, mas precisamente o contrário; uma cirúrgica provocação ao status quo. Sarah Stein Lubrano, doutorada em Teoria Política na Universidade de Oxford, investigadora independente e, profissionalmente, estratega de conteúdos em projectos como a afamada School of Life, estreou-se na publicação de longos formatos sem medo de ir contra as intuições vigentes sobre como devemos fazer as coisas. E o resultado é um livro em que cada página e cada capítulo funcionam como uma espécie de reality-check sobre discurso e ação política nos tempos que vivemos.
Com um pendor altamente interdisciplinar, muitos exemplos empíricos, simples e relacionáveis, Sarah Lubrano partilha algumas verdades difíceis de digerir sobre a insuficiência do nosso discurso online, mas não o faz para pintar um cenário sombrio ou antecipar o apocalipse social e político. Pelo contrário, fá-lo de forma compreensiva e inspiradora, instigando-nos a trocar as palavras por atos, e as discussões online por ações concretas no mundo offline. E, simultaneamente, explorando como podemos usar as ferramentas do mal a favor do progresso.
Numa altura de ressaca de debates — um dos ódios de estimação de Lubrano neste trabalho — e para perceber melhor algumas destas ideias da autora, decidi, mesmo antes de haver planos para a publicação do livro em português, conversar com a autora. Num encontro por Zoom, explorámos algumas das nuances das suas ideias, e o retrato de uma sociedade que se convenceu a si mesma de que o debate é o progresso, mesmo quando plataformas para o efeito são transformadas em autênticas armas de manipulação em massa.
“Não vês as pessoas mudarem de opinião quando lêem coisas na internet, não vês isso a acontecer quando são educadas per se. Por isso, todas estas receitas para o pensamento crítico estão um pouco vazias. E, ao mesmo tempo, o debate faz-nos outras coisas em que não reparamos: torna-nos mais reactivos, esgotados, chateados.”
Sarah Stein Lubrano (S.S.L.) — Eu cresci em Washington DC, andei em escolas secundárias e universidades prestigiadas, vivi a eleição do Obama e tudo o que aconteceu nesse período. E algo que sempre foi, e ainda é, uma grande parte da nossa cultura é o debate, especialmente no que toca à política. Sempre houve um certo discurso que sugere que, se debatemos as coisas, eventualmente as melhores ideias emergem como vitoriosas. Quanto mais olhamos para as culturas ocidentais, mais vemos como esta ideia também está incorporada nas instituições; está na forma como os artigos e jornais funcionam; como as pessoas têm de aprender a escrever ensaios na escola; é o que as pessoas pensam que educação para a crítica é. Obviamente é como os parlamentos funcionam, e podia continuar por aí adiante.
Sempre tive a sensação, por várias razões, de que essa estratégia é insuficiente para realmente pensar nas coisas. E uma das coisas que fiz, desde logo, no meu doutoramento (que é sobre dissonâncias cognitivas), foi começar a questionar se as pessoas que assistiam aos debates realmente mudavam de ideias. Estatisticamente há muita evidência que nos diz que isso não acontece, de todo. Há uma grande meta-análise que estuda esta questão em diferentes países e épocas — e repara, a opinião pública vai variando levemente a cada dia, e o que se esperaria era que, se os debates importassem, víssemos um grande salto… mas nunca o vemos. Essa mudança de opinião não acontece sequer quando o Joe Biden aparece senil na televisão. E foi isso que moldou a forma como eu penso sobre o que muda a mente das pessoas. À medida que fui mergulhando na literatura da área da psicologia, das ciências sociais — sou uma pensadora interdisciplinar, porque acredito que não se pode pensar responsavelmente sobre este temas de outra forma — tornou-se bastante claro que os argumentos, no geral, não têm grande efeito na esfera pública, ao contrário da assunção implícita da maioria das pessoas sobre como as coisas funcionam.
Não vês as pessoas mudarem de opinião quando lêem coisas na internet, não vês isso a acontecer quando são educadas per se. Por isso, todas estas receitas para o pensamento crítico estão um pouco vazias. E, ao mesmo tempo, o debate faz-nos outras coisas em que não reparamos: torna-nos mais reactivos, esgotados, chateados. Faz-nos estar entretidos por um bocado, mas depois desligar. E rasga o tecido social, em muitos casos, incidindo especialmente sobre os grupos marginalizados.
Há muitas razões pelas quais eu não gosto de debates, mas a primeira é o facto de não nos levarem onde dizem que nos levam enquanto sociedade. E, nesse sentido, nós temos de pensar o que vamos fazer.
“Atualmente sentimos que muitas partes da nossa esfera pública são nossas, que as fazemos colectivamente, mas a maioria são espaços privados.”
S.S.L.— Nesse caso estás a apontar para outra coisa que escrevi no livro, sobre o Twitter e sobre a percepção da maioria das pessoas que o usam (e eu fui uma delas durante algum tempo) e que se sentem bem acerca da plataforma. No início, o Twitter era divertido; antes do Musk o comprar, e ainda antes disso, havia um período em que era realmente divertido. Ias ao Twitter dizer os teus hot takes, as piadas, conhecer pessoas e fazer amigos. Nesta altura havia uma sensação, sobretudo para aqueles que eram nerds o suficiente para estar no Twitter, de que éramos nós que colectivamente o fazíamos. Parecia que o Twitter era nosso. E isto é importante porque atualmente sentimos que muitas partes da nossa esfera pública são nossas, que as fazemos colectivamente, mas a maioria são espaços privados.
Quando Musk comprou o Twitter, isso tornou-se particularmente ridículo e escandaloso, porque ele fez as suas manobras publicitárias bizarras e gestos nazis, mas, na verdade, a maior parte da esfera pública agora é propriedade privada de muitas maneiras diferentes. A ilusão é o que lhes confere a aparência de legitimidade. Quando há um debate, as pessoas assumem que quaisquer que sejam as estruturas de poder envolvidas, são boas e legítimas. Acreditamos que se há debates a acontecer no Twitter a sociedade está a funcionar, mas essa legitimação é falsa.
Podia dar muitos exemplos de como os algoritmos que usamos diariamente são profundamente enviesados. Um deles é mencionado no meu livro, e é sobre o Elon Musk. Quando ele comprou o Twitter, uma das primeiras coisas que aconteceu a seguir foi o Super Bowl. Nessa altura ele tweetou sobre o evento, e o Joe Biden também — e eu não consigo explicar-te o quão insignificante o Super Bowl é neste contexto. De qualquer forma, o tweet do Joe Biden estava a ter mais engajamento do que o do Elon Musk, e ele terá pedido uma reunião às 4 da manhã para que mudassem os algoritmos para que todos víssemos mais tweets dele. Os tweets dele são muito mais promovidos do que os de todos os outros, e é por isso que quando lá vamos, os vemos muito mais, comparativamente com os de outras pessoas. Só porque ele se sentiu inseguro porque o tweet do Joe Biden correu melhor do que o dele. Isto é insano. É óbvio que a plataforma é enviesada em termos estruturais e sistémicos, que permite racismo, há muita coisa a acontecer. Mas, honestamente, diria que o Twitter já é uma notícia antiga.
Se escrevesse este livro de novo, o que não vai acontecer porque estou a escrever outro, seria sobre o TikTok, porque basicamente o TikTok está a dominar o mundo. Não só o TikTok, mas a inovação algorítmica que criou através dos vídeos curtos que se está a espalhar por outras plataformas. Nos cursos que dou, costumo ensinar as pessoas a utilizar vídeos curtos, de forma ambivalente, mas parece-me que a extrema-direita é muito melhor a usar o TikTok, e que o algoritmo também a promove mais. Foi feito um estudo sobre isto com partidos alemães que mostrou que mesmo que cries uma conta que siga só membros dos Verdes, vais continuar a receber uma quantidade desproporcional de conteúdo de extrema-direita, por exemplo da AFD [Alternativa para a Alemanha].
No fundo, vivemos uma distopia detida por privados e profundamente enviesada.
S.S.L. — Acho que muitos dos fatores que tornam os vídeos curtos bem-sucedidos estão presentes na cultura do debate, mas também há algumas diferenças. Mas gostaria de voltar um pouco atrás e apresentar algumas coisas que ensino no meu curso e que acho que podem ser interessantes para os leitores.
Caso não seja óbvio, estamos a passar por um momento de vídeos curtos por algumas razões tecnológicas. Este é um dos primeiros períodos em que os nossos telemóveis são bons o suficiente para esta porcaria. Em particular, a legendagem automática é boa o suficiente para as pessoas poderem criar vídeos curtos, legendá-los em três minutos e colocá-los online. E os outros podem assistir ao vídeo com o telefone escondido debaixo da mesa, no trabalho, porque há legendas. Chegámos a um momento em que a IA pode ajudar a criar estes conteúdos muito rapidamente; e ainda existem os vídeos totalmente gerados por IA , embora isso não seja o que as pessoas mais vêem.
Além disso, uma plataforma como o TikTok conseguiu destacar-se no consumo das pessoas, e 2025 foi o ano em que as pessoas estavam mais propensas a assistir a vídeos curtos todos os dias do que a assistir à televisão “normal”. É a primeira coisa que as pessoas vêem, atualmente. Outra coisa que funciona bem e o torna bastante aditivo é que tem esta espécie de mecanismo de dislike, que acontece quando fazes scroll para o próximo vídeo. Outras redes sociais falharam em implementar botões de dislike, porque desmotivavam os criadores — pensa nos dislikes que poderiam ter — e os criadores são essenciais à forma como estas plataformas funcionam. Houve uma combinação perfeita de fatores algorítmicos e, de repente, os vídeos curtos tornaram-se muito populares.
Algumas das coisas que tornam um vídeo curto interessante são semelhantes ao que torna um debate popular. Se criarmos uma contradição ou um conflito, o cérebro humano fica realmente sintonizado com isso, certo? É como se ficássemos hipnotizados pelo debate. Precisamos apenas de ver como o conflito vai acabar, o que é presumível. Detesto usar demasiado a biologia evolutiva, mas provavelmente os nossos cérebros estão preparados para procurar conflitos, para que possamos navegar no mundo social sem sermos assassinados ou algo do género — sem querer ser muito extrema. Os vídeos curtos podem, de certa forma, pressionar muitos desses mesmos botões.
Acho que existem maneiras de usar vídeos curtos que são um pouco menos destrutivas do que os debates, mas eu não faria afirmações mais ousadas do que esta. Por exemplo, quando ensino ativistas de esquerda sobre vídeos curtos, falo principalmente sobre como usá-los para trazer as pessoas para fora da internet. Pode-se encontrar um amigo online por um minuto, mas não se deve apenas ocupar espaço no feed dele. Isso é bom, mas depois deve fazer-se um apelo: “Se te importas com isto, vem fazer isto”. E é assim que tento usar o meu próprio trabalho; eu vendo os meus livros através de vídeos curtos. Muitas pessoas encontraram-me através desse tipo de conteúdo. Eu tento educar, tento ensinar competências, tento motivar as pessoas. Acho que é possível motivar as pessoas com vídeos curtos de maneiras úteis. Vivemos num mundo solitário e ver 90 segundos de um vídeo de alguém que acredita numa causa, e ainda está empenhado, pode ser motivador. Mas fundamentalmente depois da motivação e do recrutamento, é preciso levar as pessoas para fora da internet. E, actualmente, a maioria das pessoas está a apropriar-se do formato para promover clickbait e gossip.
“Vivemos num mundo solitário e ver 90 segundos de um vídeo de alguém que acredita numa causa, e ainda está empenhado, pode ser motivador. Mas fundamentalmente depois da motivação e do recrutamento, é preciso levar as pessoas para fora da internet. E, actualmente, a maioria das pessoas está a apropriar-se do formato para promover clickbait e gossip.”
S.S.L.— Os três segundos são realmente importantes, e digo isto de forma descritiva, porque se o entretenimento deve funcionar assim ou não é outra questão. Quando cortamos estes vídeos em pequenos segmentos e os publicamos online, o mais importante que se pode fazer é tornar os primeiros três segundos intrigantes, para que quem o recebe queira parar de fazer scroll. E repara, eu sou estratega de conteúdo por formação. Ao contrário de muitas pessoas que abandonam a academia porque é uma merda, o que também é totalmente válido, eu meio que fiz isso cedo e depois pensei: “Ah, eu podia usar estas habilidades”. Enquanto estivermos a viver nessas plataformas, e não vejo uma alternativa no momento, e enquanto tivermos dado às pessoas essa sensação de que elas podem continuar a mudar de canal, temos que nos adaptar a esse formato, até certo ponto. Mas o que espero que possamos fazer é oferecer algo melhor. Existe o John Berger e existe a pornografia, e ambos são conteúdos de vídeo de longa duração. E, a propósito, não me importo que algumas pessoas queiram ver pornografia, mas é preciso brincar sempre com o formato. Querer algo mais profundo na alma delas, acho eu.
Penso que uma das coisas para que nos falta linguagem, pelo menos na língua inglesa, é uma boa variedade de substantivos para descrever a atenção. Porque existem diferentes tipos de atenção. Um barulho irritante de uma perfuração do lado de fora da minha casa pode chamar a minha atenção, mas nunca vai chamar a minha atenção da mesma forma que um bom argumento, como um bom argumento persuasivo chama a minha atenção, e assim por diante. E eu diria que o debate é mais parecido com a perfuração do que com um argumento persuasivo, mesmo que tenha a forma de um argumento persuasivo, devido à forma como é posicionado.
Se olharmos para os dados que existem sobre isso, há algumas coisas diferentes a acontecer. Uma é que ficamos esgotados com o conflito, como se os nossos corpos entrassem em modo de luta ou fuga, mesmo que estejamos apenas a assistir, e então, eventualmente, isso torna-se demasiado para nós, e começamos a evitá-lo. Penso frequentemente nisto. As pessoas dizem: “Oh, não devíamos lutar mais à esquerda de forma performativa para chamar a atenção das pessoas, porque a direita está a fazer isso?” O problema é que, muitas vezes, a direita não quer que as pessoas façam nada. Na maioria das vezes, eles só precisam de apoio. Ocasionalmente, fazem várias coisas bastante odiosas, mas é como se dissessem: “Por favor, votem em mim e nos meus bilionários favoritos e depois voltem às vossas vidas”. Por outro lado, se se quiser criar um movimento de esquerda — e estou a usar um termo muito amplo para descrever as coisas, obviamente —, é preciso que as pessoas envolvidas façam coisas. Elas não podem simplesmente votar em si, têm de trabalhar. Por isso deixar as pessoas chateadas por algum tempo e depois esgotadas será completamente inútil. É preciso construir uma relação duradoura, estabilizadora e motivadora com as pessoas. No imediato vai despertar a nossa atenção, mas, a longo prazo, qualquer debate desse tipo vai esgotar-nos. E isso é mau para a saúde mental.
Outra questão com que me tenho deparado, analisando o material para o meu próximo livro, é que quase todo o conteúdo digital parece ter principalmente uma função de substituição da interação humana real. E, para ser franca, essa é a minha principal preocupação. Acho que muitas pessoas pensam que os telemóveis, no geral, são maus, e essa afirmação parece-me muito generalista. É certamente verdade que os adolescentes que usam o Instagram apresentam mais sinais de problemas de saúde mental, mas estar online pode significar muitas coisas. Se eu estiver a ler muitos artigos da Wikipédia, provavelmente não há problema. A questão é: quais são as minhas alternativas? E qual é o conteúdo real que estou a consumir? O que é verdade é que quando as pessoas têm menos interações, especialmente interações cara a cara e a viva voz, o seu cérebro começa vivenciar a vida de maneira diferente. Recentemente, vi um estudo que mostrava que as pessoas ficam mais calmas com as vozes das outras pessoas e com a sua presença física, mas não com mensagens de texto. Acho que isso se aplica a muitos introvertidos, mas parece ser verdade.
De forma mais ampla, aquilo sobre o que estou a escrever é a atrofia social, que é a forma como o nosso cérebro muda quando estamos mais isolados socialmente, quando passamos mais horas do dia sem outra pessoa fisicamente presente na sala connosco.
As mudanças que ocorrem no cérebro das pessoas, nesse caso, parecem bastante profundas. As pessoas tornam-se menos sociáveis, piores nas interações sociais, piores na leitura de sinais sociais, piores a perceber quando há uma oportunidade para interagir socialmente, piores a avaliar expressões faciais. A lista é interminável. Estamos a perder capacidades de que precisamos e, certamente, a tornar-nos menos felizes. Esta parte é, provavelmente, a que mais me preocupa: as pessoas começam essencialmente a experimentar uma forma de paranóia. A forma como os investigadores costumam descrever isto é que se interpretam sinais neutros como negativos — a ideia de que se não me respondes a uma mensagem, é porque me odeias. É uma forma de paranóia que não é como uma esquizofrenia, em que coisas paranormais me acontecem, mas uma paranóia social: “Acho que as pessoas não gostam de mim, que não posso confiar nos outros”. Isto é mau para as sociedades em geral. Não porque não existam pessoas em que não devemos confiar, mas porque uma vez que os humanos estão mais predispostos para a desconfiança e a paranoia, tornam-se mais propensos a cair em crenças racistas e xenófobas. Também se torna menos provável que colaborem ou se tornem ativos em projetos políticos. Mesmo que se mantenham, de modo lato, à esquerda, estão menos aptos para interagir com outras pessoas.
Há uma sobreposição entre a saúde mental e a questão política. Quase todas as pesquisas dizem que a falta de interação social, muitas vezes alimentada pelo consumo excessivo da internet, é ruim tanto para a saúde mental quanto para a capacidade de praticar a democracia num sentido amplo.
S.S.L.— Provavelmente é verdade que as pessoas podem tornar-se um pouco mais radicais nas suas opiniões quando ficam online por muito tempo. E isso talvez não se deva ao facto de estarem a navegar, mas à interação com outras pessoas online. E é esse pequeno aspeto de partilhar e conversar com novas pessoas que as move um pouco, porque, como explico em detalhe no meu livro, são as suas relações e as suas ações que o mudam. Mas as grandes mudanças na vida das pessoas ainda parecem vir sobretudo das suas experiências offline. É quase como se tivéssemos dois grandes determinantes das nossas opiniões políticas: as nossas próprias ações e experiências, e as nossas relações com outras pessoas. E são tão profundos que tudo o resto é como uma pequena oscilação na balança.
Sabes, eu acho que quando as pessoas vêm ter comigo e dizem: “Tudo bem, mas e se isto acontecer? E se aquilo acontecer?”, elas estão a perder o foco, que é dizer: “Claro, um argumento realmente bom, um estudo de caso realmente bom, uma história realmente boa, como esses, podem afetar um pouco as pessoas, mas é preciso lembrar que existem essas grandes determinantes”. E, por essa razão, se quiseres mudar a mente das pessoas ou mudar as coisas politicamente, deves criar grandes ações para as pessoas se envolverem. Talvez haja uma pequena ação inicial — que funciona como desencadeadora. Eu li muito sobre ações iniciais para a pesquisa do meu livro. Mas uma ação inicial é algo como “vem comigo a uma manifestação”. Ou melhor ainda — e esta é a minha própria estratégia de organização — é dizer algo como “preciso da tua ajuda”. Porque preciso mesmo, não é desonesto. E ativa a parte do cérebro, tanto para mim quanto para a outra pessoa, que tem a ver com a agência. Não estou a dizer: “Anda comprar isto comigo”, estou a dizer: “Precisamos de pensar juntos. Preciso de ti”.
“Não somos nós que temos a ideia, a ideia é que nos tem a nós. As ideias influenciam a maneira como agimos, a toda a hora.”
S.S.L.— Em primeiro lugar, sim, penso que as pessoas acham muito fácil imaginar que as ideias políticas são bens de consumo, porque vivemos num mundo onde a maioria das coisas são bens de consumo. Mas o que eu tento sempre lembrar ao meu público é que as ideias são muito diferentes das mercadorias, e isso é particularmente verdade para crenças pessoais profundas. Talvez isso seja verdade no que toca a ideias simples, como uma estratégia para reparar o telhado — poderás ter uma sugestão de como reparar o telhado, e eu tenho outra, e talvez possamos escolher a melhor entre as duas, como se fosse uma mercadoria. Mas para opiniões políticas, é completamente diferente. A forma como eu explico isso às pessoas é dizendo que não somos nós que temos a ideia, a ideia é que nos tem a nós. As ideias influenciam a maneira como agimos, a toda a hora.
Posso usar o feminismo como exemplo; o feminismo moldou tanto a minha vida que me conquistou. Fez-me tomar várias decisões importantes na vida e mudou-me. E eu não sou como um corpo externo que olha para esse movimento e pensa: “Hmm, sim, ótima ideia”. Não é isso que está a acontecer. O que está a acontecer é que isso está a afetar-me. É uma espécie de refutação filosófica a esta ideia. Acho que pode ser um pouco assustador pensar nisso, mas também é muito importante sermos realistas e fazermos algo proativo.
S.S.L.— Uma das coisas sobre as quais escrevo no livro é que quando se analisa o que as manifestações fazem ao longo do tempo — tal como nos debates, há muitos dados — vemos que não mudam a opinião do público. O que faz sentido. Na verdade, quando se vê um protesto com o qual se discorda vagamente, quais são as hipóteses de esse protesto nos mudar? São mínimas. Os protestos têm algum relevo, mas sobretudo quando estão a acontecer; o que faz sentido, porque o ciclo noticioso é incrivelmente rápido. Se concordares com o protesto vais pensar sobre isso durante mais do que uma semana, mas é só isso. E normalmente também não mudam a ideia dos governos, porque interpretam a maioria dos protestos como sendo apenas a oposição a fazer barulho. Então, se és um político, pensas: “Eu já tenho as minhas razões para fazer o que vou fazer, muitas vezes porque os meus amigos precisam de dinheiro e eu quero receber uma parte. Essas pessoas são apenas a oposição. Não me importo com o que elas pensam. Já tentaram tirar-me do lugar e não conseguiram”.
Então, acho que há um realismo nesta ideia. Mas outra coisa interessante é que apesar de não mudar a mente do público, nem mudar as posições do governo, pode mudar de facto os manifestantes. As pessoas que se envolvem na cultura das manifestações mudam muito, e há pesquisas sociológicas incríveis e muito engraçadas sobre isso. Se olharmos para duas pessoas que têm visões políticas relativamente semelhantes, mas uma delas junta-se realmente a um movimento de protesto— e isso é verdade especialmente quando olhamos para pessoas que poderiam ter-se juntado ao movimento de protesto, mas que estão um pouco distantes — com o tempo, torna-se uma pessoa muito diferente. Uma das principais coisas que vale a pena mencionar é que mantêm as suas convicções políticas com mais firmeza, porque são introduzidas numa infraestrutura, numa rede, em novas relações e ações que consolidam essas novas convicções. Além disso, também se tornam muito mais propensas a divorciar-se, muito menos propensas a ter filhos, mais propensas a frequentar pós-graduações — o que é uma péssima ideia — e assim por diante.
Mas há uma questão fundamental sobre agência. Estarei a dizer que somos todos impotentes e apenas vítimas do ambiente em que vivemos? Não é bem isso. Acho que há uma forma mais profunda de pensar sobre agência. Ou seja, uma vez que sabemos isso sobre nós mesmos, podemos entrar numa relação dialética com o ambiente e as relações que cultivamos nas nossas vidas. E a razão pela qual escrevo sobre por que o debate não funciona e por que os argumentos não funcionam é porque odeio ambos, mas também porque quero que as pessoas tenham agência e acho que estas são as grandes distrações. Acho que temos muito mais poder de ação se construirmos um mundo social onde estejamos mais profundamente envolvidos numa causa que nos interessa, e onde outras pessoas possam participar. Essa é uma forma de agência. Debater com as pessoas não é uma forma de agência, mesmo que pareça ser. Acho que temos de olhar melhor para as formas de agência.
S.S.L. — Foi por isso que escrevi o livro, e escrevi-o basicamente para qualquer pessoa que esteja na metade esquerda do espectro político. Sei que, de certa forma, as minhas opiniões políticas estão fora da Janela de Overton, acredito em coisas estranhas como a abolição da família e não espero que alguém que leia o livro passe a acreditar nisso. Mas se alguém é, de modo geral, a favor de estruturas relativamente democráticas, de não destruir o clima e de não praticar racismo, gostaria que lesse o livro e fizesse algo mais eficaz. Muitas pessoas vêm até mim e dizem: “Li partes do livro e estou com medo, porque acho que estás a dizer que a liberdade de expressão não importa”. E isso é totalmente errado. A questão é que as coisas que parecem liberdade de expressão podem fazer-te perder tempo. E se realmente acreditas numa causa que merece atenção, tempo e esforço, então deves investir esse tempo e esforço de maneiras que realmente funcionem.
S.S.L.— Eu acho que a democracia é mais algo que fazemos do que em que pensamos, na forma como habitualmente conceptualizamos o fazer e o pensar. Na verdade, acho que fazer é pensar. Nesse sentido, sou muito parecida com John Dewey. Não é que eu me baseie nele, mas simplesmente concordo com ele nisto. Acho que, como as ideias nos possuem, não conseguimos compreender realmente uma ideia até termos feito algo dentro dessa ideia. E acho que muitas coisas na vida são assim. É engraçado que as pessoas não reconheçam isso.
Muitas pessoas pensam que podem ser políticas se ficarem sentadas na sua cadeira a pensar sobre política. No entanto, com as coisas mais importantes das nossas vidas, sabemos que isso não é verdade. Se eu dissesse que estou realmente comprometido com a minha família, ou com um parceiro romântico, que fiquei sentado a pensar muito sobre eles, dirias: “Ok, mas ajudaste-os? Passaste tempo com eles?” A questão é que essas experiências são importantes — o amor é uma experiência importante —, temos de as viver por dentro. Ter a experiência e depois fazer coisas. E na política, é a mesma coisa. Não há razão para ser diferente. Não é uma composição abstrata. É algo que se faz porque a política tem a ver com relações de poder, e só percebemos essas relações de poder ao envolvermo-nos com elas. Por isso, não acho que a literacia seja o primeiro ponto por onde começaria. Quer dizer, obviamente que quero que as pessoas leiam, consumam e reflitam sobre o que estão a consumir, mas acho que a verdadeira questão é: o que é que vais fazer?
Outro problema que é difícil de transmitir é que não se pode realmente fazer as coisas sozinho. E a maior parte da nossa escrita e cultura é, na verdade, dirigida a indivíduos. Se lermos a secção de artigos de opinião, são quase sempre individuais. Enquanto que a maioria das coisas políticas precisam de ser feitas em grupo. E é por isso que escrevo sobre atrofia social. É como se a política não fosse um esforço individual. Sim, pode-se votar individualmente, mas essa é a pior forma de ação política, em alguns aspetos. O que é preciso fazer realmente é conseguir que todos numa empresa se sindicalizem, fazer com que todos na vizinhança se importem com uma questão, ou fazer com que um monte de gente online saia de uma plataforma. São gestos coletivos. O ênfase no pensamento abstrato sem ação parece-me totalmente equivocado e parece-me servir os interesses daqueles que estão no poder.
“Acho que é muito importante pensar no nosso papel como seres humanos na sociedade, não apenas como consumidores passivos, ou mesmo como alguém que é justo com as pessoas, mas olhando para o mundo e dizendo: ‘Uau, isso está errado. Vamos mudar.'”
S.S.L.— Sim, obviamente, cada sindicato pode tornar-se a sua própria patologia, mas eu sou a favor dos sindicatos em geral. Dou um exemplo no livro sobre sindicatos de consumidores ou cooperativas de alimentação, onde as pessoas podem comprar em grandes quantidades e depois baixar o custo de vida numa altura de crise. O princípio é bom em si mesmo, obviamente quero que as pessoas tenham uma vida mais fácil, mas também acho que é importante construir algo como uma cooperativa alimentar, pelos passos e ações envolvidas. Pelo andar entre os vizinhos, que talvez não se conheça muito bem, a perguntar: “Queres pressionar os produtores de alimentos a dar-nos comida mais barata ou contornar muitos dos intermediários que fazem a comida ser cara? A nossa ação colectiva pode ser poderosa”. É muito simples, basta dizer: “Compramos cebolas em grandes quantidades e dividimos e isso torna mais barato”; parece-me algo fazível. E é uma forma de organização. Mas o mais importante é que, no processo se adquirem todas as capacidades necessárias para todas as outras coisas, e cria-se uma unidade. Pratica-se algo que, honestamente, estou cada vez mais convencida de que é o principal obstáculo para as pessoas se organizarem. A maioria das pessoas não quer fazer isso porque vai ter que passar por aquele momento constrangedor de tocar à campainha.
Quando converso com ativistas, é claro que eles apresentam todas as razões complicadas pelas quais estão um pouco preocupados em se organizar. Mas acho que a principal ansiedade deles é tocar à campainha. Eles ficam tipo: “Estou com medo. E se o meu vizinho abrir a porta e ficar irritado por eu estar lá?” E talvez seja só porque sou judia americana bolchevique, talvez seja só a minha personalidade, mas acho que essa é a pior razão para não tentar mudar o mundo. Eu entendo perfeitamente. Mas é a coisa mais importante para superarmos. Temos que ser capazes de chegar à porta e carregar no botão. E sim, sabes que mais? Uma em cada cinco pessoas vai ficar realmente irritada. É a tua obrigação no planeta Terra organizares-te. Não faz mal. E sabes de outra coisa? Três dessas cinco pessoas vão dizer: “Que bom ver-te. Nunca precisei de falar com os meus vizinhos. E, na verdade, está muito caro para mim viver agora. E, já agora, deixa-me contar-te sobre o meu chefe, que é péssimo”. É muito importante que as pessoas sejam capazes de lidar com esse primeiro momento de risco.
A minha sugestão sincera é que vão formar algo como um sindicato. Talvez seja um sindicato de consumidores, um sindicato dos sindicatos ou um clube para os jovens, há muitas variantes, obviamente. Mas façam-no como uma peça a partir da qual se possam organizar e fazer coisas cada vez mais poderosas. Até, quem sabe, criar um partido político. Eu não sou muito da democracia representativa, mas há muitas formas de partidos. E ao organizares-te tens as capacidades, e essas capacidades passam por fazer as coisas… até que, um dia, carregas na campainha e pensas: “Bem, sei o que tenho a fazer”.
S.S.L.— Acho que sim, dentro do razoável. Não quero organizar nada com racistas, isso é uma violação de valores fundamentais. Mas penso muito na organização de ajuda mútua que fiz durante a pandemia de COVID-19. Durante algum tempo, éramos muitos a fazer o trabalho, e depois a maioria das pessoas desistiu. E seria fácil dizer que, as pessoas que desistiram, fizeram-no porque estavam ocupadas, mas eu não acredito nisso, francamente. Da mesma forma que não acredito quando as pessoas me dizem: “Oh, eu não quero postar no TikTok porque estou preocupado com…”. Geralmente, há um motivo. E o motivo é ou o constrangimento social ou, em algum nível, a causa ainda não se encaixar na concepção do que é mais importante na vida, porque se fosse o mais importante na vida dessas pessoas, elas assumiriam o risco social, fariam o esforço e lidariam com o inconveniente.
Reparei que as pessoas que permaneceram na organização de ajuda mútua e que ainda hoje, seis anos depois, continuam a fazê-lo, estão honestamente envolvidas no que eu poderia chamar, de forma divertida, de religião, ou são literalmente religiosas. Algumas das pessoas do grupo de ajuda mútua que ainda o dirigem são cristãs, então, para elas, alimentar quem precisa é a coisa mais importante. Ou são ativistas de esquerda extremamente experientes que construíram toda a sua vida em torno disso, e é a coisa mais importante para elas. Ou, no meu caso, diria que é uma combinação bizarra de esquerda e um conjunto de valores quase religiosos.
Sou uma judia secular, diria. Vou à sinagoga. Não tenho a certeza se há algo lá em cima. Não faz mal. É a minha cultura. Mas acredito no conceito judaico de tikkun olam, a reparação do mundo. Gosto desta ideia. Acho que é muito importante pensar no nosso papel como seres humanos na sociedade, não apenas como consumidores passivos, ou mesmo como alguém que é justo com as pessoas, mas olhando para o mundo e dizendo: “Uau, isso está errado. Vamos mudar.” E, pessoalmente, sou a favor de consertar as partes que estão erradas perto de mim. Acho que a boa notícia é que o que estou a dizer aqui é que se conseguires encontrar outras pessoas que sejam incrivelmente motivadas, mesmo que discordem sobre algo como se o Messias é Jesus, pode ser bom para algumas coisas. Não é bom para tudo, provavelmente não vai funcionar se quiseres começar uma vanguarda marxista. Se quiseres alimentar pessoas, os cristãos podem ser uma boa opção, na verdade. Depende dos cristãos, se eles forem muito transfóbicos, estás lixado, mas se só estiverem lá na sexta-feira de manhã para abastecer os armários, ótimo, e eu acho que é pode ser importante que as pessoas possam ser motivadas dessa forma.
O João Gabriel Ribeiro é co-fundador e editor do Shifter. É auto-didacta obsessivo e procura as raízes de temas de interesse como design, tecnologia e novos media.
Ver todos os artigosApoia a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.
Outros artigos de que podes gostar: