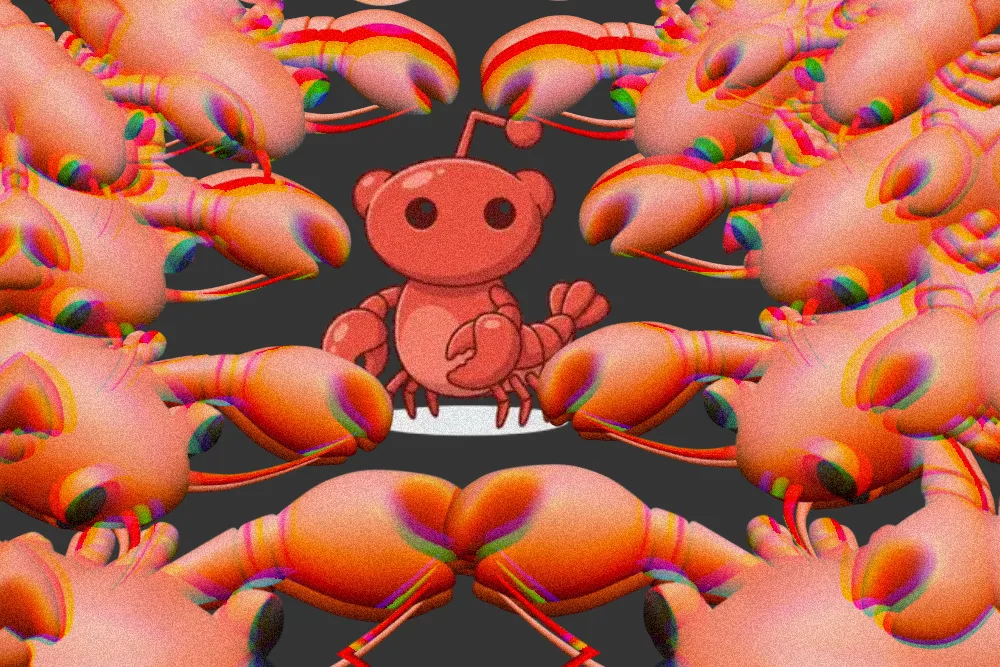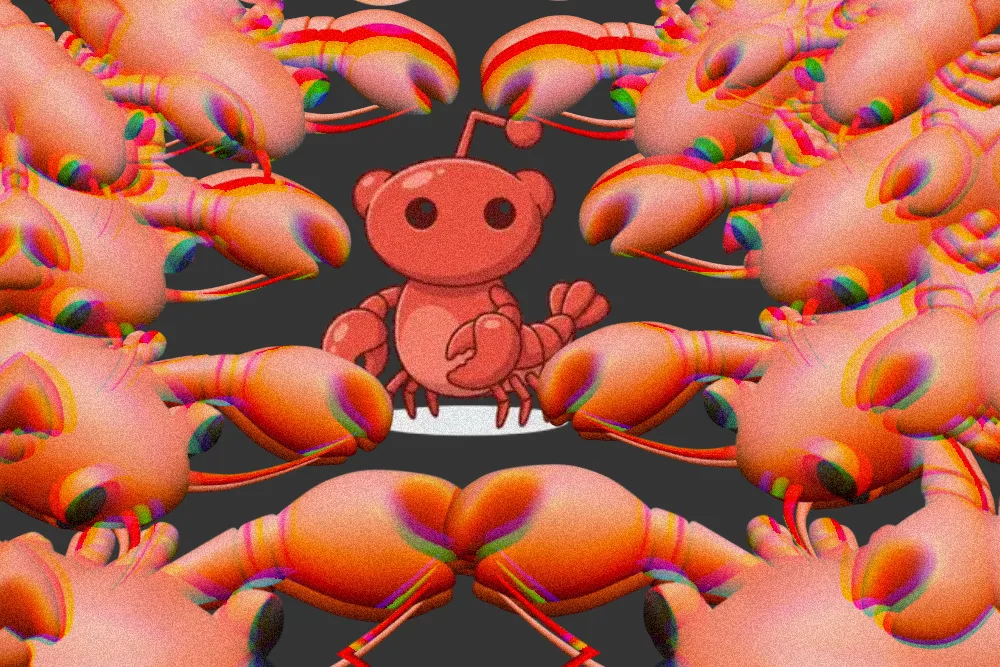

No prólogo da reedição de Sexografías, a escritora argentina Camila Sosa Villada define Gabriela Wiener como “a mulher que não foi domesticada por completo”. E tem razão. Que maneira mais precisa de falar dela. Ler Gabriela Wiener, conversar com ela, é sentir que estamos diante de alguém que entende a vida a partir da experiência, que não tem medo de sujar as mãos. Como disse a escritora brasileira Amara Moira no colóquio na Casa do Comum, Gabriela Wiener escolhe sempre experimentar a vida.
Dirijo-me com receio de chegar atrasada ao hotel Casa de São Mamede, onde às 14 horas tenho uma entrevista marcada com a escritora peruana. Wiener está em Portugal porque participa no Fólio, o Festival Literário Internacional de Óbidos, a propósito da apresentação dos livros Sexografias e Retrato Huaco, agora editados em Portugal pela Antígona. São 13h57 quando chego ao hotel e me sento num sofá à espera que Gabriela regresse de comer algo rápido.
O desejo, escrever a partir do corpo, a família, verdades e mentiras… Começo a rever as perguntas que quero fazer-lhe. Aquela frase de Retrato Huaco que me persegue desde que a li. O poliamor? Não, que preguiça. Ter 45 minutos para fazer perguntas a Gabriela Wiener não é algo que aconteça todos os dias. Sinto-me estranhamente tranquila.
Recebe-me com um sorriso e sentamo-nos no sofá. Gabriela Wiener é irónica, inteligentíssima. Dá-me respostas longas, conta-me histórias. Nota-se que é uma grande cronista, que veio à vida para se manchar.
Shifter (S.) — Como te sentes ao confrontar-te com livros que escreveste há alguns anos? Muda algo na tua relação com eles? Digo-o especialmente no caso de Sexografías, que publicaste em 2008.
Gabriela Wiener (G.W.) — Para mim é importante que os meus livros façam parte deste momento que se está a prolongar — ainda que pareça que também está prestes a acabar —, em que nós, mulheres e pessoas dissidentes, começámos a ter voz e a falar do direito ao nosso próprio relato. Na época em que publiquei Sexografías, em 2008, não aspirava a estar no mainstream; estava em editoras independentes, até microeditoras.
Agora, quando volto ao livro, deparo-me com a questão de saber se o texto envelheceu, e percebo que foi escrito com a vocação de perdurar, de se manter atual. Foram histórias que escrevi imbuída no jornalismo literário, no jornalismo gonzo, no grande jornalismo das Américas em geral — de norte a sul —, de uma não ficção muito poderosa. Para mim era importante rever certas coisas em que tinha incorrido, como a gordofobia, por exemplo. Quando Sexografías foi publicado, há quase vinte anos, essas coisas escapavam-me, e agora também me coube fazer uma certa purga.
Tentei cuidar da edição, melhorá-la. Neste caso, alterei alguns textos que sim, tinham envelhecido — sobretudo os mais breves, os mais jornalísticos. Incluir o prólogo de Camila Sosa Villada foi muito interessante, sobretudo porque ela leu o livro e contou, por exemplo, como uma crónica a interpelava a partir da sua experiência como mulher trans. Trata-se de uma história escrita nos primórdios das discussões sobre as identidades: nesse momento, a linguagem inclusiva nem sequer era tema. Não há um elu; no livro aparecem ela e ele. Esse jogo, contudo, acaba por ser muito contemporâneo, porque fala da fluidez das experiências, das práticas e das identidades. E isso é, justamente, o que me parece mais interessante no movimento queer.
“No meu país, as narradoras foram totalmente ignoradas e esmagadas pelas potências narrativas dos nossos prémios Nobel”
S. — Nos teus livros, o desejo é observado a partir de lugares dissidentes: o migrante, o queer, o anticolonial, os corpos que desafiam a norma. Onde situas hoje o desejo na tua escrita e por que é um eixo tão importante para ti?
G.W. — Para mim, o tema do corpo e do desejo é central. Sempre pratiquei uma escrita a partir do corpo, uma escrita situada. O corpo fala. É uma escrita da experiência, que a reivindica. Tudo isto antes eram motivos para menosprezar esse tipo de escrita, considerada não literária, apenas feminina, erótica ou ativista. Há muitas etiquetas que o patriarcado literário inventa para não nos deixar entrar no clube dos eleitos.
Para mim foi algo muito natural. Hoje entendemos este tipo de literaturas, temos nomes para as designar: anticolonial, corpo e território… mas para mim foi simplesmente escrever dando continuidade ao que tinha sido a minha escrita poética. Tinha lido sobretudo escritoras mulheres, e foi aí que comecei a encontrar espelhos nos quais queria ver-me e com os quais me liguei profundamente.
No meu país, as narradoras foram totalmente ignoradas e esmagadas pelas potências narrativas dos nossos prémios Nobel, etc. E, no entanto, as poetas, como pequenas flores que crescem no asfalto, mantiveram-se ali: frágeis, mas ferozes; selvagens, mas também muito sofisticadas. María Emilia Cornejo, Blanca Varela, Carmen Ollé foram poetas de grande referência para nós, as escritoras cujo legado continuamos. Eram escritoras do corpo e do desejo, mas também da dor, dos lutos.
Quando comecei a escrever, comecei por imitá-las, e foi uma forma de recuperar a genealogia, as leituras e de me ligar a tradições que já existiam.
“O meu projeto de escrita tem a ver comigo mesma, com contar-me a mim mesma e contar os outros”
S. — No teu caso, escrever a partir do corpo é literal. Como viveste essa exposição que implica colocar o teu corpo e a tua experiência no centro?
G.W. — O facto de poder escrever sobre mim, a partir de mim, era algo muito mal visto. A academia jornalística aplaudia os cronistas que escreviam a partir de um lugar distante, que nunca se metiam na cena porque isso seria “distorcer a realidade”. Eu metia-me; eu queria meter-me. O meu projeto de escrita tem a ver comigo mesma, com contar-me a mim mesma e contar os outros.
Ao despir as pessoas, começava primeiro por despir-me a mim mesma, e essa é a essência de Sexografías. No entanto, o facto de eu ser uma mulher e não uma sexóloga surpreendia. As pessoas diziam: “Que fale o especialista”, “de sexo fala a especialista”, “quem és tu para falar de sexo?”. Além disso, diziam-me: “És feia, como é que vais foder?”, ou “Inventaste que fodeste com o Nacho Vidal”.
Eu era uma mulher assim como me vês: sudaca1, morena, chola2, bissexual, precária, migrante. E estava a contar histórias inesperadas para alguém como eu. Esse sujeito, no fim, é um sujeito político muito carregado, porque se aproximava de certas histórias a partir de um feminismo incipiente.
Tudo eram intuições. Não é um livro escrito a partir da segurança ou da teoria, é um livro que se lê como antiprofissional, a partir da inocência, de um lugar intuitivo. Para mim foi dizer: O sexo é muito mais importante do que as pessoas pensam. Por isso coloquei-o ali, na primeira fila.
S.— Retrato Huaco tem uma frase que me persegue desde que a li pela primeira vez: “A teoria sei-a, mas como é que a meto no corpo?”. Devolvo-te a pergunta. Como se faz? É possível? Como habitas tu a contradição?
G.W.— Creio que, no meio dos movimentos antipatriarcais e dos feminismos diversos, tem sido muito importante a corrente que introduziu a ideia de que, a certo ponto, temos de abraçar as nossas contradições, porque isto não dá para mais. O outro caminho é o da hierarquia, da rigidez, do cartão que te legitima como antirracista ou feminista; a pureza ideológica, julgar as outras a partir de uma prática política perfeita, enquanto tu estás sempre a fazer merda.
É importante dizer que estamos sempre a fazer merda. Estamos constantemente a errar. Acho que esse lugar é muito literário: o lugar das contradições, sobretudo a partir dos meus próprios desencantos com as lutas em que participava, ou que eram minhas e, de repente, abria-se uma brecha e não conseguíamos. É muito importante falar de tudo o que tentámos, mais do que daquilo que conseguimos.
E, bem, a teoria, pelo menos, sei-a — isso é importante. Tive de experimentá-la e tentei pôr-me em linha com ela. Também, nas minhas crónicas e em Retrato Huaco, o humor vem primeiro: o não me levar demasiado a sério, até um pouco o autoescárnio, a crítica, a ironia. Tudo isso está ali como ferramenta para contar e para transmitir a minha mensagem.
As minhas histórias falam de indivíduos como nós, que estamos a militar e que encarnamos as nossas lutas, mas que, no processo, descobrimos as limitações: Até onde queríamos chegar e até onde realmente podemos chegar. Acho que tratar isso a partir de uma posição mais humana, a partir da compreensão de que erramos, é importante, porque aí também se gera a ternura. Geram-se outras mensagens, outras formas de comunicar e de nos olharmos.
Por exemplo, o meu livro Qué locura enamorarme yo de ti, a peça de teatro, é lido por pessoas poliamorosas, muito mais bem-sucedidas do que eu no poliamor, e, no entanto, encontram ali coisas que lhes ressoam e as guiam nas suas experiências e nas suas vidas. Para mim, escrever também é uma forma de nos encontrarmos com as outras nesse lugar tão íntimo que é a leitura. Aí acontece a magia.
A questão das contradições interpela-me muito, embora também pense que tem um limite. A certo ponto pode tornar-se uma desculpa para não sermos melhores. Tomo-a de uma forma diferente na vida: creio que literariamente é explorável, mas também penso que é preciso assumir responsabilidades, ter claras as ideias e ser consequentes com elas.
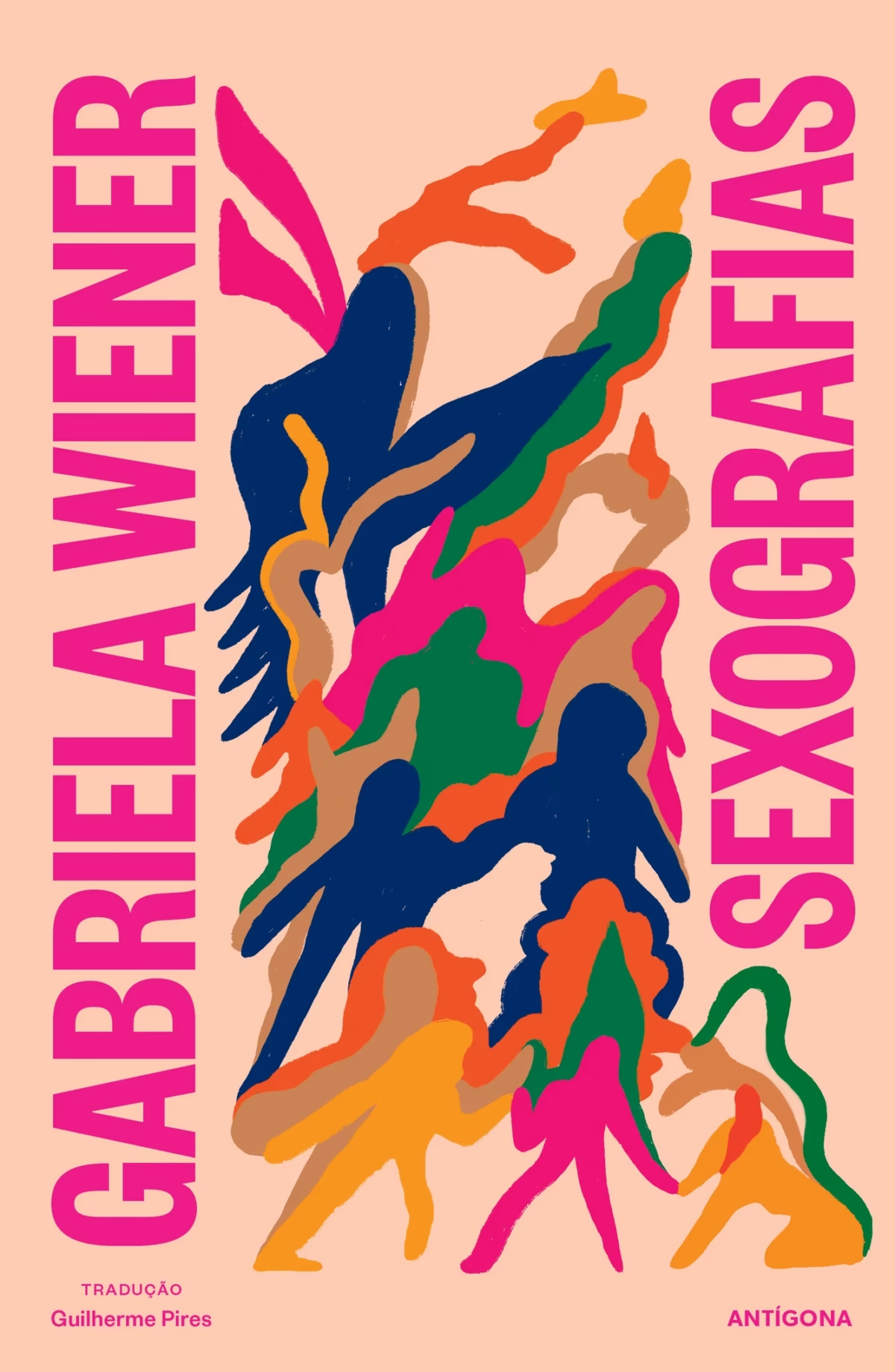
S.— É também interessante essa ideia sobre ser bem-sucedida ou falhar em algo, como dizias sobre o poliamor. Parece que aí se abre algo mais amplo: uma forma diferente de olhar o desejo, o feminismo, os corpos. De alguma forma, Sexografías já anunciava essa tua maneira de viver e escrever a partir desses lugares.
G.W. — Lembra-te de não me colocar como poliamorosa atualmente [risos]. Assumir uma prática não monogâmica vem de há muito tempo, e, de facto, Sexografias é um livro que conta histórias em que me envolvo, porque eu, ao contrário desses jornalistas de que te falava no início, tinha muito a ver com esses universos nos quais me infiltrava.
Quanto de mim havia nesses polígamos, que primeiro olhava com superioridade (como feminista que nunca se prenderia a um homem), e como acabei por babar por esse modo de vida, sonhando em ter um deus, um guru e quatro amigas com quem se deitar e fazer orgias? De repente, isso torna-se um modelo que me interessa, e explica o meu futuro imediato no poliamor.
Em Sexografías já me posicionava nesses lugares transfeministas, antinormativos, antiputofóbicos, anticapacitistas. Essas coisas que antes não eram nomeadas como algo tão militante estão contadas no livro de forma quotidiana e com respeito por quem tem as suas próprias visões sobre sexo e sobre a vida, por corpos que não seguem os mandatos que conhecemos. Isso já estava lá, e pode-se fazer uma ligação com a escritora que sou hoje.
Também está a visão de uma mulher que, na teoria que mais tarde aprenderia — embora nem sempre se possa pôr no corpo —, já tinha um evidente antirracismo. Nós,as pessoas não brancas, só por nos situarmos e contarmos a nossa experiência, acabamos por fazer um exercício político muito forte de interpelação a um sistema que é, acima de tudo, branco, também na sexualidade.
Hoje parece muito natural dizer “o queer não te tira o racismo” ou “a classe operária não é a mesma se é nativa ou estrangeira”, mas há uns anos não era assim, e custava aplicar o filtro do antirracismo. Nessas crónicas isso já existia, embora não como pedagogia. É uma voz que simplesmente não existia.
“Assim como nos tem custado muito falar sobre abuso sexual dentro das famílias, também o tema da violência racista e da violência colonial dentro das famílias é algo que não se aborda”
S.— Interessa-me falar sobre a ideia de família. Em Retrato Huaco, a família aparece como uma rede de heranças, silêncios e dívidas coloniais. Em Sexografías, pelo contrário, a família expande-se através do desejo e da experimentação. Como mudou a tua forma de pensar a família entre esses dois livros?
G.W.— Em Sexografías, a família é a família não tradicional, e está questionada desde o início. Além disso, aparece esta ideia de família escolhida, que tem a ver com a tua tribo, e isso liga-se depois à família de Retrato Huaco.
Em Retrato Huaco, a família está identificada com esse personagem colonial, um lugar muito questionável para a Gabriela do livro, que entra aí para disputar a versão oficial e perguntar-lhes porque acreditam nesse personagem se ele é racista, etc. Ela dedica-se a demolir o patriarca, e isso não é bem recebido.
Toda a reflexão de Retrato Huaco gira em torno dessa ideia de família aparentemente muito bem estruturada, sustentada, que vem de um pai originário, fundador. Tudo é mentira. Ela abre uma fissura e tudo cai. É uma família sustentada numa estirpe bastarda, onde as mulheres não estavam contadas, onde as avós estavam apagadas, onde havia hierarquias por serem mais ou menos brancas, com um racismo interiorizado muito forte.
Assim como nos tem custado muito falar sobre abuso sexual dentro das famílias, também o tema da violência racista e da violência colonial dentro das famílias é algo que não se aborda, que não se reconhece. O livro abre a múmia familiar e conta-a: conta essa vergonha, o que tem estado escondido. Questiona-se onde se colocou o foco nas famílias e o que desapareceu, sempre por uma cumplicidade com o poder, por se acomodarem em hierarquias raciais ou de classe.
Para mim era importante desarmar a ficção familiar e social. Ao mesmo tempo, aparece de forma um pouco idealizada e utópica a família que a protagonista construiu: Uma tríade, com o messias do poliamor a aparecer, a criança que nasce.
Por um lado estão as contradições — já falámos que nem tudo é como sonhamos —, mas há algo que se resolve e tem a ver com o bastardo, com as origens, com o sangue. Precisamente essa ficção, aquilo que esse grupo de pessoas inventa como família — que talvez já não se chame assim, mas núcleo, comunidade — é um espaço seguro. Esse bendito e inventadíssimo espaço seguro que nunca o é totalmente, porque na realidade é impossível ter um espaço completamente seguro. Mas o que mais se aproxima do teu refúgio é aquilo que inventas para neutralizar as violências que vêm de quem supostamente deveria proteger-te: um Estado, uma família, um pai.
Creio que isto se resolve com o tema de Amaru. Ele também, como o Wiener de há cem anos, nasceu fora do casamento, é um bastardo, mas está mais dentro do que ninguém nessa família. E o apelido do qual a protagonista quer libertar-se — porque não a representa, porque não tem nada a ver com a sua cara índia, porque é um apelido eurobranco que renega — finalmente acaba a torna-se o segundo nome de Amaru. Esse apelido começa a ter um sentido diferente: mais como nome, de identificação, de vínculo, um que a lei não ampara.
Esse nome, Wiener, é finalmente o meu vínculo com o meu filho, ao qual não me une o biológico nem o legal, porque a lei nos dá as costas. E, no entanto, consegui introduzir o meu apelido aí, e isso une-nos. Chamamo-nos igual. Conseguimos criar uma pequena fissura no sistema.
Apoia a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.
Outros artigos de que podes gostar: