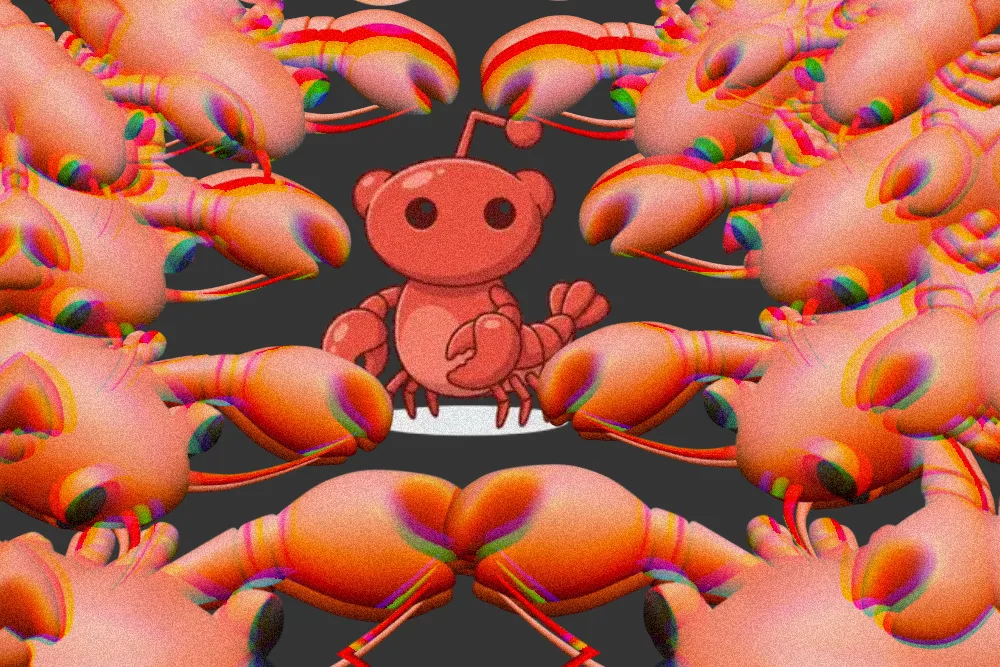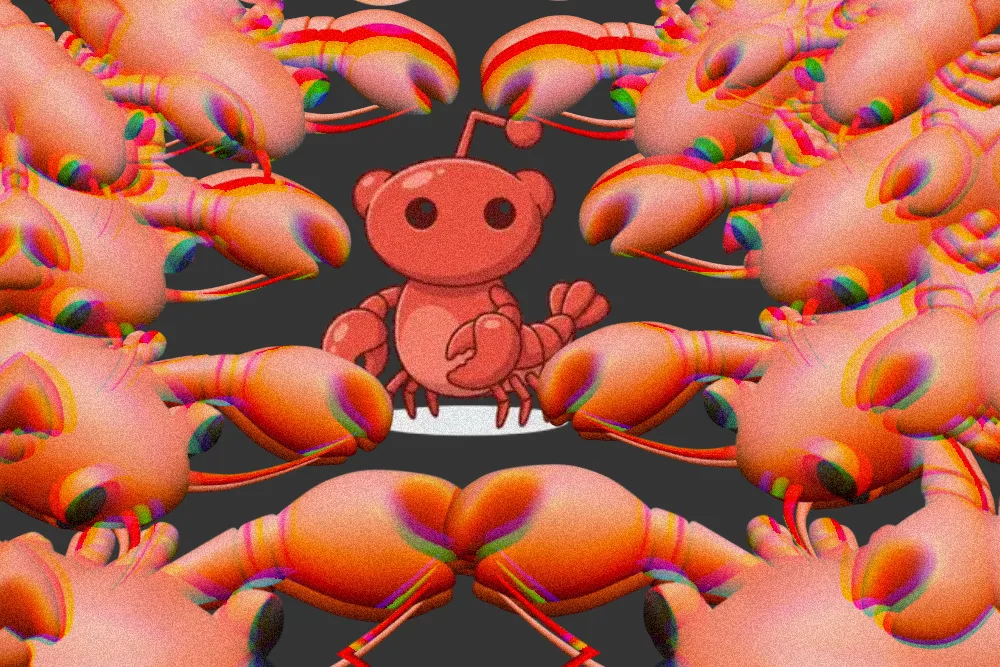

Era domingo e o ensaio começava às 10h00, mais coisa menos coisa. Tem sido sempre assim nos últimos tempos. Aos sábados e aos domingos, todas as semanas, têm-se juntado para ensaiar as músicas do EP que lançaram recentemente e compor as do disco que ainda está por vir. Entre os prédios amarelos do Bairro do Fim do Mundo, vê-se um grande mural de Camaron de La Isla, figura ímpar do flamenco em Espanha e no mundo. Mas não era bem aí, a sala fica “mais a baixo” — diria Ari Monteiro por chamada. Ao chegar ao destino, ouve-se o verso: “o tempo não volta”. À medida que os restantes membros da banda vão chegando, Ari Monteiro vai-lhes passando o tom, pela voz e a guitarra.
Rui Marques, Ari Monteiro, Ângelo Vasques, Moisés Montoya, Hugo Fernandes e Ângelo Quintino (BA) são La Família Gitana. O nome não é meramente simbólico: são mesmo família. Todos eles são “ciganos de Portugal e do Estoril”, como cantam em “A Minha Terra”, e cresceram ali no bairro. E à medida que iam crescendo, tocavam e cantavam juntos sem qualquer tipo de pretensão de um dia pisar um palco. A música está-lhes no sangue, precisam dela como de ar para viver. “Quando temos tempos livres vamos para a rua ou onde quer que seja tocar, brincar e pandigar”, explica BA, que toca cajon. Quando eram mais novos, iam para a praia de guitarra às costas e garantiam que não havia um serão aborrecido. Continuam a fazê-lo, já adultos, mas a vida encarregou-se de os levar para além do Bairro do Fim do Mundo e do Estoril.
As emoções ainda ficam à flor da pele quando se lembram do concerto que deram há semanas no Musicbox onde puderam apresentar Doriav Kali, o seu primeiro EP. “É o nosso primeiro trabalho completo e que nos apresenta ao mundo. A estreia foi naquele sítio emblemático, e estar lá com os meus primos, os meus amigos de vida, a apresentar a minha cultura e a minha música… eu sei que não é todos os dias que acontece isso lá.” Na plateia estavam desconhecidos e familiares — e era a estes últimos que mais queriam agradar. Foi graças a eles que sempre tiveram música a entrar pela casa adentro, foi com eles que alguns aprenderam a tocar instrumentos musicais e são eles que muitas vezes servem de inspiração para as canções que escrevem. Na verdade, os pais de alguns membros da banda tiveram, também uma banda, os Soul Gipsy. O pai de Ari Monteiro era um deles, e o filho conta que davam concertos por todo o lado; mas eram outros tempos.
A presença de músicos ciganos nunca se tornou recorrente nos canais mainstream, como mostra a excepção de Nininho Vaz Maia, hoje jurado de um programa de um concurso nesse mesmo canal.
Não é que não existissem músicos ciganos. Há, aliás, um momento televisivo que se tornou histórico, na RTP, em que o músico Areno canta para Amália Rodrigues, que faz questão de o reconhecer enquanto artista de qualidade na televisão nacional. Mas a presença de músicos ciganos nunca se tornou recorrente nos canais mainstream, como mostra a excepção de Nininho Vaz Maia, hoje jurado de um programa de um concurso nesse mesmo canal. No Bairro do Fim do Mundo, a presença deles nunca faltou; tanto Areno como Xano são “referências” cujo legado a Família Gitana não quer que se apague. Foi com as músicas deles, bem como as do espanhol Camarón de La Isla e de outros tantos músicos, que a banda sonora da sua vida se foi compondo.
“O Ari cresceu a ouvir o Camarón, eu particularmente cresci a ver o meu pai tocar. Eu comecei a tocar com três anos, tenho vídeos do casamento da minha irmã mais velha em que estou a tocar e penso: ‘mas como é que eu fui lá parar?’ Via e vejo o meu pai a tocar, e ele era e é uma referência. Hoje, acho que ele sente orgulho porque o caminho que eu estou a fazer é o caminho que ele queria ter feito. Ele vê o seu filho mais novo a querer levar os dons que apanhou dele”, partilha Moisés Montoya, teclista.
Tornou-se um lugar comum dizer que a música que se faz atualmente, sobretudo a música pop, soa sempre ao mesmo. Mas não é só um lugar comum, há estudos que têm mostrado alguma evidência: em 2012, um grupo de académicos do Conselho Superior de Investigações Científicas, em Espanha, mediu a evolução da música popular ocidental com base em músicas entre 1955 e 2010, e na altura mostrava que a combinação de notas se tinha tornada cada vez menos diversa. Em 2015, um novo estudo divulgado na revista MIC, desenvolvido na Universidade de Medicina de Viena, mostrava que “a simplicidade era o ingrediente secreto para vender em todos os géneros musicais”.
As músicas que vendem, e que estão muitas vezes bem posicionadas nos rankings das mais ouvidas, podem soar parecidas a uma maioria, mas não representam toda a produção musical da contemporaneidade. Tal como acontece com Nininho Vaz Maia, há mais músicos a levar outras sonoridades para o panorama mainstream. As gémeas Yeri e Yeni não têm dúvidas disso: “Acho que foi a partir do momento em que vimos o Dino [D’Santiago] ser reconhecido e a música de Cabo Verde a aparecer nas rádios, nos media, as pessoas a gostarem e a sentirem-se tocadas, começámos a tentar perceber quais eram os nossos gostos, porque eram muito eurocêntricos”— conta Yeni.
Na casa de Yeri e Yeni, irmãs gémeas, ouvia-se música cabo-verdiana e senegalesa. A mãe, cabo-verdiana natural de São Nicolau, passava mornas e batuques, mais tarde o padrasto acrescentou as referências do Senegal. Só que quando saíam de casa, o cenário mudava. Yeri diz que “eram duas bolhas completamente diferentes”. “Em casa era Cabo Verde e Senegal, e até Angola, mas quando saímos de casa era o global. Aliás, o kizomba não era uma cena fixe na escola, as meninas brancas que andavam connosco na escola não gostavam de kizomba, não queriam saber de kuduro, então fomos mais para as massas”. Esses gostos fomentados em casa eram “retraídos” entre as colegas que ouviam pop e R&B.
Enquanto Yeri fala, Yeni ouve-a e acena positivamente. E acrescenta que “assumir [o gosto por sonoridades cabo-verdianas] era ser posto de parte” então preferiam integrar-se. “Não era mau porque adoramos pop, mas ao mesmo tempo sentimos que a partir do momento em que começássemos a mostrar partes que trazemos dos nossos ascendentes, as relações não seriam as mesmas.” Até tudo mudar. A música que Yeri e Yeni fazem hoje vai à procura dessas raízes, com orgulho. Quando olham para trás, vêem que na verdade sempre fizeram parte de um ecossistema muito próprio, ao crescer em Mem Martins, na Linha de Sintra. Mesmo quando as companhias de escola e os media mainstream podiam convidar ao tal eurocentrismo e a uma certa homogeneização dos gostos, o caminho para casa mostrava-lhes pessoas, línguas e culturas que iam contra uma noção de cultura generalizada.
A música foi uma das formas de irem encontrando mais pedaços de si, imaginarem cenários e cheiros. Foi também graças à música que foram a Cabo Verde pela primeira vez, depois de uma vida a imaginar.
Começaram a escrever letras no 12.º ano, a maioria em inglês. Quando foram para a universidade, onde a diversidade não era a mesma das turmas que tinham tido até então em Mem Martins, começaram a questionar-se e a ter um encontro com a sua negritude. Tinham receio de escrever em português, parecia que lhes soava estranho, então antes de o fazerem decidiram voltar ao início de tudo: ouvir. Abriam o Spotify e procuravam Camilo Domingos, Jorge Neto, Cesária Évora, Bana. E deram por si a pensar: “Em que é que isto nos definiu até agora?”
Houve um dia em que Dino D’Santiago as apresentou ao guitarrista Djodje Almeida. Foi aí que tudo mudou. “A partir do momento em que o Djodje se sentou e conversou connosco, ele percebeu que sempre estivemos muito conectadas com a nossa cultura, e ele começou a fazer uma nova composição nas nossas músicas. Acho que só uma ou duas [músicas] é que não têm a composição do Djodje, ele foi mesmo muito importante para este reencontro com as nossas origens”, afirma Yeri.
A música foi uma das formas de irem encontrando mais pedaços de si, imaginarem cenários e cheiros. Foi também graças à música que foram a Cabo Verde pela primeira vez, depois de uma vida a imaginar. Aliás, foi uma das vozes que ouviam em casa que foi responsável por essa viagem: “Foi o Princezito que nos convidou, e é engraçado porque ele tem um crioulo diferente do da nossa mãe; o dela é sampadjudo, o dele é badiu. Graças a este convite, o Princezito acabou por nos mostrar um lado que não conhecíamos, que é a parte badia de Cabo Verde. Foi mesmo fixe chegar a um sítio e pensar: isto também é casa, e mesmo que não falássemos criolo, as pessoas abraçavam-nos como se tivéssemos nascido e vivido a vida toda lá”, recorda Yeni. Por lá tiveram oportunidade de se encontrar com outras referências como Karyna Gomes e Fattú Djakité.
A viagem foi transformadora, mas era preciso manter o diálogo com outras pessoas que criassem arte além do eurocentrismo e da branquitude. Encontraram esse lugar em Lisboa, num grupo criado pela artista Libra, que reúne sobretudo jovens artistas negros que se juntam “para produzir, criar e debater”. Para Yeni, juntarem-se a este grupo também representou um novo momento no percurso artístico das duas: “Vamos a debates, museus, ver filmes. Tudo o que nos alimente em termos de senso crítico, para percebermos quem nós somos aqui em Lisboa. Não esperávamos encontrar tantos artistas negros aqui em Lisboa que estivessem tão abertos a conhecer, a criar e a fazer tudo uns pelos outros”. É uma comunidade.
A criação de comunidades que se apoiem, entendam, partilhem referências e produzam em conjunto não é nova, mas tem sido importante entre a geração de jovens adultos que, tal como Yeri e Yeni, nem sempre se vê representada na cultura dominante. É também o caso da FONTE, “uma associação cultural focada na difusão de perspectivas negras e experiências quotidianas no contexto global africano”, que tem feito curadoria, programação cultural, rádio e que tem sido responsável por divulgar o trabalho artístico de jovens, e não tão jovens, artistas negros. Tanto em 2023 como em 2024, a FONTE participou na convenção do MIL para expandir o pensamento e partilhar práticas e ideias contra-coloniais.
Na edição de 2024, a oficina “Toques e Vibrações: Práticas e Processos Contra-Coloniais” levou XEXA, produtora, compositora, cantora e designer de som, a fazer uma espécie de masterclass em que viajou pelo seu percurso e mergulhou em alguns projetos em particular. A plateia estava cheia. Sentada entre os restantes, a ouvir atentamente, estava moreiya, artista multidisciplinar. O que a levava até ali era a FONTE e o selo de qualidade que lhes atribui há algum tempo: “Tenho seguido o trabalho da FONTE nos últimos anos. Acho que têm feito um trabalho importante na expansão e divulgação de perspectivas da diáspora presente em Portugal, e têm, a meu ver, estimulado conversas muito necessárias”, sublinhou mais tarde.
Para moreiya, ouvir XEXA e partilhar aquele espaço com as pessoas que lá estavam presentes foi uma forma de expansão de um diálogo que já tem vindo a ser estabelecido e de refletir a partir de outras práticas artísticas. Foi precisamente isso que XEXA foi fazendo ao longo de uma hora, através de imagens e sons. Como em qualquer história, começou pelo início de tudo: como é que a música entrou na sua vida? Pela porta frente, em casa. “O meu pai adora música e gosta de ouvir música com ‘qualidade’. Lembro-me dele comprar sistemas de som em segunda mão em mercados, instalar subwoofers no carro, colunas espalhadas pela casa, quando eu era pequena. Pensava que toda a gente ouvia música assim.” A presença “constante” da música instigou o interesse por fazer da música vida. o cuidado do pai com a forma como a ouvia trouxe-lhe outra sensibilidade. Não se ouvia por ouvir, havia quase um ritual que aprofundava a relação.
Quando era mais nova, ouvia “muitos clássicos da música PALOP”, kizombas dos anos 2000 e 2010, kuduro e “sons que o pai lá metia em casa”. Quando decidiu olhar para a música como profissão, começou a ouvir “sons mais minimalistas, ambiente”, e hoje diz também gostar de Arca e de “cenas mais desconstruídas” como Nazar. Depende da pesquisa que estiver a fazer no momento e do que estiver a viver — mudar-se para Londres foi decisivo para entrar na música eletrónica, grimes e no jazz, por exemplo. XEXA garante que aprende com tudo o que ouve. Antes desta entrevista, tinha acabado de ouvir o último álbum de Kelela.
Cabe muita coisa do trabalho desta artista que estudou Artes Sónicas no Reino Unido. Diz várias vezes que situa o seu corpo de trabalho numa prática afro-futurista e tem vindo a criar novos significados na paisagem das sonoridades africanas — fazendo inclusive o que nem sempre é esperado. “Mesmo quando aprendia cenas que poderiam não ser consideradas ‘comuns’ em ritmos africanos, como sintetizadores, programação em Max, sempre tive a curiosidade em poder aplicar essas práticas em sonoridades africanas. Como seria o som de uma kizomba sintetizada?”, questiona.
“Parte do processo decolonial é estabelecermos-nos como pessoas individuais, para além de concepções generalizadas impostas nos nossos corpos, espíritos e identidades por noções imperialistas. “
Com ascendência são-tomense, XEXA diz que as suas origens, bem como a sua cultura, surgem na música de forma orgânica. Não pensa em São Tomé sempre que produz, mas há casos mais evidentes dessa relação. Por exemplo, “Nha Dêdê”, uma faixa que integra o calendário sonoro que fez em 2021. Na descrição do Soundcloud, explicava na altura que “Nha dêdê significa ‘minha querida’ em dialeto são-tomense. Dêdê também pode significar abraçar ou embalar.” No mesmo texto dizia que tinha saudades dos seus primos, das suas raízes, de quando “cantava no Mocho com bué crianças”.
Estar na diáspora traz um outro olhar. Todas as vivências trazem, diz moreiya. Cresceu em Lisboa, é descendente de cabo-verdianos e guineenses, já viveu em Itália e acabou por se mudar para Londres, e além de todas estas geografias tem uma prática de trabalho multidisciplinar. Não se situa apenas num género ou numa técnica. Acredita que a memória, o tempo, as relações intergeracionais, as limitações da linguagem verbal e o constante ondular do oceano que a ligam e a separam dos seus, são alicerces do seu trabalho artístico e a lente através da qual experiencia o mundo — afirma-o ipsis verbis. E se há algo em comum entre o trabalho de moreiya e XEXA é a noção de que, como diz a última, “é preciso estar-se vivo para fazer música”. E a música que fazem desafia os espartilhos da homogeneização.
Na oficina no MIL, quase a terminar, XEXA disse que olhava para a criação artística como processo decolonial. Uma ideia que também faz sentido a moreiya: “Parte do processo decolonial é estabelecermos-nos como pessoas individuais, para além de concepções generalizadas impostas nos nossos corpos, espíritos e identidades por noções imperialistas. Criando mostramos e desenvolvemos partes de nós mesmas que forçam a rutura com estas noções e abrem espaço para outras pessoas com histórias semelhantes se reverem numa outra perspectiva.” Ao que XEXA acrescenta: “O ato de ter identidade própria só em si age como um processo decolonial.”
Crescer na diáspora é ter tudo menos uma experiência unificada. Ser um artista na diáspora também. Há zonas comuns, mas não há vivências, formas de experienciar a(s) cultura(s), modos de ressignificar iguais. Às vezes sempre esteve lá, mas o resto parecia ter outro peso. A história de Saya Mohamed, DJ, artista e produtora, mostra-nos isso. Quem vai a um set de Saya hoje não precisa de muito para estabelecer uma relação entre a artista e a cultura árabe — seja pela música, pela roupa que tem vestida, pela bandeira da Palestina que traz ao peito ou que estende sobre a mesa. Filha de pai e mãe palestinos, nasceu em Santiago de Compostela e lá viveu quase sempre. Tal como Yeri e Yeni em Portugal, sentia que tinha dois mundos diferentes dentro e fora de portas: em casa respirava-se Palestina, na rua Espanha. A música do país de origem da sua família, em particular, não lhe entrava como referência óbvia; mas a música, no geral, cedo se tornou mais do que uma companhia. Havia uma relação séria entre Saya e as cassetes, depois os CDs, por fim as faixas na internet.
“Começo sempre a falar do meu percurso desde o início, porque acho que tudo o que aconteceu antes faz parte de quem sou hoje. Eu estou onde estou pela minha história”, avisa Saya. O início da história é ainda mais cedo do que esperávamos: tinha uns 5 ou 6 anos quando começou a gravar as músicas de que mais gostava, quando passavam na rádio. Depois disso, começou uma coleção de cassetes; mas este tipo de produtos não era acessível e esperava que o tio mais jovem, que também vive na Galiza e sempre entendeu a sua “queda para a música”, fosse à Jordânia e trouxesse a lista que lhe tinha feito. Numa altura em que a internet não estava tão democratizada como hoje, e para colmatar a falta de notícias sobre a Palestina nos canais espanhóis, os pais decidiram arranjar um satélite com canais estrangeiros — foi graças a isso que teve acesso a canais de música e ficou “pegada a ver os videoclipes” do final dos 90, início de 2000. E como acontecia com as canções na rádio, também os gravava.
Saya Mohamed tornou-se uma espécie de recolectora de músicas. Chegou a uma altura em que começou a fazer playlists e ia a cibercafés para descarregar músicas da internet e passá-las para CDs. Dava-os como presentes a amigas. E foi uma amiga que um dia a desafiou para ser DJ no seu aniversário, numa altura em que as listas já eram feitas e partilhadas no Spotify, Saya se tornava reconhecidamente talentosa a fazê-las. Aceitou o desafio, correu bem, e começou a tocar como DJ residente no clube La Radio. Enquanto esta carreira, com que nunca tinha sonhado propriamente, se iniciava, tirou o curso de farmácia e começou a trabalhar na área. Pelo meio fez Erasmus em Faro, mas nunca deixou de tocar. A pandemia trouxe-lhe clareza: não podia continuar a viver uma vida dupla, tinha de seguir o caminho que a fazia mais feliz.
Numa altura em que a internet não estava tão democratizada como hoje, e para colmatar a falta de notícias sobre a Palestina nos canais espanhóis, os pais decidiram arranjar um satélite com canais estrangeiros — foi graças a isso que teve acesso a canais de música
Durante muitos anos, até essa altura em que decidiu ir fazer uma formação profissional para ser técnica em vídeo, DJ e som, tudo o que sabia fazer era por autodidatismo. “Tive ajuda de pessoas no mundo, mas cheguei onde cheguei por mim, sozinha.” Também foi sozinha, a partir de um processo de auto-descoberta, que decidiu aproximar-se mais das suas origens dentro da música eletrónica. Saya diz que é “muitos géneros”, não apenas um em específico, mas faz-lhe sentido que a sua postura política não se distancie do seu eu artístico. Se ao longo da sua infância era difícil encontrar pessoas com quem partilhasse referências comuns, mais próximas das que tinha em casa, na vida adulta, com as redes sociais, tudo mudou. “Nos últimos tempos fui-me conectando com muito mais pessoas próximas das minhas raízes. Comecei a pesquisar e a conhecer pessoas que, como eu, são árabes na diáspora, embora não vivam nos mesmos territórios que eu, entre a Galiza e Portugal. A maioria está noutros países da Europa, mas há uma proximidade a nível de referências culturais, palestinas e árabes na diáspora.”
O que Saya e outros músicos e produtores árabes na diáspora estão a fazer é “ uma mistura entre o passado e o presente da electrónica árabe”. “Ainda é um trabalho muito difícil, por exemplo para mim, mostrar a música que eu quero mostrar, porque há muitas pessoas que não estão habituadas, não têm o ouvido treinado. Mas acho que [ao apresentar essas músicas] estou a abrir caminhos”. E enquanto apresenta outras sonoridades a quem dança ao ritmo dos seus sets, está a honrar os seus ancestrais, e a resistir com a sua cultura. A raíz sempre esteve lá, a criação artística serviu como um mapa para a reencontrar.
Carolina Franco tem escrito sobre cultura, juventude e direitos humanos. Cada vez acredita mais que está tudo ligado. É jornalista colaboradora no projeto de literacia mediática PÚBLICO na Escola, e co-editora do Shifter. Estudou Ciências da Comunicação no Porto, de onde é natural, tem pós-graduação em Curadoria de Arte e está a completar mestrado em Antropologia - Culturas Visuais com uma tese sobre a importância da representatividade trans* no audiovisual.
Ver todos os artigosApoia a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.
Outros artigos de que podes gostar: