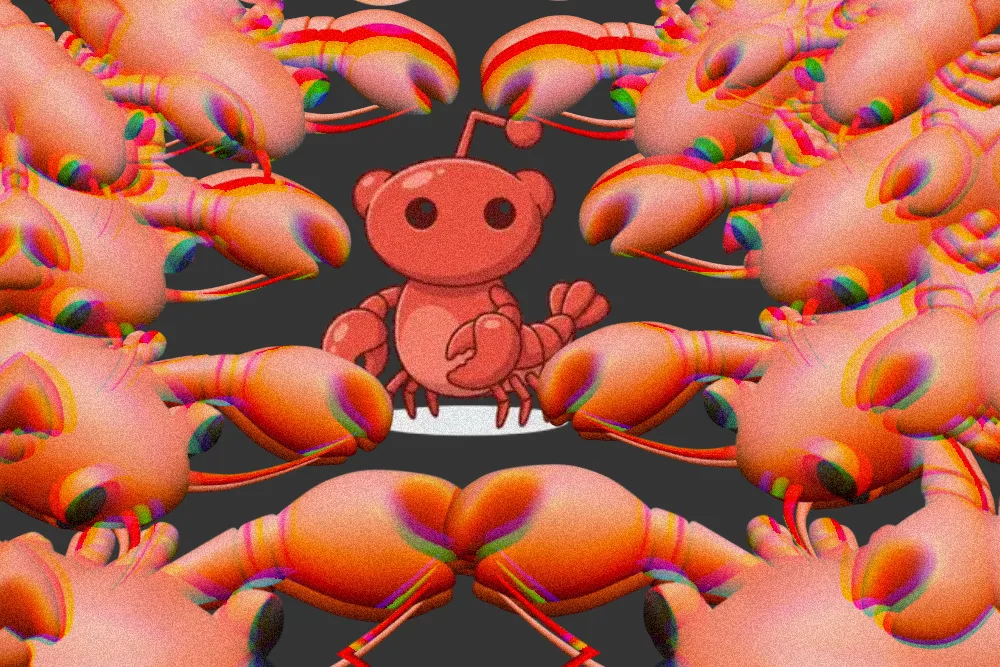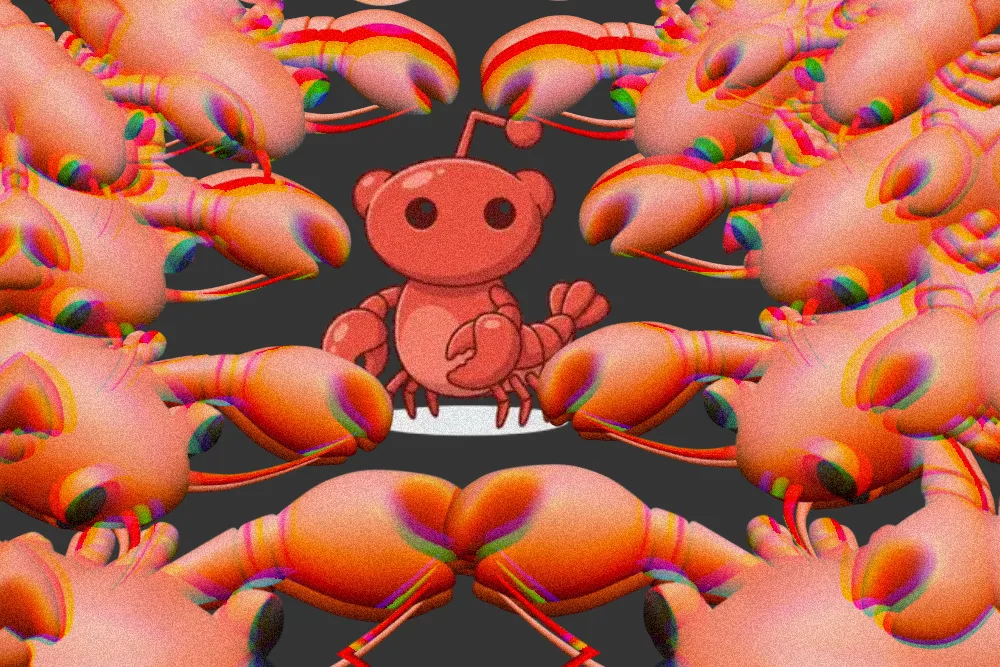

Há uns dias, enquanto fazia uma pesquisa no Reddit sobre o meu próximo destino de férias, dicas de segurança do campingaz e como fazer um bom nó para garantir que a tenda não voa na minha ausência, deparei-me com uma publicação que me chamou à atenção. Num dos subreddits sobre filosofia e pensamento crítico onde vou estando como lurker, alguém pedia por “situações situacionistas para principiantes”. A meio da pesquisa sobre o que fazer num sítio com poucos pontos de interesse, segundo os roteiros da moda, e poucos hits virais no Reddit (não sei se é bom ou mau sinal), a publicação deixou-me a pensar sobre a nossa forma de viajar — seja qual for o trajecto.
Para quem não está familiarizado com o termo, o situacionismo é uma corrente artística e política que emergiu na Europa no século XX. O movimento teve o seu momento alto durante o Maio de 68, e como uma das principais figuras Guy Debord. Por entre a imensa produção artística e intelectual – de que a revista internacional situacionista é uma espécie de compêndio e A Sociedade do Espectáculo o símbolo máximo – uma das relações mais significantes para o movimento era a das pessoas com o espaço.
Entre muita reflexão sobre a privatização do espaço, a mercantilização da vida, e sobre como a privatização do espaço leva a mercantilização da vida, o grupo acreditava que a nossa relação com o espaço do quotidiano podia ser o primeiro campo de resistência ao espectáculo que se ia impondo sobre a vida. E ensaiava formas de o incentivar. Se a imposição do espectáculo se traduzia na monetização de todos os segundos da nossa vida, incluíndo a forma e o sentido com que nos deslocamos, era preciso criar ferramentas e exercícios que inspirassem outras rotas.
É dentro desta linha de raciocínio que surge a ideia da psicogeografia, um termo cunhado pelo grupo, para se referir às interações entre os indivíduos e os espaços, e a forma como se alteram mutuamente. E é a partir daí que surge a teoria da deriva — uma forma de explorar a cidade que rejeita os itinerários convencionais, para abraçar a intuição, o acaso, e incentivar uma exploração atenta aos seus efeitos na dimensão psicológica de quem deambula. Virar para onde cheira bem, sentar onde apetece, enveredar por uma rua misteriosa, visitar as traseiras dos espaços e edifícios devolutos, atravessar bairros de habitação, observar como a cidade evolui entre estes e as zonas administrativas, parar num jardim à sombra onde o tempo se descobre agradável. Estas são algumas práticas inspiradas pelo princípio psicogeográfico e um potencial primeiro passo para rasgar com os pontos de interesse e a roteirização das cidades — algo particularmente emergente em tempos de massificação do turismo.
A ideia de que existe uma perspectiva [gaze] própria do turista, que é partilhada pela maioria de quem visita um sítio, não é nova. Seja pela institucionalização de alguns espaços como próprios para o turismo, pela mimetização de outros turistas, é óbvio que existem alguns lugares melhores do que outros e que há sítios que todos devem visitar, mas o que se faz entre os pontos e como se preenche todo o tempo não tem de vir escrito nos roteiros.
Procurar a paisagem para a fotografia de Instagram, a praia de águas cristalinas, o restaurante com a melhor pontuação no TripAdvisor, a lista de 10 coisas para fazer num-sítio-qualquer ou os pontos assinalados no Google Maps, tornaram-se parte dos gestos essenciais de preparar uma saída turística. Com estes rituais, mesmo num sítio estranho, a descoberta torna-se cada vez mais rara. Atualmente viajamos mais para confirmar do que para descobrir. Quer queiramos ver, fazer e comer o mesmo que todos os outros, ou não, é cada vez mais difícil não o fazer e manter um nível de controlo e conforto que nos permita desfrutar.
Pelo mundo, não faltam projectos que procuram desafiar esta ortodoxia. No Porto, as Worst Tours, conhecidas pelo icónico quiosque amarelo perto do Jardim de São Lázaro, são um excelente exemplo. Proporcionam roteiros que dão aos turistas a oportunidade de conhecer o pior do Porto — como os sítios que vão virar hóteis, obras embargadas e relíquias marginalizadas. Mas também o seu percurso atribulado é exemplar, pelos piores motivos, que os obrigaram a abandonar aquele histórico ponto de desencontro. Depois de vários anos a ocupar o espaço, que se tornou conhecido como quiosque do piorio, o grupo viu-se obrigado a abandonar o espaço por imposição da autarquia que, depois de cessar o contrato e fechar o quiosque, acabou por demoli-lo. E com isso perdeu-se mais do que a sua visibilidade, um sinal à vista de todos os transeuntes de que outro tipo de turismo é possível.
Se, a bom rigor, para nos perdermos não precisamos de nada mais do que da nossa vontade, e de algum espírito aventureiro, a verdade é que nos habituamos tanto à previsibilidade das rotinas e aos rituais do turista, que até isso pode parecer complicado. O que fazemos se não passarmos a manhã no museu ou a tarde na praia? Que meio de transporte apanhamos sem ser o que nos leva ao destino que colocamos previamente no mapa? A teoria da deriva e a ideia de andar errante respondendo aos sentidos pode dar um sustento teórico, mas pode faltar alguma estrutura prática. E no meio do tal post de Reddit, descobri um interessante complemento — sim, claro, uma aplicação para smartphone.
É difícil imaginar como Debord viveria os nossos tempos e quanta repulsa lhe poderia causar a ideia de uma aplicação na App Store para nos ajudar à deriva; ou até mesmo artigos como este que apenas raspam com unhas frágeis a capa do espectáculo em que vivemos. No entanto, a proposta desta aplicação, e a forma como é concebida, ajuda-nos tanto a perdermo-nos, como a perceber como a internet e a conexão entre pessoas não tem de seguir sempre os mesmo princípios e fazer com que acabemos todos numa fila gigante para batatas fritas com maionese de alho ou um folhado com praliné de avelã.
Com desafios horários, lançados em simultâneo para todos os utilizadores da app — convidando-os a fazer algo tão aleatório como procurar um avião no céu, tocar em algo que dê vontade, ou procurar algo que chamasse à atenção a uma criança — e conjuntos de desafios propostos pelos utilizadores para diferentes cidades como Lisboa, Londres ou São Paulo, a Derivé app utiliza as ferramentas e linguagens actuais para instigar a deriva contemporânea. Para além disso, o grupo serve de plataforma para quem quiser organizar as suas tours, e promover workshops e eventos inspirados na prática situacionista.
Se em 1958 Debord escrevia no texto que notabilizara a teoria que a má fama tinha condenado este hábito à decadência, porque “vaguear em campo ao relento é deprimente, evidentemente, e as interrupções do acaso são mais pobres que nunca”, talvez até compreendesse a releitura em formato aplicação móvel como proposta em 2025. Afinal, com uma mecânica tão disruptiva que muitas vezes roça o non-sense — para que é que vou sacar uma app para me mandar tocar em relva — podemos despertar e compreender os aspectos políticos do quotidiano, e garantir que o mantra tão popular nas redes sociais, tudo é político, não tira férias.
Explorar uma cidade fora do roteiro e sem os guias habituais traz com certeza desafios, e inspira a que se quebrem limites. Confronta-nos diretamente com a dúvida, o inesperado, o esquisito e, em derivas levadas à letra, o ilegal — como quando Debord sugeria que se explorassem durante a noite as catacumbas de Paris. Mas talvez seja esse confronto aquilo de que precisamos para recuperar o fascínio da descoberta e perceber como pode ser político, desde logo, o nosso olhar e aquilo a que escolhemos prestar atenção, mesmo quando estamos de férias.
O João Gabriel Ribeiro é co-fundador e editor do Shifter. É auto-didacta obsessivo e procura as raízes de temas de interesse como design, tecnologia e novos media.
Ver todos os artigosApoia a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.
Outros artigos de que podes gostar: