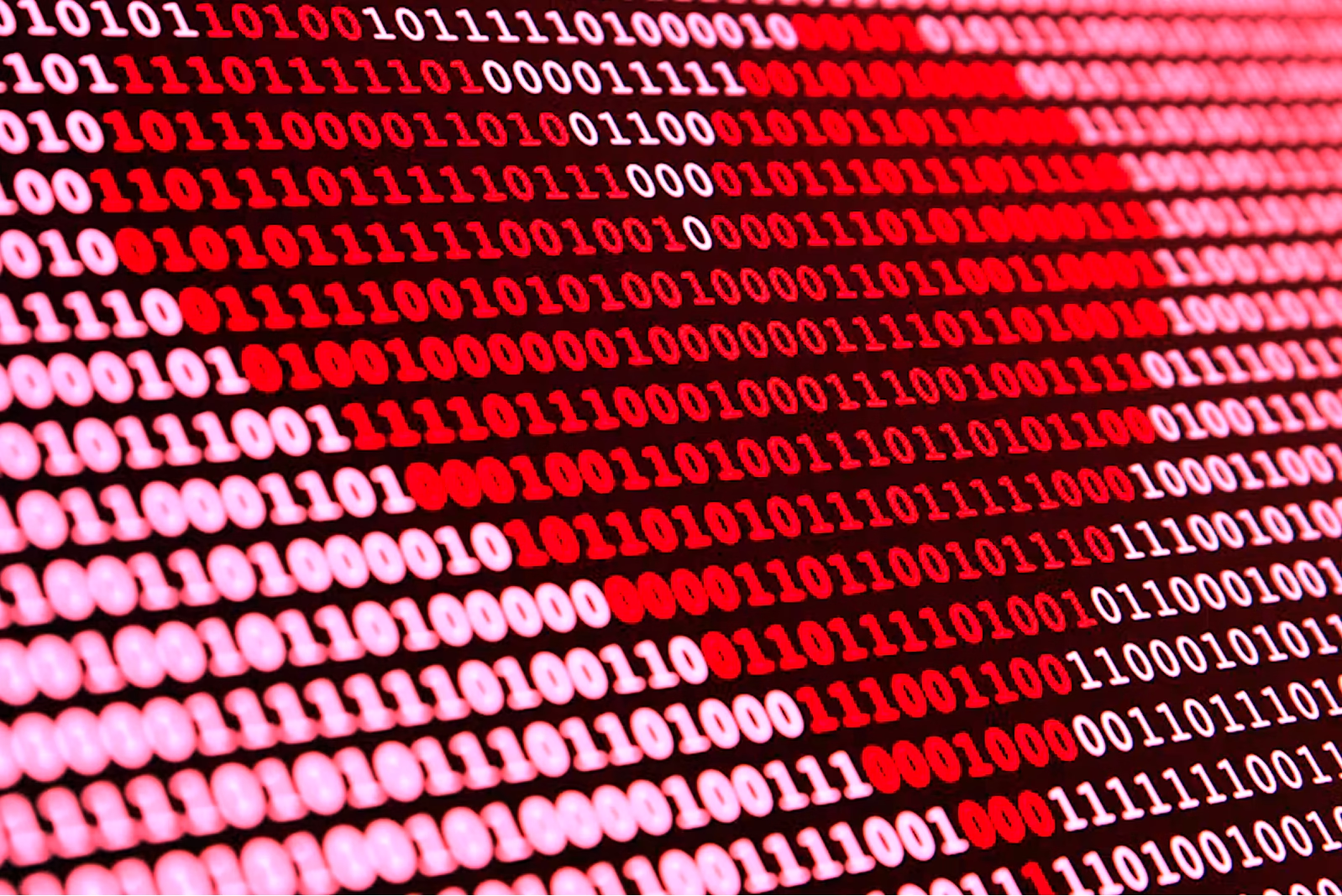

Apesar de tantas vezes darmos como consumada a revolução de 25 de Abril de 1974 que, no essencial, derrubou o regime ditatorial imposto em Portugal pelo Estado Novo, e permitiu a libertação dos territórios onde Portugal mantinha uma ocupação colonial, um olhar atento sobre as memórias desse tempo revela o que permaneceu intocado. O mais recente filme de José Filipe Costa, cineasta e investigador com um consistente trabalho sobre o período da revolução portuguesa, Prazer, Camaradas!, propõe-se, precisamente, a esse exercício de retrospectiva, para em 2021 nos confrontar com os desejos desse tempo que ainda hoje parecem por realizar.
Prazer, Camaradas! é um filme singular com uma abordagem própria e particularidades que ajudam a reportar a dimensão sexual do processo revolucionário, um campo aberto no seio da sociedade e da cultura que ainda hoje continua a impactar aquilo que vemos, como nos vemos e até quem somos. Da ambiguidade do título, que tanto nos lembra a tradicional saudação em que a palavra “prazer” surge domesticada por uma certa reverência saudosista, até à encenação histórica, numa espécie de sobreposição anacrónica em que os protagonistas se interpretam a eles mesmos como se tivessem viajado no tempo, tudo convida a uma reflexão pertinente; uma reflexão em que se leva o sexo para além da função, o prazer para além do sexo, e se redesenham os lugares de cada um neste ponto basilar de qualquer sociedade, a intimidade.
É à boleia de estrangeiros que se juntavam às cooperativas da revolução ou de portugueses que retornavam para um Portugal em efervescente mudança que o realizador nos transporta para o seio de uma das muitas cooperativas que brotaram no pós-revolução, recuperando conversas da época que nos revelam como as relações de intimidade se projectam pela vida de cada um, de cada colectivo e de cada sociedade.
O filme começa precisamente com uma cena de estrada em que se apresentam três destas figuras, João [Azevedo], Eduarda [Rosa] – portugueses vindos de períodos de asilo na Alemanha – e Mick [Greer] – um jovem inglês entusiasmado com a revolução. E as histórias encenadas resultantes de uma recolha dos registos diários daqueles que as viveram são, salvo excepções em que tal não foi possível, encenadas passados tantos anos por quem as viveu. Aos três acima citados, juntam-se três mulheres estrangeiras – muitas vezes referidas como tal – que tacitamente, e sobretudo em momentos de demarcação e contraste com os cooperantes portugueses, expõem a relação inquinada dos locais com as questões sexuais. Uma relação marcada por um pré-condicionamento social que demarcava as tipologias do prazer e impunha uma opressão dos sentidos, com o homem no lugar de opressor: tanto da mulher, como dele mesmo, ora sob a forma de objectificação e posse, ora sob a forma de uma certa masculinidade tóxica.
Com os protagonistas, agora de idade avançada, a recriar histórias do passado mas muitas vezes a acrescentar-lhes visões do presente, o espectador é convidado a invadir consensualmente espaços que imaginara vedados por toda a retórica conservadora – uma instrumentalização do respeitável e púdico como instrumento de base de operacionalização de toda uma política reverencial, austeritária e, em parte, assente no culto de um homem. De resto, essa é uma das mensagens que sem ser gritada, emana ao longo de todo o filme, como se a discussão sobre o sexo – em toda as suas expressões – pudesse ser a menos política mas a mais ideológica de todas, por se referir a momentos de intimidade em que a expressão se torna inalienável do corpo, e em que os actos, por muito circunscritos que sejam, valem mais do que as palavras – contaminando todas as relações sucedâneas daquelas pessoas.
Desde a estranheza das mulheres estrangeiras por serem encarregues de lavar toda a loiça, perante a resignação da portuguesa que as ensinava a desempenhar com empenho tal tarefa, à estranheza dos portugueses perante os homens ou as mulheres que por opção ou acaso chegavam a adultos solteiros, passando pelos momentos de baile em que o dono da sociedade policiava as mãos dos casais, numa coletivização opressiva e hierárquica dos comportamentos íntimos, até chegar à senhora aparentemente septuagenária que diz despudoradamente que “fode” com o seu novo namorado mas que com o anterior se recusava pela sua “brutidade”, é com uma sinceridade desconcertante que o filme naturaliza a questão do prazer e a introduz no debate.
E se este ângulo de incidência nem sempre é comum em debates sobre o 25 de Abril, recuando um pouco no tempo e divergindo um pouco no espaço, é interessante notar como no Maio de 68, a questão conquistou espaço até em cartazes e slogans, expressões que ecoam até hoje, revelando um certo alinhamento de fundo sobre o tema e a natureza contrastante dos processos revolucionários. “Liberté, Egalité, Sexuaité” (Liberdade, Igualdade e Sexualidade) ou “Urbanité, Propreté, Sexualité” (Urbanidade, Limpeza e Sexualidade), nas ruas de Paris ou na parede de Nanterre, ou “Plus je fais la révolution, plus j’ai envie de faire l’amour” (Quanto mais faço a revolução, mais vontade tenho de fazer amor) são exemplos de frases que se tornaram icónicas ao trazer para as ruas uma discussão própria dos circuitos pré-revolucionários – como o departamento de sociologia em Nanterre – e a expressão mais individualizada de necessidades e desejos sexuais. Como refere Anne-Claire Rebreyend em ‘May 68 and the Changes in Private Life: A ‘Sexual Liberation’?’, durante este período criou-se um espaço de exposição intimida, em que os ‘desejos sexuais eram gritados para toda a gente ouvir’. E embora nem todos os autores concordem na afirmação do maio de 68 como uma revolução sexual, é consensual o impacto do movimento para uma certa emancipação – da qual resultaram também excessos, contradições, escândalos e até, há quem sugira, divisões profundas no seio da sociedade francesa (esse foi o argumento eleitoral de Sarkozy).
Voltando a Portugal e ao filme de José Filipe Costa, é interessante notar sobretudo como desde o tempo da revolução, poucos dos seus ecos se referem a esta questão – reverberando mais as tradicionais dicotomias políticas e diluindo por vezes estas nuances próprias indivíduo no seio do colectivo – um colectivo nem sempre representativo das identidades minoritárias ou dos grupos tradicionalmente excluídos. Como conta Raquel Afonso no seu “Homossexualidade e Resistência ao Estado Novo”, apesar de haver um alívio às restrições legais à homossexualidade as mentalidades não mudaram como alguns e algumas esperavam e desejavam, uma ideia que a mesma substancia com referência a Miguel Vale de Almeida, antropólogo do ISCTE, que diz que “tanto o processo revolucionário pós-1974, como o início da chamada normalização democrática omitiram ou desprezaram as questões relacionadas com a igualdade em termos de orientação sexual e igualdade de género”. É dessa omissão ou desprezo que sobram, até hoje, desejos de revoluções por cumprir, que se foram materializando e exprimindo ao longo das últimas décadas, num desafio a um certo conservadorismo patriarcal que se normalizou em figuras como o macho latino, expressões de virilidade, epidemias sociais como a violência doméstica, ou as relações tóxicas que continuam a ser problemas sociais sérios e para os quais não existe uma resposta política suficiente.
É com o humor da sobreposição dos tempos – da realidade, da encenação, dos corpos – e com uma leveza própria de quem se recria a uma distância a que não resistem vergonha nem preconceito, que José Filipe Costa dá espaço para que se aborde e sobretudo para que se pense no papel do sexo numa revolução – no quanto nos diz sobre os indivíduos e sobre as sociedades (uma metáfora que nos lembra imediamente ‘As Mil e Uma Noites’ de Miguel Gomes em que os políticos são incapazes de sentir o prazer). Construindo a partir de pequenos exemplos concretos, como uma troca de massagens entre mulheres, cortada por cenas em que se fala da estranheza da sua intimidade, ou a suposição sobre a preocupação desmedida do ‘homem português’ em manter o seu anus o mais fechado possível, Prazer, Camaradas! mostra-nos a imagem de uma ideologia – forma de ver a vida – que não é só política mas cultural. Uma política que depois de se projectar durante anos a fio sobre os indivíduos, agora se projecta, em muitos casos, a partir destes, como guardiões de uma moral de outro tempo.


O João Gabriel Ribeiro é co-fundador e editor do Shifter. É auto-didacta obsessivo e procura as raízes de temas de interesse como design, tecnologia e novos media.
Apoia a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.
Outros artigos de que podes gostar:
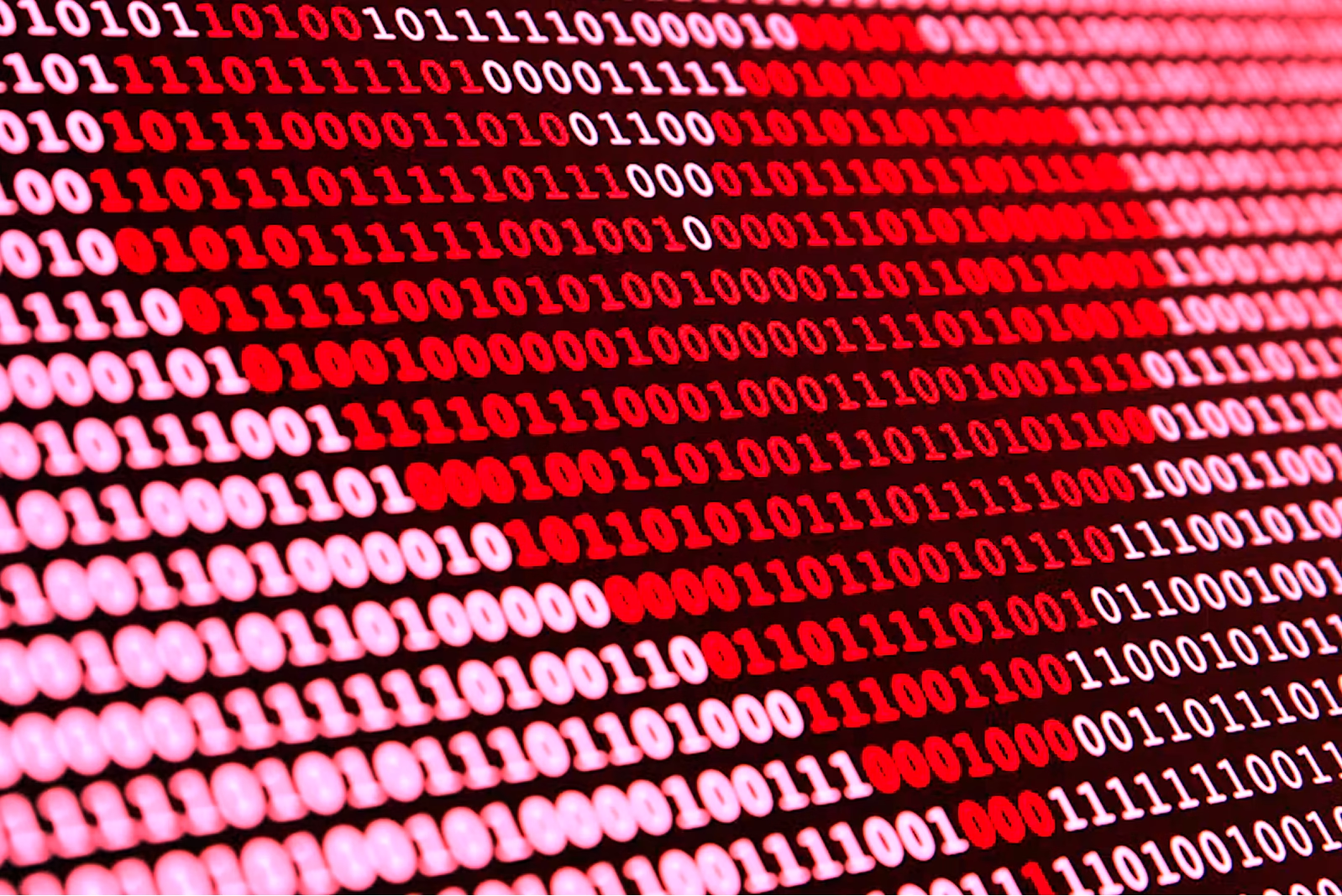



You must be logged in to post a comment.