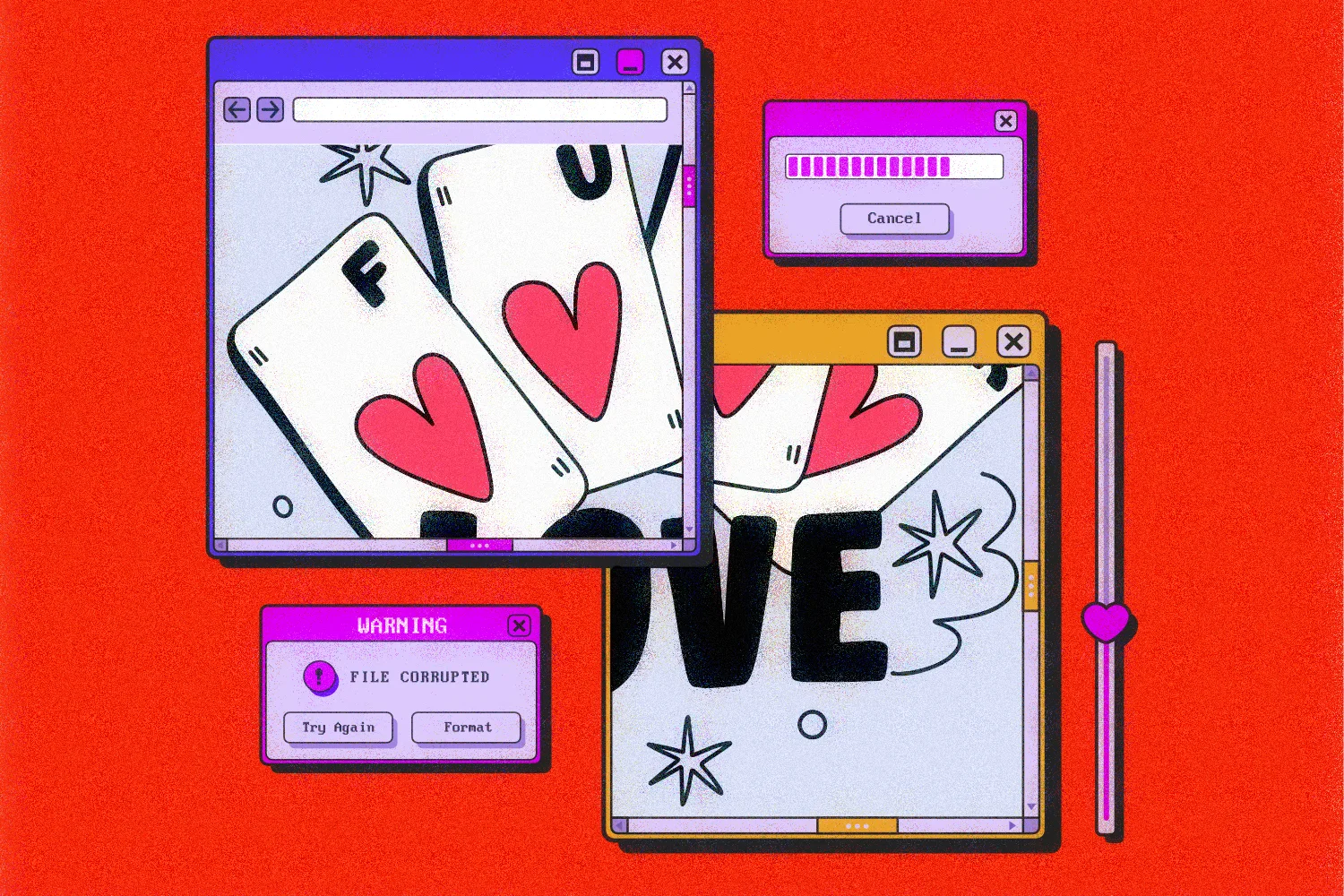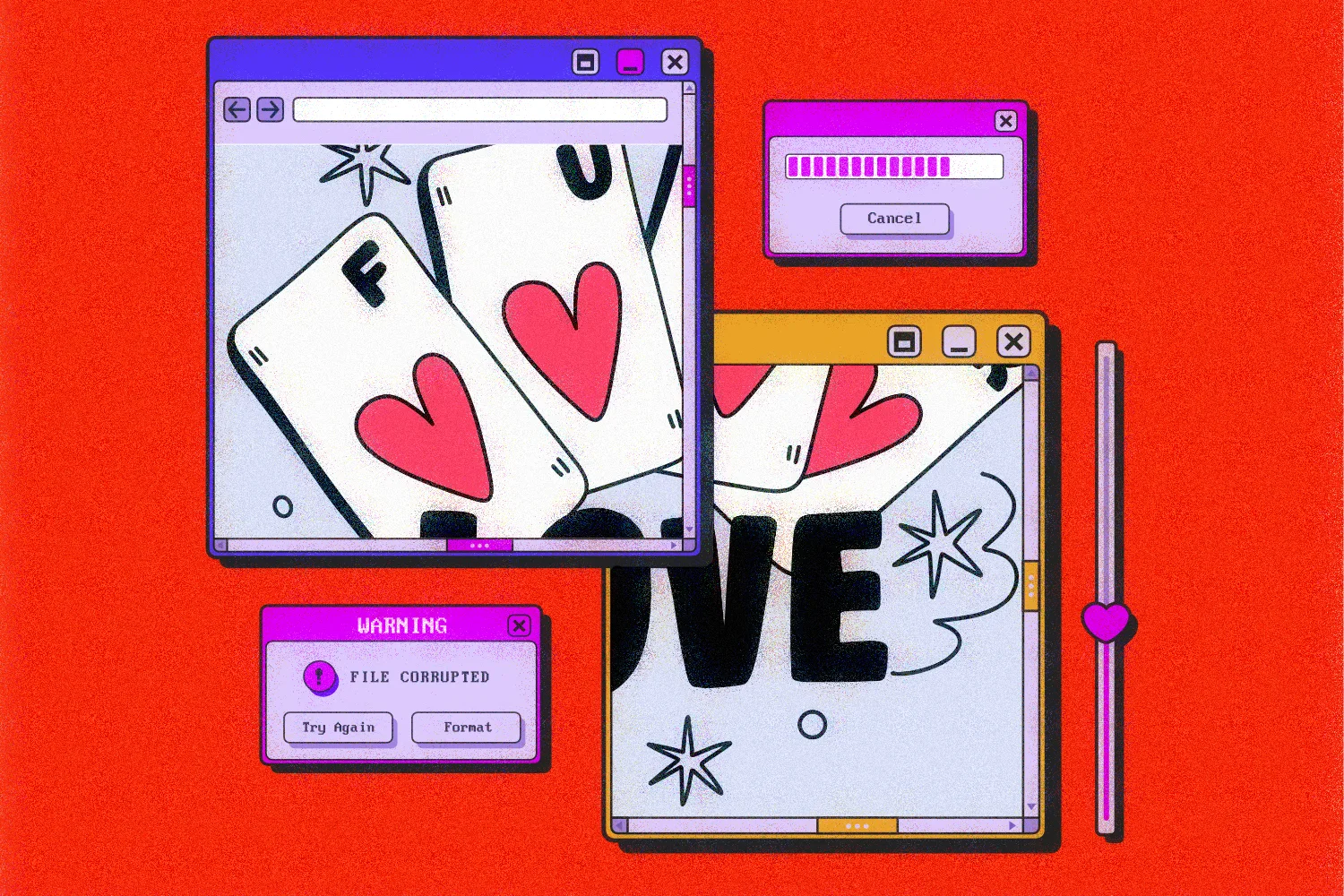
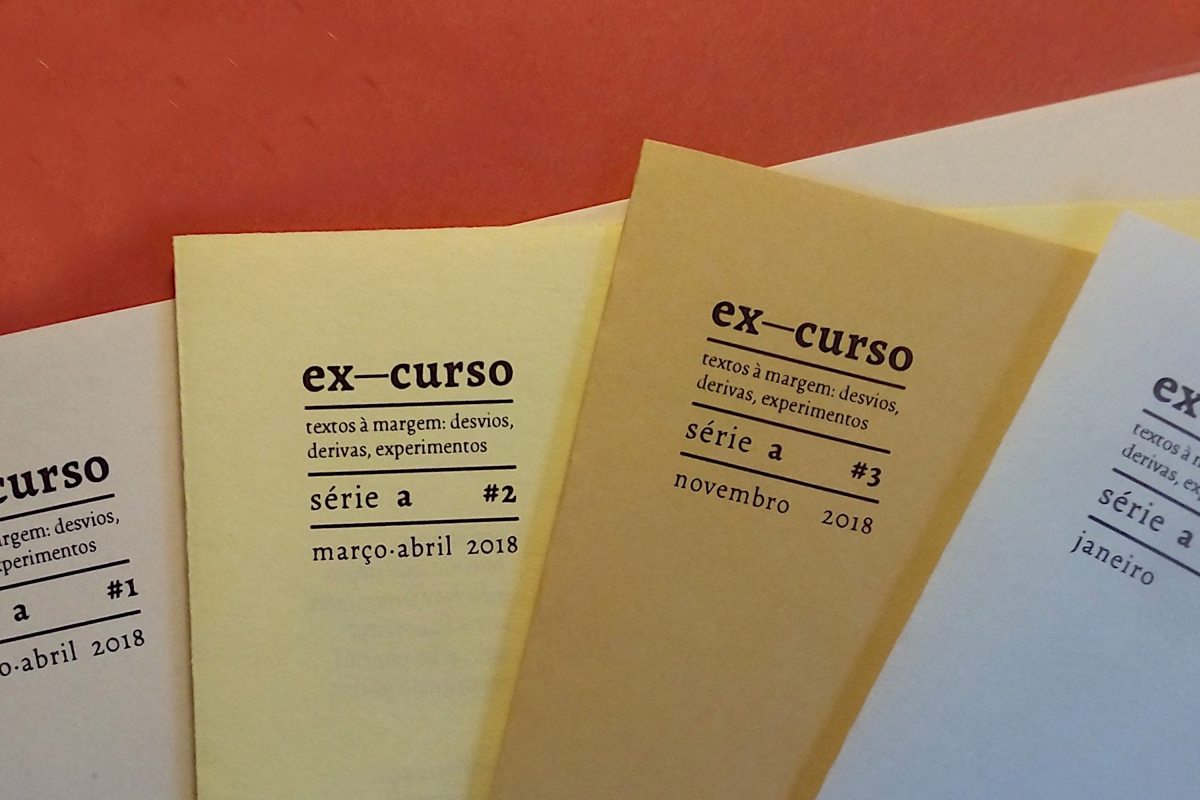
Stones against diamonds é “mais do que um grupo é a manifestação de um modo de acção que visa abrir um debate em torno da condição política, artística e disciplinar da arquitectura”. Fundada em 2018 por Ana Catarina Costa, Paulo AM Monteiro e Pedro Levi Bismarck, no Porto, reúne pensadores e pensamentos de diversas geografias para, partindo de questões sobre arquitectura, espoletar uma reflexão sobre o mundo. Traduzindo e editando textos de filósofos que não se encontram em português, ou redigindo e publicando os seus próprios ensaios sobre esta disciplina e a contemporaneidade, o grupo é uma presença regular – embora discreta – em interessantes debates. Exemplo disso são os momentos em que o pensamento e presença contagiou textos do Shifter – seja em 2018 quando Pedro Levi Bismarck moderou uma interessante conversa com o italiano Maurizzio Lazarato ou mais recentemente na 1ª edição da Revista Shifter em que as traduções de Agamben servem de ponto de partida à reportagem “Um vírus no Sistema”.
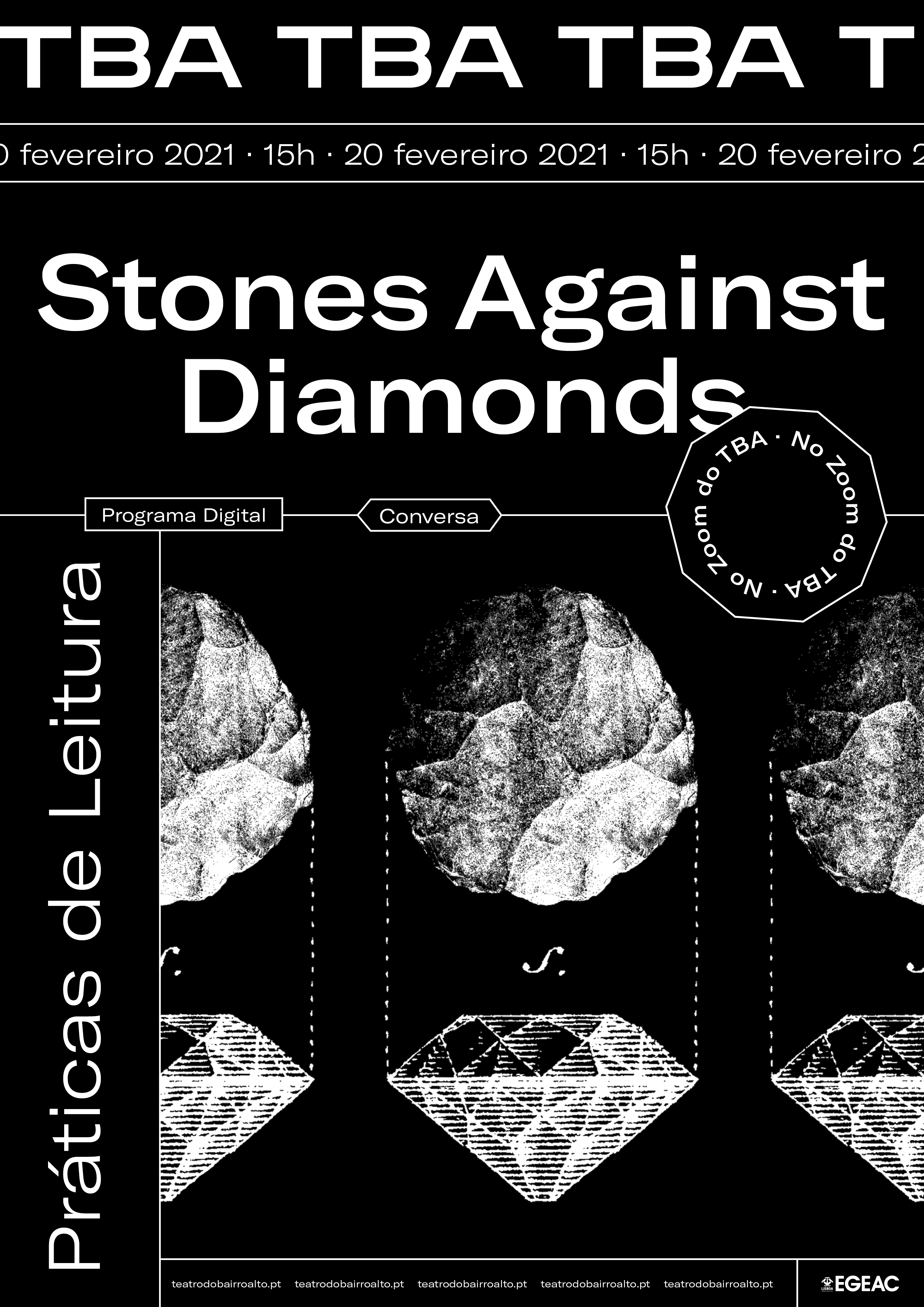
Em outubro de 2020, o coletivo portuense lançou Arquitectura e «Pessimismo», uma publicação centrada na análise do esvaziamento do papel do Estado enquanto entidade mediadora e planeadora da “produção do espaço” e na sua substituição pela “mão invisível do mercado” que vai integrando a arquitetura nas estruturas político-económicas do neoliberalismo. Agora, a publicação é recuperada para dar mote às Práticas de Leitura organizadas no espaço digital do TBA (Teatro do Bairro Alto) a decorrer este Sábado (20 de Fevereiro) pelas 15h, na sala de Zoom do espaço lisboeta.
A Pedro Levi Bismarck, responsável pela organização da publicação, juntar-se-ão nesta sessão Ana Jara, co-fundadora do atelier Artéria, doutoranda em Estudos Urbanos no ISCTE-IUL, e Manuel Henriques, arquiteto e Diretor Executivo da Trienal de Arquitetura de Lisboa, dois nomes com uma vasta experiência na prática e no pensamento da arquitectura. Aproveitando o pretexto, o Shifter propôs 4 questões à reflexão do promotor da conversa, Pedro Levi Bismarck, que aqui publicamos em jeito de antecipação ao debate a que mais logo podes assistir aqui.
S: O José Gil falava na “reterritorialização”, outros filósofos falam de um confronto do indivíduo com a sua própria condição; pelas redes sociais vemos quem confine em casas de luxo e quem confine em casas sem condições. Achas que este momento globalmente ‘catastrófico’ pode servir o propósito de ganharmos consciência sobre a importância da forma como as desigualdades se perpetuam em diversas áreas, como a arquitectura, abrindo espaço para o pensamento crítico dentro das próprias disciplina?
P.L.M.: Talvez fosse útil começar por inverter um certo diagnóstico e começar por dizer: a catástrofe já lá estava. A pandemia foi apenas a manifestação, a expressão mais evidente de um estado de coisas, de um curso, cujo aceleramento e intensificação parecem simultaneamente inevitáveis. Dizer isto não tem nada de “catastrofista”, pelo contrário, é a negação desse estado de coisas que leva a esse sentimento súbito de catástrofe. Por outro lado, certamente que a pandemia significou uma tomada de consciência parcial em torno de uma série de problemas de desigualdade social e económica, de uma certa necessidade de conservar determinados sectores da economia sob domínio público. Mas nada disso parece ser suficientemente forte para construir um discurso crítico relativamente a esse estado de coisas.
O timbre catastrofista de José Rodrigues dos Santos, todas as noites no Telejornal do serviço público de televisão (com a contagem infatigável dos números, os directos em frente aos hospitais, as longas reportagens em frente aos lares) é a expressão mais evidente de um discurso que nada diz, de uma informação que nada informa. A transformação dos noticiários em verdadeiros blockbusters cinematográficos de acção, horror e medo, mas sempre com o happy ending final (aquele habitual momento de descontracção que encerra a jornada diária de notícias), exprime esse desejo absoluto pelo «eterno retorno», que não é outra coisa que a validação do sempre-o-mesmo-tudo-igual: isto é, a validação dos pressupostos políticos, sociais e económicos, do capitalismo e do (neo)liberalismo, a sua permanente inverificabilidade, a sua eterna intocabilidade. A legitimação dos mesmos pressupostos que nos conduzem a este estado de coisas.
Dito isto, o espaço das disciplinas tende a fundar-se sobre o mesmo princípio: o desejo absoluto do eterno retorno (seja por exílio ou instinto de sobrevivência). Mas para falar de disciplinas é preciso falar das instituições que as produzem, nomeadamente as Universidades. E para constatar a impossibilidade de um discurso crítico (a não ser absolutamente marginal) basta observar o que são hoje as Universidades, com a empresarialização absoluta de todas as suas estruturas (do ensino à investigação), mas sobretudo com uma depauperação absoluta dos seus processos de participação democrática e política: em que os alunos são colocados na condição de clientes-consumidores e os professores como funcionários-vendedores.
S: A revista que coordenas faz um trabalho interessantíssimo de cruzamento entre o papel do arquitecto e do intelectual. E, se pensarmos, o arquitecto é quase por essência um gatekeeper pelo que se constrói no mundo. Achas que, como aconteceu noutras áreas, a profissionalização da disciplina com as contingências do mercado a afastou de critérios que deviam ser elementares e que se situam, naturalmente, na intercepção entre várias disciplinas? Penso no sentido de comunidade, nas condições de habitabilidade e mesmo noutras questões como a eficiência energética, o aproveitamento do espaço, etc.
P.L.M.: Eu aproveitaria esta pergunta para responder ainda à segunda parte da pergunta anterior. Porque, naquilo que diz respeito à arquitectura, eu diria que a questão é ainda mais complexa. E isso remete para aquilo que é talvez o problema fundamental do “Arquitectura e «pessimismo»”. Se, por um lado, as Escolas de arquitectura fazem parte desse movimento imparável de empresarialização e profissionalização do ensino, por outro lado, a arquitectura enquanto prática profissional – sobretudo em Portugal, nesta última década – sofreu um processo de transformação radical. Isso tem que ver não apenas com a fortíssima crise económica e com a quase extinção do sector da construção nos anos da Troika, mas sobretudo com a alteração de paradigma que está por detrás dessa mesma crise.
A arquitectura encontrou o seu «espaço social», a sua função e legitimação, digamos assim, desde o 25 de Abril, em Portugal, enquanto instrumento ao serviço das instituições do Estado social e da democracia, na construção de habitação, na produção de espaço público, na organização e no equipamento civil do território, em nome de uma justiça social e uma igualdade de oportunidades.
Ora, foi esse modelo económico – o modelo da social-democracia, em que o Estado tem um papel fundamentalmente mediador e redistribuidor – que a crise financeira de 2008 e depois a Troika puseram em causa. E, por isso, podemos falar de neoliberalismo: não apenas porque foram privatizados sectores fundamentais da economia que estavam debaixo da alçada do Estado, mas porque se procurou libertar uma série de fluxos de capital e de investimento estrangeiro, ao mesmo tempo que se procurava valorizar e impor a lógica do mercado, a lógica do empreendedorismo, como a única lógica possível de sucesso individual e coexistência social.
Esta mudança de paradigma obrigou os arquitectos a refazer os seus instrumentos de trabalho, a reconfigurar as suas práticas, a reequacionar uma actividade cada vez mais dependente das regras do mercado. Essas regras trouxeram consigo, obviamente, outros problemas, outras matérias de reflexão, muito mais relacionadas com a gestão dos escritórios, com as necessidades de inovação, com a aquisição de ferramentas (know-how, para usar um vocabulário apropriado) de branding, networking, capaz de posicionar as empresas de arquitectura na linha da frente de um mercado tão competitivo como exíguo.
Ao mesmo tempo, procurou-se fazer da arquitectura portuguesa uma “marca”, um produto de excelência pritzker. Mas a sua elevação à condição de objecto de fruição cultural, serviu apenas para dissimular a irrelevância social da arquitectura. Genericamente, os arquitectos incorporaram a figura do empreendedor, assumindo-se como prestadores de serviços. Alguns procuram assegurar uma qualidade mínima do seu trabalho, mantendo intactos alguns postulados éticos da disciplina, mas a grande parte, hoje, está irremediavelmente entregue às leis do mercado. Por outro lado, temos a precarização absoluta da profissão, que deitou por terra qualquer veleidade aristocrática que ainda subsistia e que hoje se reduz a um número muito pequeno de profissionais, que, no entanto, estão convencidos que a classe é ainda um todo homogéneo, composta de profissionais liberais que dão aulas à segunda e terça, dão conferências às quartas e aparecem no “atelier” pela tardinha.
Bem, tudo isto para dizer que um certo pensamento crítico da arquitectura, para simplificarmos a equação, vinha dessa experiência pública da arquitectura: os grandes debates disciplinares da segunda metade do século XX foram sobre isso mesmo: Que modelos para as nossas casas? Qual a forma das nossas cidades? Como planificar, organizar o território, equipá-lo, torná-lo acessível e mais justo, etc. Com a transferência desses sectores para o mercado, com a privatização do Estado social, temos também, em certa medida, a «privatização» da própria arquitectura: não só esta perde grande parte da encomenda “pública”, como ela própria, enquanto disciplina, perde qualquer noção de “serviço público”, de “condição pública”. Ao mesmo tempo, a carga logística e burocrática dos regulamentos e das encomendas, a precariedade da profissão, o modelo de funcionamento do mercado, deixa pouco espaço para um pensamento crítico de arquitectura capaz de emergir da prática da arquitectura, de a acompanhar. E esse parece-me o problema fundamental.
S: No “Arquitectura e Pessimismo” o ensaio fala-nos a certa altura da “arquitectura da austeridade”, consideras que é preciso criar espaços como este para que se possam criar novos modelos e dinâmicas dentro da própria disciplina? Há espaço para uma “arquitectura da utopia” ou algo que o valha?
P.L.M.: A “arquitectura da austeridade” é um termo usado por Pierre Chabard e Jeremy Till para se referirem ao modo como o discurso austeritário dos anos da crise foi trazido e traduzido em termos arquitectónicos. Era um discurso marcadamente moral(ista): depois dos luxos e caprichos da última década era preciso uma arquitectura despojada, minimal, essencial, um estilo de vida dedicado às coisas simples, a uma dimensão mais espiritual da vida, contemplativa, poderíamos dizer, convocando Valerio Olgiati, uma Villa (mais) Além.
Esse discurso arquitectónico que nos prometia ad nauseam, em cada página, em cada obra, em cada conferência, a realização do Paraíso na Terra, respondia, na verdade, a uma necessidade de catarse por parte dos arquitectos, dos mais jovens sobretudo, em esconjurar a realidade de uma arquitectura fortemente tecnocratizada e burocratizada. Mas respondia também às próprias necessidades de uma economia altamente financeirizada como aquela do neoliberalismo, onde o imobiliário (transformado em activo financeiro multiplicador de capital) detinha uma função preponderante e onde a encenação dos estilos de vida se transformou num modo eficaz de fazer da casa não apenas o bastião de segurança das famílias em tempos cada vez mais incertos, mas também o lugar de realização da vida, em todas as suas possibilidades maravilhosas.
Essa lógica da casa como paraíso é instrumental quando percebemos o papel que a casa ocupa actualmente na finança neoliberal, que vive basicamente da extorsão de mais-valia e capital através de dívida e renda. A política da casa própria, o right to buy, como demonstrou o programa Thatcheriano nos anos 80, no Reino Unido, foi sobretudo, uma forma de criar e expandir os sistemas financeiros (financeirizar a economia) e, sobretudo, uma forma de prender os proprietários a uma dívida a pagar eternamente, prendê-los eficazmente a uma dívida-culpa, que devem pagar ao mercado, através do seu trabalho, através da aceitação tácita e cúmplice de todas as suas exigências e mandamentos. Em suma, fazer cidadãos e proprietários obedientes, que apenas se podem culpar a si próprios em caso de falhanço. Ou caso seja politicamente mais operativo, culpar os “outros”: as minorias, os emigrantes, etc…
Foi um pouco contra esse discurso optimista dos novos empreendedores e o discurso poético-moral das Villas Além, que surgiu o “Arquitectura e «pessimismo»”. E se fui buscar a expressão que Walter Benjamin usou num dos seus textos, a «organização do pessimismo», era precisamente porque interessava fazer desse «pessimismo» não a constatação de uma resignação fatalista, mas um modo de começar a pensar, de organizar-se em pensamento, um levantamento, se quisermos, capaz de reconhecer a condição material da própria arquitectura, reconhecer o seu papel nos vários processos de produção de espaço e território, a sua função social e económica nos novos processos de especulação e exploração do território.
Mais do que uma arquitectura da utopia, preferiria uma outra expressão, embora a usasse como todas as cautelas possíveis. Porque se o neoliberalismo trouxe novas formas de dominação e exploração económica, isto também significa que teremos de ser capazes de encontrar ou reinventar novas formas de resistência. A expressão a que eu recorreria seria aquela que Giulio Carlo Argan usa quando, em Projecto e destino, escreve que “o projecto não se faz nunca para, mas sempre contra alguém”. Ora, pensar a arquitectura enquanto conflito é algo que me parece particularmente sedutor. Mas isso não chega, a questão está no modo como esse conflito pode ser desencadeado, mobilizado, sem que seja simples aparência, ou simples estratégia de reestruturação e reformismo do sistema. Um aviso que Manfredo Tafuri nos deixa e que se mantém útil, mas que não nos deve deixar imobilizados. Portanto, mais do que uma qualquer utopia há um conflito, que é preciso fazer aparecer, tornar visível. Um conflito cujas formas e modelos de acção terão ainda de ser encontrados, algo que muito provavelmente obrigará a redefinir o espaço de experiência do próprio arquitecto.
Dizem-nos, gostam de nos dizer, como se fosse saído de um oráculo, que a arquitectura foi sempre feita para o poder, com o poder. E se é verdade que não há arquitectura sem capital, que a arquitectura está necessariamente inscrita nesse jogo de forças, também me parece evidente que se podemos falar, hoje, de arquitectura e democracia é porque esse jogo de forças foi trazido para cima do tabuleiro da própria disciplina. Isto é, se acreditamos na democracia – e falo aqui num sentido marcadamente emancipador e radicalmente político do termo – temos de acreditar que esse é um jogo que é necessariamente combatido no terreno da disciplina, no terreno da própria arquitectura. Se a arquitectura é, em última instância, política, é tanto porque cada um dos seus autores-produtores-arquitectos ocupam uma determinada posição (e interesse) no sistema de produção, mas também porque a arquitectura está ainda na condição histórica de ser um dispositivo onde aquilo que está em causa é a forma, ou melhor, as formas da nossa existência colectiva e individual.
S: Achas que para criar e fomentar este tipo de pensamento disruptivo é preciso sair dos circuitos da educação formal demasiado comprometidos com os critérios do mercado, e criar espaços de educação informal, como a revista e os debates? Ou achas que devia haver uma inclusão destas dimensões no ensino formal, para que não tenha de haver uma espécie de reaprendizagem e reconfiguração do papel do arquitecto recém-formado?
P.L.M.: Em parte, a resposta a isso pode ser lida um pouco mais atrás. A universidade e os seus circuitos de educação e formação encontram-se demasiado capturados pela lógica do mercado e isso, como é óbvio, restringe o espaço de liberdade necessário a um certo pensamento crítico, sobretudo, por exemplo, quando o peso das propinas universitárias e a pressão do mercado de trabalho criam nos estudantes o sentimento que a universidade serve apenas para “adquirir competências técnicas”.
Quando dava aulas numa cadeira de teoria, na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, esta obsessão pela utilidade imediata da teoria, dos livros, do saber, era quase confrangedora, só interessava aquilo que podia ser imediatamente útil para responder a um problema específico, que pudesse conduzir a uma solução. A tirania da «solução», um termo que se usa muito nas cadeiras de projecto, é um bom exemplo da lógica tecnocrática-logística da aprendizagem da arquitectura. Não interessa a pergunta, o problema, o importante é que o estudante chegue à solução. Essa funcionalização da arquitectura em direcção à resposta, ao resultado final, ao objecto arquitectónico, abandona qualquer necessidade de reflexão sobre a pergunta: e a teoria, a crítica, não servem para dar respostas, servem para fazer perguntas. Não me parece que possa haver arquitectura digna desse nome sem perguntas, isto é, sem uma consciência crítica de si, da sua posição, da sua função política, económica e social, de uma função que inevitavelmente detém – e felizmente, porque isso significa que esta ainda não foi totalmente consignada à irrelevância social ou transformada naquela categoria que Pedro Vieira de Almeida chamava a dos “técnicos de luxo”.
Estamos naquele momento histórico em que a necessidade obsessiva por parte das escolas em salvaguardar uma certa ideia de arquitectura, se transformou ironicamente na forma de destruição da própria arquitectura.
O João Gabriel Ribeiro é co-fundador e editor do Shifter. É auto-didacta obsessivo e procura as raízes de temas de interesse como design, tecnologia e novos media.
Ver todos os artigosApoia a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.
Outros artigos de que podes gostar: