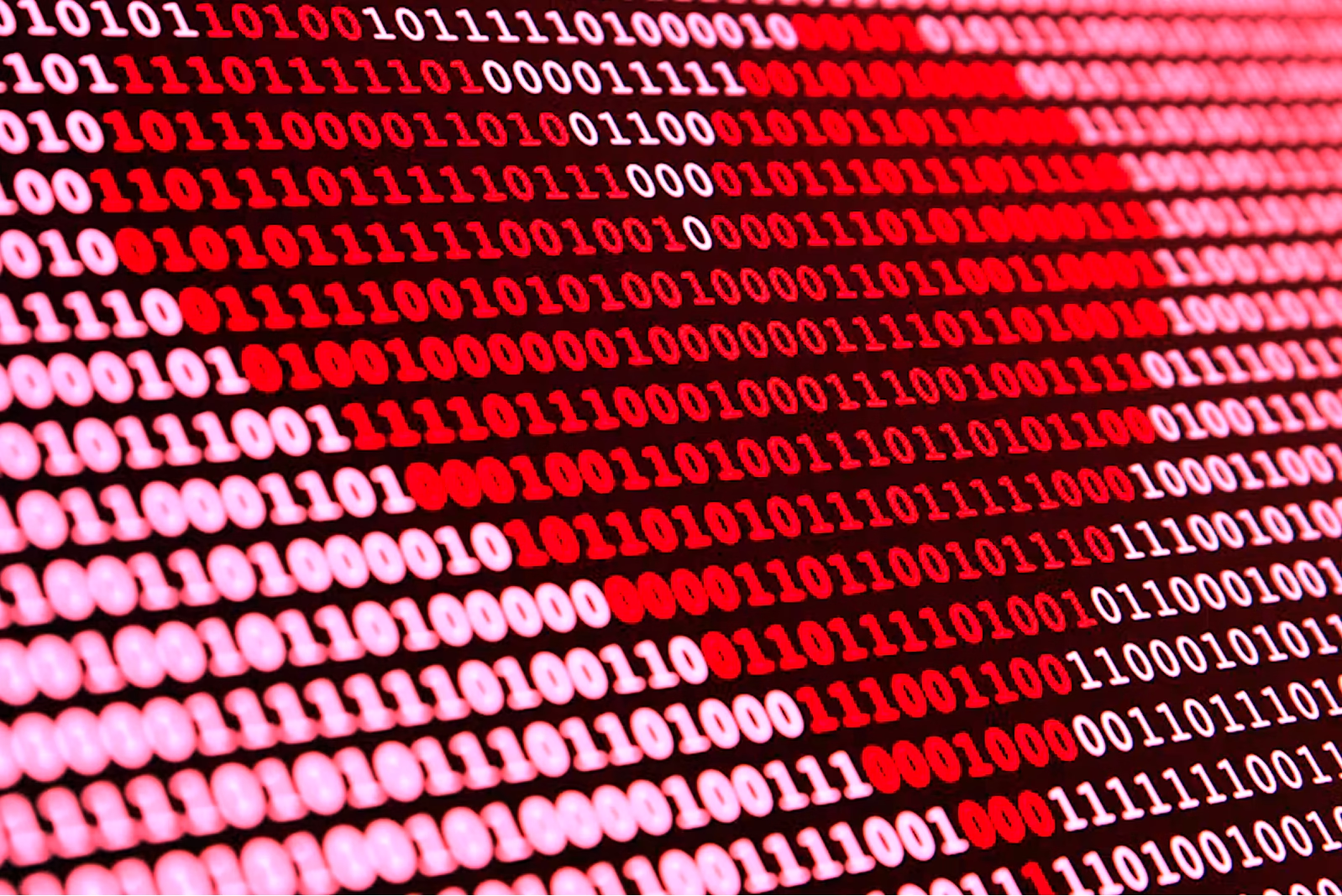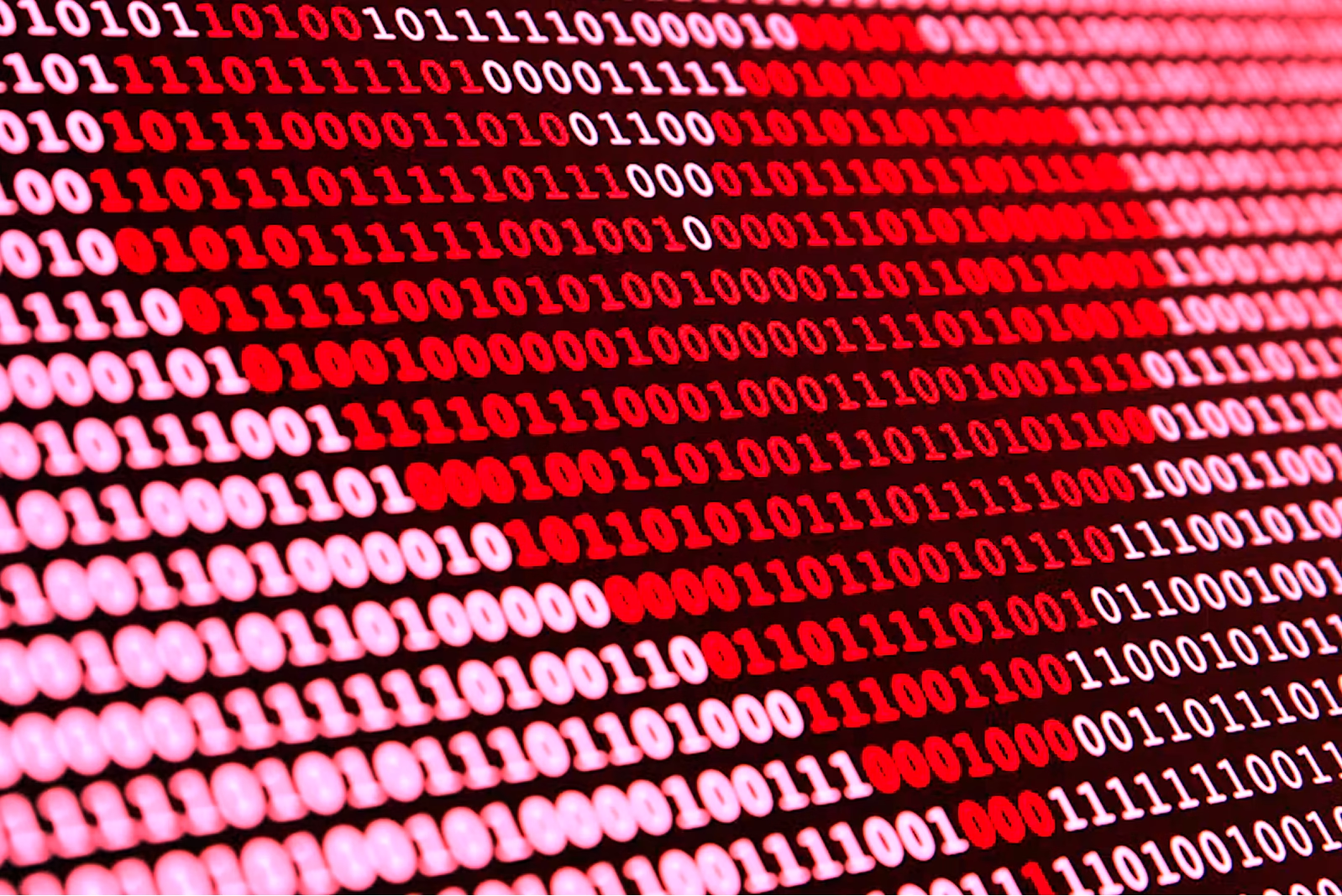

Verão de 1945: o mundo assistia à reta final da Segunda Guerra Mundial. Enquanto em solo europeu as sobras do regime nazi eram progressivamente compactadas pelas forças aliadas e o exército soviético, a frente do pacífico via sangrentas batalhas entre os aliados e o Japão. Dado o sucesso do projeto Manhattan, e de forma a travar o mais rapidamente possível os confrontos, o exército americano planeou o lançamento de bombas atómicas em várias localizações em solo japonês.
Na noite de 6 de Agosto, na cidade de Hiroshima, a quase um quilómetro da ponte que servia de alvo original, foi largada diretamente sobre um hospital que transbordava de feridos, médicos e enfermeiras a primeira bomba; o resultado foram 80.000 mortes e o mesmo número de feridos. Na madrugada de dia 9, uns meros três dias depois de Hiroshima, foi a vez de Nagasaki; estimam-se hoje 40.000 mortos e 60.000 feridos. Seis dias depois, o Japão rendeu-se ao portento bélico americano, instaurando-se assim uma enorme crise socio-económica que ainda hoje se repercute pela sociedade nipónica.
Outono de 1954: nove anos depois dos bombardeamentos, Godzilla (ゴジラ, lido Gojira) é lançado nos cinemas japoneses. Todo o trauma duma nação, derramado como pus pela morte, pelos destroços, pelo pó, pela mágoa, pelas lágrimas, pelo negrume, pela crise de identidade, pela perda dum rumo, duma visão, do sol nascente, agora ocultado por vagas de fumo negro, metamorfoseia-se num lagarto anfíbio com 50 metros de altura alimentado por radiação, que arrasa barcos, aldeias piscatórias, edifícios, tudo e qualquer coisa que lhe obstrua o caminho.
Claro que nos dias de hoje a criação do famoso Toho Studio é vista como uma figura um tudo-nada cómica, consequência da vaga de sequelas, crossovers, invenções, reinvenções, transposições e reboots; mas o significado da obra original não se deve perder por entre este ruído: um filme que capturou a escala titânica de dor que uma nação enfrentou após tomar parte num dos mais sangrentos conflitos da história da humanidade, e que a transmitiu de forma excitante e acessível às massas — fez-se um filme de terror.
O género de terror ou horror (intercambiarei entre os dois termos ao longo deste texto) na ficção narrativa sempre serviu de base à exploração do trauma e dos medos sociais que assolam uma nação ou fatia social num determinado período da sua história.
Fá-lo sob uma forma mais descontraída e brincalhona que, digamos, o drama realista, o que obviamente levou a um menosprezar crónico das suas muitas virtudes por parte de críticos mais snobs e pretensiosos. Sintoma disto é o surgimento recente do termo elevated horror, descritor de terror usualmente mais abstrato, vago e/ou metafórico, que coloca a infeliz impressão que existe uma hierarquia objetivamente qualificável dentro do género quando tais formas de discurso elitista deviam ser o pecado capital nas Belas-Artes.
O género de terror não adquiriu uma inteligência até então ausente quando o Get Out de Jordan Peele foi lançado nos cinemas; não ganhou uma súbita profundidade com o chegar de aclamadas obras como Hereditary ou The Witch. Um filme onde um homem se veste num atabalhoado e abafado fato de borracha com a figura duma lagartixa inchada, com o qual soqueia, pisa e chuta maquetes de barcos e edifícios é, ainda hoje, dos mais imponentes comentários sociais alguma vez feitos por uma obra artística narrativa.
Poderia ter usado outras obras para chegar a esta conclusão: Invasion of the Body Snatchers (1956), motivado pela paranóia anticomunista instaurada pelo McCarthyismo; The Wicker Man (1973), com o seu escárnio perante o conservatorismo cristão perante a promiscuidade sexual da juventude; o terror cósmico de Possession (1981) sob o peso da sombra do Muro de Berlim; o já referido Get Out e a forma como representa um racismo subversivo ao que geralmente vemos representado.
Se analisarmos este padrão, a virtude soberana do horror torna-se aparente: fomenta uma dissecação crua, sardónica, muitas vezes sangrenta (e ainda bem) da verdade que explora, simultaneamente empregando as vestes de monstros e criaturas humanas, animais ou sobrenaturais em rituais de divertimento que nos deixam presos em ciclos tapa-e-destapa olhos dos quais não nos conseguimos despegar.
Almas mais sensíveis ou intolerantes, perdoem-me o que vou dizer a seguir; os restantes, provavelmente (um tudo nada) sadistas como eu, saberão com certeza do que falo e partilharão da minha opinião: poucas coisas na vida batem uma boa morte num filme de terror.
Há todo um processo de tensão e relaxamento que, quando bem faseado e regulado, força o meu corpo num extasiante vai-e-vem por todos os estados de matéria física que nunca perde a sua piada. O frio nos pés ao sentir o bafo do assassino na periferia da lente, a petrificação do tronco quando o personagem se aventura pelas partes escuras do cenário, o choque na espinha com a súbita aparição da faca, machado ou garras, o fervilhar da cena de perseguição nos nossos nervos, o nojo gelatinoso que de nós se apodera quando vemos uma perna decepada ou uma cabeça a rolar, tudo convalescendo numa explosão dopamínica de êxtase que nos faz implorar por mais uma, mais uma e mais uma.
Clichés são muitas vezes criticados pela sua recorrência nauseante na ficção. Porém, mais astuto seria afirmar que um cliché só é mau quando existe por existir, sem motivação, substância. Terror é divertido precisamente pela forma como brinca com as nossas expetativas. É um tipo de entretenimento artístico que tem um conjunto base de regras, ideias e fórmulas que, nas mãos dum grupo de artistas talentosos, resulta num playground de intemporalidade onde se produzem ciclos de homenagem e reinvenção, por vezes de minuto a minuto.
Num slasher, por exemplo, nós, audiência, desejamos acima de tudo ver aquele grupo de adolescentes morto quando rolarem os créditos. Queremo-lo, mas simultaneamente queremos ser surpreendidos. Desejamos algo novo mas tenha em consciência o velho.
Esta dicotomia foi perfeitamente entendida, por exemplo, pelo guionista-realizador americano, Wes Craven. Em Nightmare on Elm Street (1984), Freddy Krueger é inescapável ao grupo protagonista porque todos eles têm a certo ponto de adormecer, dissipando assim qualquer esperança de fuga, deixando de haver também espaço para o tão badalado “vamos separar-nos”, porque cada pessoa se vê invariavelmente isolada nos seus sonhos. Scream (1996), a meu ver a obra-prima de Craven, possui guião metatextualmente genial que destila cada microelemento do modelo-base do slasher film, só para de seguida os empregar em formato irónico, criando uma imprevisibilidade acrescida porque nunca sabemos a que momento será a fórmula virada do avesso
O mesmo género de filosofia homenagem/renovação também se vai aplicando aos outros sub-géneros de terror, como a estória de fantasmas, o creature flick, o “cientista maluco”, body horror, sci-fi horror…
A constante é a distribuição do medo numa audiência, seguida do efeito catártico, em loop até à conclusão: um nascer-do-sol num céu desnublado, ou a infiltração maligna duma outra entidade, ou, mais frequentemente, a segunda mascarada da primeira.
Viu-se ao longo do século passado um germinar crescente do género de terror pelas mais diversas camadas artísticas, facto facilmente atribuível a uma progressiva consciencialização do indivíduo face aos tumultos que assolavam o globo. Ao contrário do que uma mente mais ingénua possa pensar, os nossos problemas não surgiram meramente na última centena de anos; crescentes quantidades de olhos simplesmente abriram-se em direção ao caos outrora camuflado ou ignorado, resultado duma maior acessibilidade/quantidade de informação estudada, complementado por um crescente sentimento de frustração cada vez mais à flor da pele, mutando passividade em ação, grito e revolta.
Durante séculos, a situação foi diferente. Terror era primordialmente um veículo pelo qual as elites reais e religiosas exerciam o seu controlo no povo, naturalmente mais desfavorecido e com escassos acessos à educação.
Quando a mulher ameaçou libertar-se do seu papel subserviente de dona de casa e portadora de filhos, a inquisição clamou-a de bruxa e culpada pelos campos inférteis do agricultor, pelo aço quebradiço do ferreiro, pelas escassez de bens para venda do mercador, pelas terríveis dores menstruais da pobre filha do líder da aldeia, pelas dores de costas e reumatismo da parteira. O muçulmano, acusado de sedimentar a integridade outrora sólida da plataforma católica, via-se forçado a escolher entre a ponta duma lança no estômago e uma reconversão religiosa que nunca o ilibava posteriormente do beijo feroz do chicote nas costas ou do cuspo no olho pelo homem à sua direita na fila para o calaboço, também este injustiçado por um regime que, ao monopolizar todo o sustento, o obrigou a roubar uma fornada de pão para alimentar o filho que sofria de escorbuto, em breve órfão ou morto.
Máquina de ódio há gerações operada pelo poder, desde as cruzadas, à escravatura, até ao holocausto, apoia-se numa regra: se o estado regente vir um certo grupo de pessoas como potencial ameaça à sua soberania, encosta-os a uma parede e ilumina-os sob o fogo da sua fúria, virando de seguida as cabeças dos menos educados em direção à sombra disforme dali produzida — onde o poder vê uma pessoa, o povo verá um monstro faminto pronto a devorá-lo.
É assim que geralmente se vê o outsider nas obras de terror, como a criatura a derrotar pelo homem ocidental, forte, másculo e de pelo no peito. Frankenstein, obra incontornável de Mary Shelley, praticamente serve de arquétipo narrativo a este sentimento: o monstro gentil e incompreendido perseguido com tochas e forquilhas até á beira do precipício pela sociedade ameaçada. A mesma ideia presenteia-se também em filmes como King Kong (1933), Creature of the Black Lagoon (1954) ou a própria adaptação cinematográfica de Frankenstein (1931), onde o realizador James Whale, homossexual assumido, expressou a frustração que vivia numa Hollywood que se via ameaçada pela censura. Observa-se nestas obras uma reapropriação do medo histórico, não como arma de ódio mas sim de empatia. Aqui se encontra o locus do terror moderno.
Não é por acaso que muitas famílias conservadoras acusavam (e ainda acusam) o horror como algo capaz de corromper o bom cristão num comunista satânico. Não é por acaso que diz o género dos renegados e ostracizados. Apresenta uma acessibilidade convidativa aos que se vêem sem rumo e forma uma corredor pelo qual se pode trespassar o normalizado até à verdade desconfortável no centro de tudo, aquela bola de carne inchada e pulsante que transpira rios e rios de pus em seu redor.
O monopólio do terror tem de ser comandado pelo povo. Neste preciso momento, somos a criatura à janela do milionário, do corrupto, do fascista, do farmacêutico, do tech leader, todos eles prontos a entrar numa orgia numa cama cujos lençóis foram tecidos com a pele do explorado, dissimulado e discriminado. É abrir a porta no momento em que estão de costas voltadas e deixar o sangue correr — metaforicamente falando, claro… Ou talvez não?
Um feliz e seguro Halloween a todos.


Tem 26 anos, tirou o mestrado em Engenharia Informática e de Computadores e trabalha atualmente como engenheiro de dados. A sua real paixão reside nas artes, nomeadamente no cinema, literatura, e videojogos. Planeia eventualmente aventurar-se na área de cinema, mas até lá contenta-se a escrever sobre tudo aquilo que o inspira.
Apoia a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.
Outros artigos de que podes gostar: