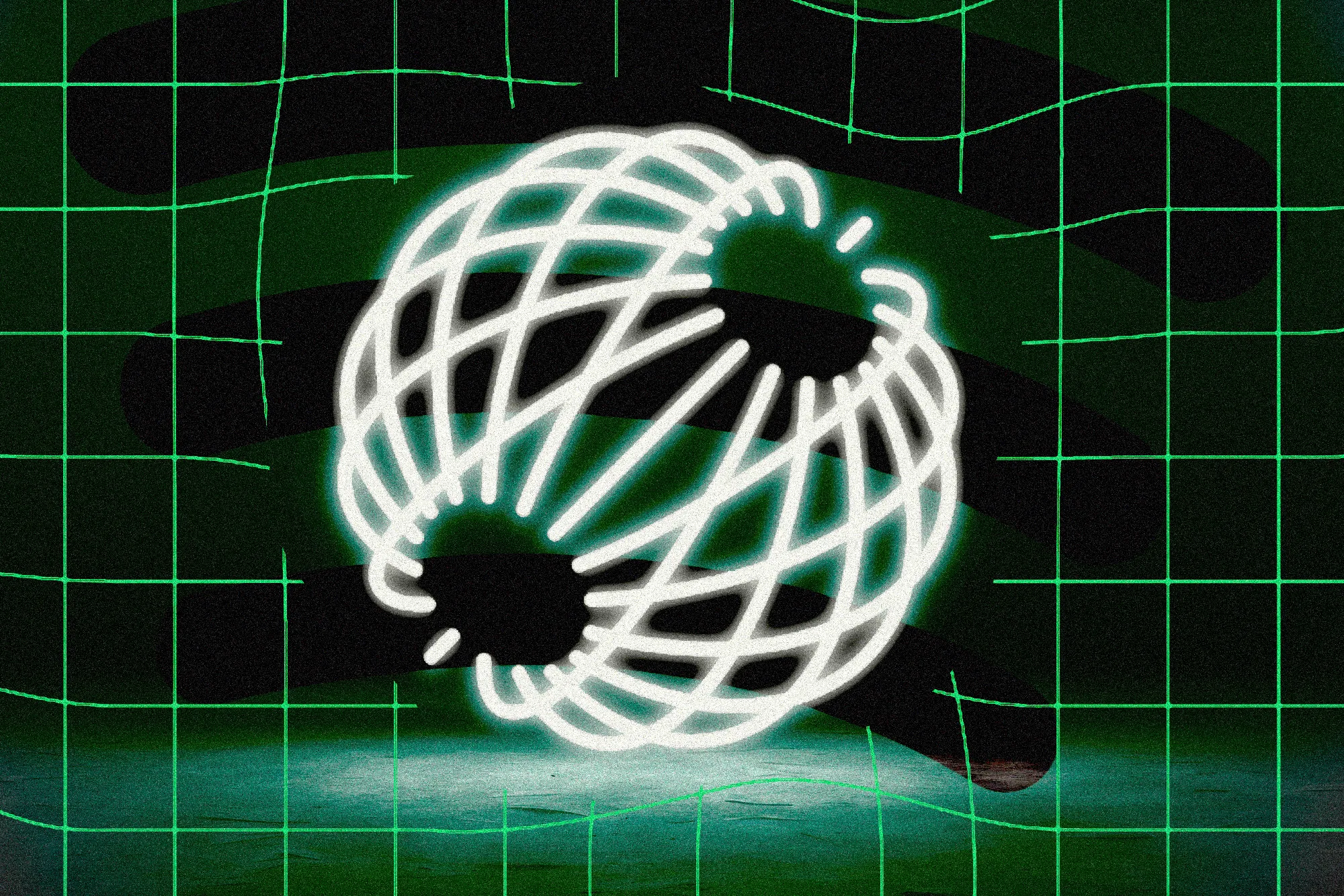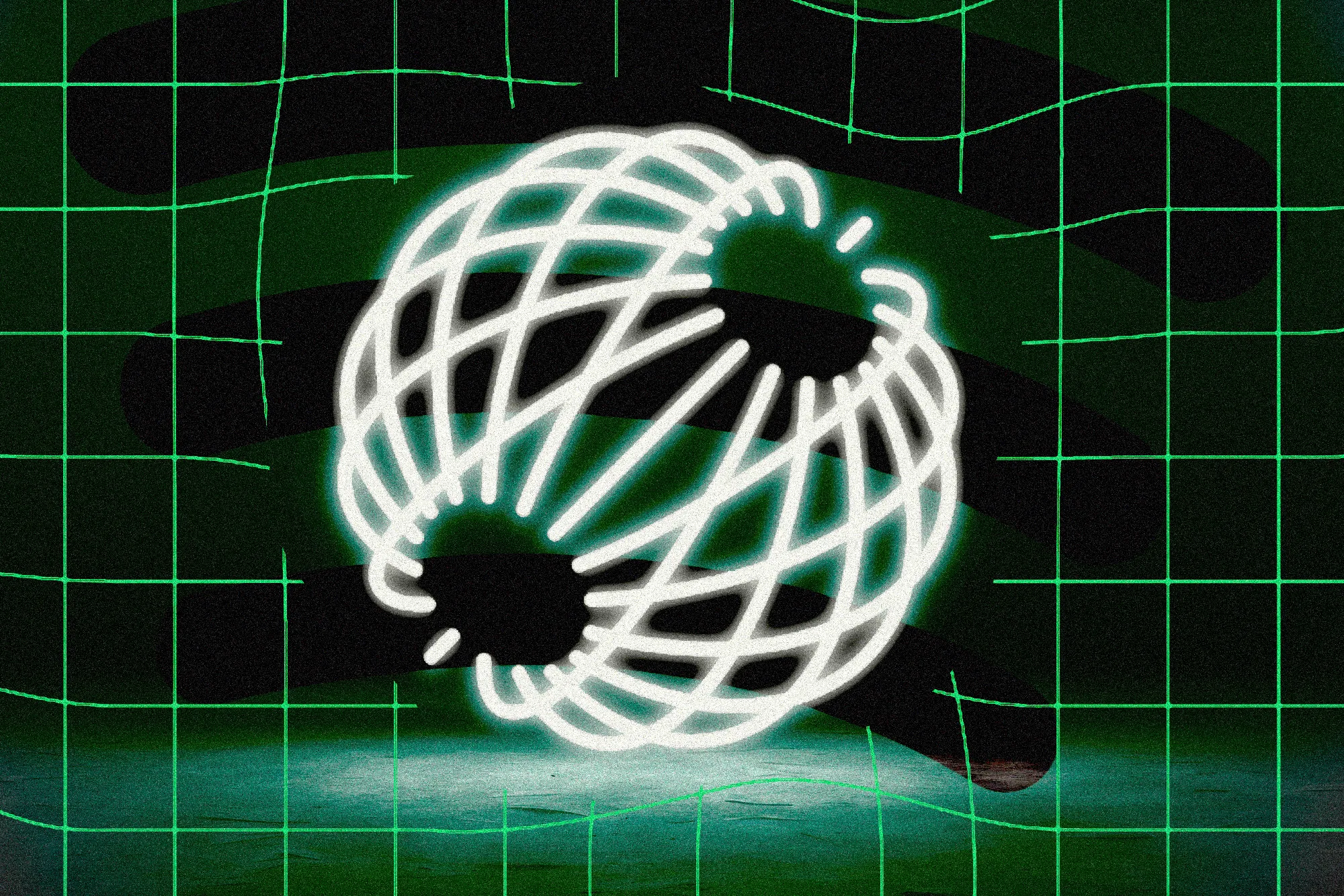

Já passado quase um ano de ter seguido semanalmente os nove episódios de Watchmen (estreou a 20 de Outubro), com a expectativa e ânsia que há muito se havia dissipado em séries como Game of Thrones e Stranger Things, olho para esta série da HBO como um produto totalmente único que empacotou em si grande parte do espírito mediático da década passada — o conflito de mérito entre ramos artísticos separados (i.e. do papel para o ecrã), o debate sobre as virtudes e vícios da sequela narrativa, a celebração do super-herói no espaço cinemático seguido de uma inevitável subversão, e a consciente noção do clima sociopolítico que tinge de turvo as águas da civilização ocidental, com forte ênfase no conflito étnico-racial e de ideologia de género.
Não é curioso que a série tenha surgido no final da década, muito pelo contrário, a sua criação vê-se, em retrospectiva, como inevitável; a conclusão única e final de uma década de entretenimento pautada pela universalização duma cultura online global, de mobilizações virtuais, teorias, conceptualizações, desejos e desilusões massificadas.
Tal como a banda-desenhada de Alan Moore e Dave Gibbons, publicada originalmente em 1986 pela DC Comics, a série perpetua a ideia do vigilante mascarado inserido num cenário que, embora historicamente diferente do real, mantém muito do nosso conflito político e ideológico intacto.
“Como seria se super-heróis existissem no mundo real?” é a pergunta muitas vezes feita pelas nossas mentes em momentos de aborrecimento plácido, uma pergunta que, pelo menos na minha experiência pessoal, se equilibra perfeitamente sobre a linha do fascínio e do medo. Moore e Gibbons propunham em parte o clássico dos mundos aos quadradinhos: cada herói com o seu leque de vilões, num interminável ciclo de porrada que de nada servia senão para encher tablóides e vender brinquedos. Mas algo mais sinistro era-nos também transmitido: o inevitável armamento e doutrinação deste tipo de indivíduos em prol de regimes e ideais políticos, e a sua consequente deificação ou vilificação mediática, consoante os interesses megalómanos de quem detivesse o Controlo de “tudo”.
Usando um variadíssimo leque personagens — Rorschach, um sociopata de moralidade binária com tendências para explosões de violência; Night Owl, o génio inventor que não consegue averiguar um curso satisfatório de vida; The Comedian, o niilista armado que só se sente vivo a rir na face no caos e violência, misteriosamente assassinado; Ozymandias, o homem mais inteligente do mundo, o único vigilante que capitalizou na sua fama após revelar a sua identidade ao público; Dr. Manhattan, o homem azul todo-poderoso, monotónico e com uma perceção não-linear do tempo (o único personagem deste universo com super-poderes) — Moore captura a alienação da altura e reaproveita-a para tecer duros comentários ao Governo de Nixon e ao clima de medo gerado pela Guerra Fria, aliada também a uma crítica consciente da cultura nerd e a fetichização de explosões, murros, one-liners, músculos e donzelas em apuros, perpetuadas por personagens que, se formos bem a ver, no fundo aglomeram inúmeros temas que nunca são inteiramente explorados do momento de concepção até ao inevitável ponto de ruptura.
Poderá dizer-se que foi este o ethos que moveu Damon Lindelof, guionista e produtor de Lost e The Leftovers, e a sua equipa a construir a uma sequela televisiva a uma das bandas-desenhadas mais aclamadas do meio: mais do que criar uma simples continuação do enredo, foi deliberadamente tido em conta o clima social americano do regime trumpiano juntamente com tudo o que este representa e ameaça, e daqui se viria construir um motor criativo que conseguisse justificar os demais conceitos ridículos que a equipa de Lindelof sacasse da manga — ainda estamos a falar de uma obra que se inspira em banda-desenhada, logo tal seria de esperar.
Numa resposta directa: uma realidade alternativa à nossa onde vigilantes mascarados são recrutados pela polícia e usados como forças especiais de investigação/intervenção em casos que o justifiquem. Na sua narrativa, a agente Angela Abar (aka Sister Night, personagem nova da série, aqui interpretada pela galardoada Regina King) investiga o ressurgimento da Seventh Cavalry, movimento de extrema-direita influenciado pelas ideologias e máximas de Rorschach, e o seu sinistro envolvimento com o assassinato do seu antigo capitão de polícia. Em formato paralelo, acompanhamos as desventuras de Adrian Veidt (aka Ozymandias, interpretado por Jeremy Irons), um dos personagens da velha guarda, preso numa mansão britânica sob o olho dum conjunto de homens e mulheres clonados que servem tanto de criados como de guardas prisionais.
Como dá para ver, a série é uma salada de muitos sabores e aromas que num constante processo de autossuperação, quer do temático quer do ridículo. O arranjo visual da cinematografia, repleta de momentos arrojados de prender o olho, aliados a uma imaculada banda sonora por parte de Trent Reznor e Atticus Ross (músicos que encabeçam os Nine Inch Nails) que nos brinda com jazz, soul e EDM, tudo isto serve para vender o mundo arrojado (e muitas vezes estranho) da série. Mas não é aqui que recai o principal brilho da série, mas sim no comentário racial que tece sobre as instituições americanas que sustentam o poder político.
Tal como disse anteriormente, a realidade da série é uma alternativa à real. Concretamente, a divisão das realidades históricas ocorre no ano de 1938, quando vigilantes mascarados começam a ir para as ruas combater o crime (coincide propositadamente com o ano da criação do Super-Homem). Watchmen, no entanto, faz questão de catapultar a sua narrativa na nossa história real. Mais concretamente, no infame Massacre da Wall Street Negra de 1921, em Tulsa, Oklahoma, de onde se estima a morte de 150-300 pessoas negras às mãos de cidadãos brancos e da polícia (com certos elementos de ambos os grupos a terem ligação direta ao Ku Klux Klan). As consequências deste evento manifestam-se diretamente no conflito central da narrativa, repleta de voltas e contravoltas que tanto têm de cativante ao olho regular, como revelam um profundo entendimento do racismo sistémico sinistramente celebrado em solo americano durante décadas, nunca dissipado ou devidamente combatido pelas entidades que carregavam tal responsabilidade ética e legal.
É a combinação das idiossincrasias “comic-booky” com esta perspicaz consciência social que nos é entregue sob a forma duma das mais ambiciosas e entusiasmantes criações televisivas dos últimos, uma visão criativa profundamente holística que tanto presta homenagem à obra de Moore e Gibbons como procura diferenciar-se pelos seus próprios meios e artifícios.
Aos olhos de George Lucas, uma boa sequela não deve ser uma repetição, mas uma rima que conjugue com o que a antecedeu. Se há um verdadeiro triunfo com Watchmen, tanto a BD como a série, é a forma como estas formam um esplendoroso poema que não só rima como um todo, mas também o faz com o mundo que as originou.


Tem 26 anos, tirou o mestrado em Engenharia Informática e de Computadores e trabalha atualmente como engenheiro de dados. A sua real paixão reside nas artes, nomeadamente no cinema, literatura, e videojogos. Planeia eventualmente aventurar-se na área de cinema, mas até lá contenta-se a escrever sobre tudo aquilo que o inspira.
Apoia a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.
Outros artigos de que podes gostar: