

Num período de desconfinamento ainda a medo, recebi mais uma newsletter da Pluto Press. Desta vez dava conta de uma seleção de livros sobre minorias, com descontos simpáticos, que vinha acompanhada de uma mensagem sobre as dificuldades por que a editora centenária estava a passar. Já na prateleira digital, cruzei-me com Mask Off – Masculinity Redefined, um livro do escritor, poeta e educador congolês JJ Bola. Na capa azul, uma máscara cujos traços faciais se confundem com uma figura fálica num tom quase provocatório convida à leitura e sugere, de antemão, que será uma experiência aprazível e com referências a que qualquer pessoa pode aceder. Semanas depois, recebi-o em casa.
Mask Off integra Outspoken, uma série [de livros] que reúne “as respostas para as questões que tens colocado” e que serve de “plataforma para vocês subvalorizadas”. JJ Bola, também autor de No Place to Call Home, um romance que lançou em 2017 e que foi escrito a partir da sua experiência enquanto congolês emigrado em Londres, e de três coleções de poesia, é uma dessas vozes com a audácia de pôr por escrito os temas que ainda só pairavam no ar e que nem toda a gente tinha coragem de assumir publicamente. Neste livro parte, também, de experiências pessoais para questionar a masculinidade e discorre sobre uma série de problemas que lhe estão associados – como a saúde mental, a cultura de gangue, a pornografia e a representação nos media.
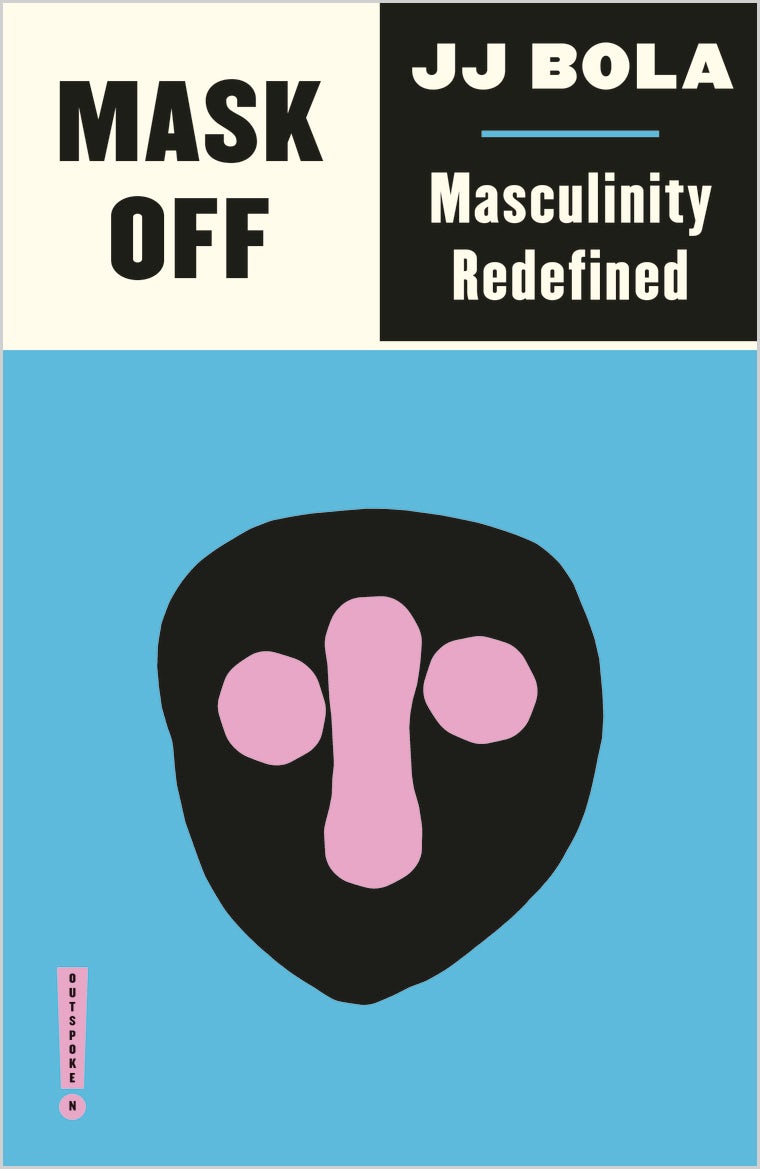
Em Mask Off, JJ Bola relembra-nos que viver numa sociedade patriarcal é difícil e desgastante para todxs, e que nem os homens beneficiam com este sistema. Tendo de assumir uma postura altamente performática desde cedo, jovens rapazes encontram na vida regras que lhes ditam que um verdadeiro homem: não chora, é biologicamente mais forte do que uma mulher, é racional (ser emocional é coisa de mulheres). Neste sequestro de uma identidade ainda em construção, repetem-se frases como “faz-te homem” ou “não sejas maricas”. Dessa repetição constante nascem personagens que, na idade adulta, estão prontxs para subir ao palco da vida e ser o que lhes disseram que era suposto.
JJ Bola nega que os homens sejam todos iguais, mas reconhece que nas sociedades ocidentais as pressões se repetem por igual, e outras intensificam-se com as camadas da vida — seja pela etnia, pela orientação sexual ou pela identificação de género. E é no sentido de olhar para a masculinidade de forma interseccional que se propõe a pensar em masculinidades. No plural. Desta premissa que também apresenta em Mask Off, partimos para uma conversa por e-mail entre Lisboa e Londres — e, no fim de contas, os contextos português e inglês não são assim tão diferentes. A dias de lançar Sei kein Mann, a edição em alemão de Mask Off, e de participar no podcast Word of Mouth da BBC Radio 4, JJ Bola explorou algumas das ideias do seu livro.
Mask Off começa com uma história pessoal de um choque cultural entre as tuas raízes no Congo e a vida em Inglaterra – e a forma como os homens podem ou supostamente devem agir perto uns dos outros – que te levou a questionar a tua própria masculinidade. Escrever este livro e publicá-lo foi, a certo ponto, um desafio interno?
Escrever este livro foi definitivamente um desafio interno. Acho que todos os escritores ou artistas que criam uma obra que é muito pessoal ou próxima deles, ou então que reflete a experiência humana, encontram um desafio interno. Para mim, apesar de este ser um tema sobre o qual já tinha escrito algumas coisas anteriormente, e sobre o qual havia lido extensivamente, fazê-lo por escrito na extensão de um livro fez-me refletir e reconhecer com o meu próprio entendimento da minha masculinidade, virilidade e privilégio masculino.
E o teu livro está repleto de referências feministas; aliás, citas algumas das vozes mais proeminentes do feminismo e dos estudos de género – de Judith Butler a bell hooks. Achas que o movimento feminista, nos últimos anos, contempla a desmistificação da masculinidade, tendo em conta a interseccionalidade entre homens?
Acho que o feminismo fez mais pelos homens e pela masculinidade do que qualquer outro movimento liderado por homens. Ficaria muito feliz de ser corrigido em relação a isto, eu até pergunto sempre em palestras e outros eventos a que vou, que movimento masculino defendeu os homens, bem como a sua libertação da masculinidade tóxica e expectativas opressivas, da mesma forma que o feminismo o fez?
A bell hooks, por exemplo, sempre escreveu sobre a forma como o patriarcado também ataca os homens. Acho que hoje em dia, se nos queremos libertar, é o papel do homem desconstruir e combater a estrutura opressiva do patriarcado, porque somos nós que o mantemos de pé.
“You know it makes me unhappy / When brothers make babies, and leave a young mother to be a pappy / And since we all came from a woman / Got our name from a woman and our game from a woman / I wonder why we take from our women / Why we rape our women, do we hate our women?” – “Keep Ya Head Up”, uma faixa do Tupac, foi uma peça importante (e uma das primeiras) no teu puzzle para identificar e analisar o patriarcado. Ainda que esta letra tenha que ver com desigualdade de género e o empoderamento das mulheres, algumas músicas de rap perpetuavam (e continuam a perpetuar) a misoginia. Achas que isso pode ter um impacto nos rapazes mais jovens que as ouvem? Uma vez que se trata de criação artística, quais são as fronteiras entre dizer o que se quer e ter em conta quem te pode ouvir?
Penso que o rap (mainstream) se tem acomodado e tornado num produto que vende masculinidade tóxica e hipermaterialismo, entre outras coisas. Este tipo de representação influencia, absolutamente, jovens rapazes e raparigas, homens e mulheres, no que diz respeito à (auto) percepção e aspiração, contudo, isto não é exclusivo do rap. Tantos dos media mainstream perpetuam estes ideais tóxicos que não ajudam [a combater a toxicidade] — seja na música pop ou nas comédias românticas. Estas formas de arte são comumente usadas como um escape à realidade e, frequentemente, a representação é desmedida. Contudo, há muitas formas positivas de música e representação que ajudam a desafiar o nosso pensamento e as nossas perspetivas. Artistas/músicos como Akala, Lowkey ou Ty (Descansa em Paz), por exemplo, estão dentro dos que desafiam a sociedade e falam a verdade dirigidos ao poder, inspirando muitas vezes algumas pessoas a terem políticas mais progressistas. Só temos de questionar porque é que algumas coisas (negativas) têm uma representação mainstream e de larga escala, e as positivas não?
Há uma criança que conheço que tem 8 anos e se sente pressionada a jogar videojogos violentos porque é o que os seus amigos fazem (ainda que ele prefira jogar The Sims e ver Steven Universe, uma série televisiva queer friendly criada por Rebecca Sugar para o Cartoon Network). Achas que ao crescer sendo um miúdo negro na Europa essa pressão para ser violento e “um rapaz a sério” é mais alta?
Sinto que sendo um jovem rapaz negro, a sociedade estigmatiza-te injustamente e estereotipa-te enquanto agressivo, violento ou perigoso, por isso a tua simples existência é percepcionada como uma ameaça. Nas representações que vês nos media, encontras isto a ser perpetuado regularmente, mas raramente vês as representações positivas que são mais cuidadosas, criativas e com mais compaixão, que claramente existem.
Enquanto criança, isto impacta-te, especialmente se fores alguém com 8 anos; a teoria da profecia autorrealizável entra em detalhes sobre isto. E portanto, devido ao medo de ficares mais isolado, podes sentir a pressão de te conformar com estes estereótipos e agir performaticamente, de acordo com as expectativas que a sociedade tem para ti — mais do que em conformidade com quem és realmente. Quanto a esse jovem rapaz, acho que tem de lhe ser mostrado que há muitas maneiras de ser, e que não mudas quem és se preferires jogar The Sims em vez de Call of Duty, ou ver Steven Universe em vez de uma série agressiva. Temos de permitir que as pessoas sejam elas mesmas, e criar espaço para isso, mais do que encaixá-las em caixas estereotipadas em que a sociedade as força a estar, e depois questionar porque será que elas se comportam assim.
As tensões entre a arte e a educação não existem apenas no agora. Enquanto poeta, educador mas também enquanto membro do público, como é que olhas para essas tensões, em conteúdo relacionado com masculinidade ou misoginia?
A arte é um reflexo da realidade em que vivemos, de uma forma ou de outra. Ajuda-nos a criar sentido e a digerir o mundo à nossa volta, mas também nos pode levar a imaginar novas e progressivas formas de ser; maneiras de olharmos para nós mesmos, através dessa arte. Eu acho que a arte, particularmente a escrita e o registo diário, permite os indivíduos a serem reflexivos e a partilhar, expressando, as suas emoções. Enquanto poeta, educador e membro do público, tenho-me sentido profundamente impactado pela arte, e encorajo sempre homens mais novos, e toda a gente, a escrever, a registar as suas emoções, mas também a ler; ler histórias que vão muito além da realidade em que vivem e da sua experiência pessoal. Vai ajudá-los a abrir os horizontes e ter percepção de quem são realmente.
A saúde mental é ainda uma área subestimada para alguns sistemas nacionais de saúde. Acreditas que um investimento na mesma iria contribuir para um debate mais aberto sobre doenças mentais nos homens – e talvez abolir a ideia de que “os homens não choram”, e outras relacionadas?
Sim. Se as instituições e organizações de saúde mental tivessem mais investimento, e os problemas relacionados com saúde mental fossem mais abertamente discutidos, poderíamos ter uma sociedade melhor e mais saudável, não apenas para as nossas mentes, mas também para os nossos corpos — já que a saúde mental tem, definitivamente, um impacto na nossa saúde física. O problema é que, apesar das conversas em torno da depressão, ansiedade, suicídio, etc, estarem a evoluir e a ser discutidas cada vez mais e em plataformas com mais escala, a mudança em torno disto ainda é muito lenta. E ainda há muita resistência, parece-me a mim, em procurar ajudas como a terapia. A ideia de que “os homens não choram” é baseada na premissa que os homens não têm emoções, são lógicos e fortes; que eles não sofrem, não sentem ansiedade, preocupação ou dor. Mas os homens estão tão expostos e sofrem dessas coisas tanto quanto outra pessoa qualquer.
Em 2019, a OMS revelou que cada ano aproximadamente 800 mil pessoas cometem suicídio, e que este é a segunda causa de morte entre pessoas dos 15 aos 29 anos. Até que ponto a persona social, incluindo o eu performático (que usa uma máscara) nas redes sociais, contribui para esses números – especialmente entre homens?
O suicídio é um fenómeno muito complexo, e muito raramente, se alguma vez, está relacionado com um fator. É difícil dizer até que ponto um fator tem um papel num suicídio, já que os dados raramente apontam apenas um fator causal, contudo, as estatísticas revelam que ainda que os suicídios cometidos entre homens e mulheres ocorram aproximadamente no mesmo número, os homens morrem por suicídio numa taxa três vezes mais alta. Isto acontece sobretudo devido ao facto de os homens o fazerem através de meios mais violentos e, portanto, é mais provável que sucedam na sua tentativa. Isto, mais uma vez, está relacionado com a socialização forçada em torno da agressão e do comportamento violento que é imposto aos homens, e a fachada da força, também conhecida como uma máscara, tanto nas redes sociais como na vida pública. Para os que estão interessados em ler mais sobre este tópico, recomendo o trabalho do Dr. Thomas Joiner.
No capítulo 6, “See you at the crossroads: Intersections of masculinity”, mostras o impacto que o colonialismo teve, e tem, na masculinidade tóxica, na forma como os colonizados olham para a sexualidade mas também na homofobia e transfobia. Quão relacionados estão estes temas, hoje em dia, com a segregação e novas formas de colonialismo?
Nas sociedades pré-coloniais, ao longo de África, da Ásia e das Américas, por exemplo, género e sexualidade eram vistos como fluídos. Gostar de alguém do mesmo sexo ou género não era criminalizado, nem visto como um tabu ou algo errado. Com o decorrer do colonialismo, com a conquista europeia, vieram os missionários coloniais que impuseram ideais religiosos restritos e erradicaram essas crenças de fluidez de género e sexualidade. Muitas vezes as pessoas, hoje em dia, não sabem estes factos, e estão a tentar reconceptualizar um novo mundo, que na verdade já existiu. Penso que o mundo em que vivemos neste momento é em grande parte um reflexo dos poderes coloniais, e dos ideais de civilização e normalidade que eram forçosamente impostos às pessoas do Sul Global, bem como de regimes estritamente opressivos. Para que consigamos avançar, temos de entender o que foi perdido, e depois recriar coisas novas.

Com o crescimento de plataformas como o Pornhub, a pornografia começou a ser vista como algo cool, com menos tabu envolvido. Ainda assim, algumas vozes criticaram a cultura masculina da pornografia mainstream e até vídeos de violações foram encontrados lá [no Pornhub], mas pouco tempo depois eles começaram a falar sobre a importância do orgasmo feminino e tornaram-se não só virais mas também reconhecidos positivamente por esta jogada. Como é que se lida com esta ambivalência no capitalismo?
O capitalismo acaba por reproduzir a desigualdade e exploração. E a questão que faço a mim mesmo é: quem são as pessoas que realmente beneficiam, é a maioria ou uma elite? E isto é algo que definitivamente se reflete na pornografia/ indústria de entretenimento para adultos. Há muitas histórias de vídeos de violação, como acima mencionados, ou atores adultos, sobretudo mulheres, que não foram pagas pelo seu trabalho. Acho que a Mia Khalifa tornou pública a história de como ela tem sido explorada por essa indústria recentemente. Também é importante mencionar que há um consumo muito grande de pornografia e conteúdo para adultos online, mas muito pouca proteção para trabalhadoras do sexo. E portanto há uma linha muito fina, porque mesmo que existam alguns progressos em termos do diálogo sobre o assunto, o que é que isto representa para a realidade vivida por raparigas e mulheres consequentemente? Existe algum outro modo, talvez, que possamos imaginar para levar adiante essas conversas, sem as violentas consequências que essas mulheres enfrentam? Há alguns dos homens que perpetuam esses atos sexuais violentos que sejam responsabilizados? São questões que temos de nos colocar até que cheguemos a respostas satisfatórias para todos.
Um artigo publicado recentemente na Vox conta que alguns homens nos EUA se estão a recusar a usar as máscaras que os protegem da Covid-19, porque têm medo de mostrar que são fracos – e há até um hashtag contra essa atitude, #realmenwearmasks. É interessante como às vezes as pessoas tentam acabar com estereótipos usando outros estereótipos (homens verdadeiros – qualquer coisa). Isto revela que mesmo quando as pessoas estão a tentar combater o patriarcado estão envolvidas no sistema?
Ainda não tinha visto isto, por isso não posso comentar muito detalhadamente, mas parece-me ser um reflexo da mesma razão pela qual os homens grande parte das vezes não procuram tratamento (até ser absolutamente necessário) para condições de saúde física, ou por dificuldades de saúde mental. É uma continuação da ideia de que somos fortes, enquanto homens, e que sobrevivemos a qualquer coisa. Quando na verdade, o corpo humano é frágil, independentemente do género, e ser capaz de fazer 50 flexões, provavelmente, não te vai proteger de uma doença respiratória viral.
O desporto é cada vez mais mediatizado e, nos casos português e inglês, o futebol ganha um peso central. No teu livro falas sobre como diferentes modalidades desportivas reforçam a ideia de masculinidade, de ter de ser “o homem desportista forte”. Quão importante seria ter mais jogadores de futebol a assumirem-se publicamente como LGBTQI+?
Acho que seria brilhante ter mais jogadores de futebol mainstream a identificarem-se enquanto LGBTQI+, ou a apoiar abertamente a comunidade. Seria transformador no desporto. Mas também gostava de ver outras modalidades, menos agressivas, a ter um papel igualmente central na cultura desportiva mainstream. Quero ver o ballet, a dança em geral, e por aí fora; desportos que encorajem a uma cultura de empatia, mais do que de agressividade e competição, serem igualmente promovidas e popularizadas.
Com a ascensão da extrema direita e de movimentos populistas na Europa, acreditas que há uma dificuldade acrescida para redefinir aS masculinidadeS num futuro próximo?
As ideologias políticas de extrema direita e os movimentos populistas são o reflexo de uma masculinidade política muito tóxica, de dominação e medo – o mesmo tipo de masculinidade política tóxica que conduziu ao colonialismo e às guerras mundiais. É que estes homens acham que a dominação é algo natural e normal, e que existe uma hierarquia racial, também relacionada com o género. Isso realmente torna mais difícil redefinir as masculinidades no futuro, mas não é impossível. As pessoas têm que ver exemplos que vão além de sua visão limitada do mundo, e ver que também o mundo progride mais quando aprendemos uns com os outros e compartilhamos culturas, conhecimento e compaixão.
Não existe uma única cultura neste mundo que tenha sobrevivido em absoluta exclusividade, nem um único poder ou reino. Portanto, a questão é: como vamos desta era de ódio e dominação para uma nova era de compaixão, compreensão e empatia?
_
Nota: falar sobre a masculinidade, desconstruindo-a, pode ainda ser um tabu. Se este tema te interessa, além de Mask Off, que podes encontrar aqui, também podes mergulhar nesta reflexão através do documentário do Netflix The Mask You Live In (2015) de Jennifer Siebel Newsom, e nesta peça do The New York Times, Boys to Men: Teaching and Learning About Masculinity in an Age of Change.


Carolina Franco tem escrito sobre cultura, juventude e direitos humanos. Cada vez acredita mais que está tudo ligado. É jornalista colaboradora no projeto de literacia mediática PÚBLICO na Escola, e co-editora do Shifter. Estudou Ciências da Comunicação no Porto, de onde é natural, tem pós-graduação em Curadoria de Arte e está a completar mestrado em Antropologia - Culturas Visuais com uma tese sobre a importância da representatividade trans* no audiovisual.
Apoia a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.
Outros artigos de que podes gostar:

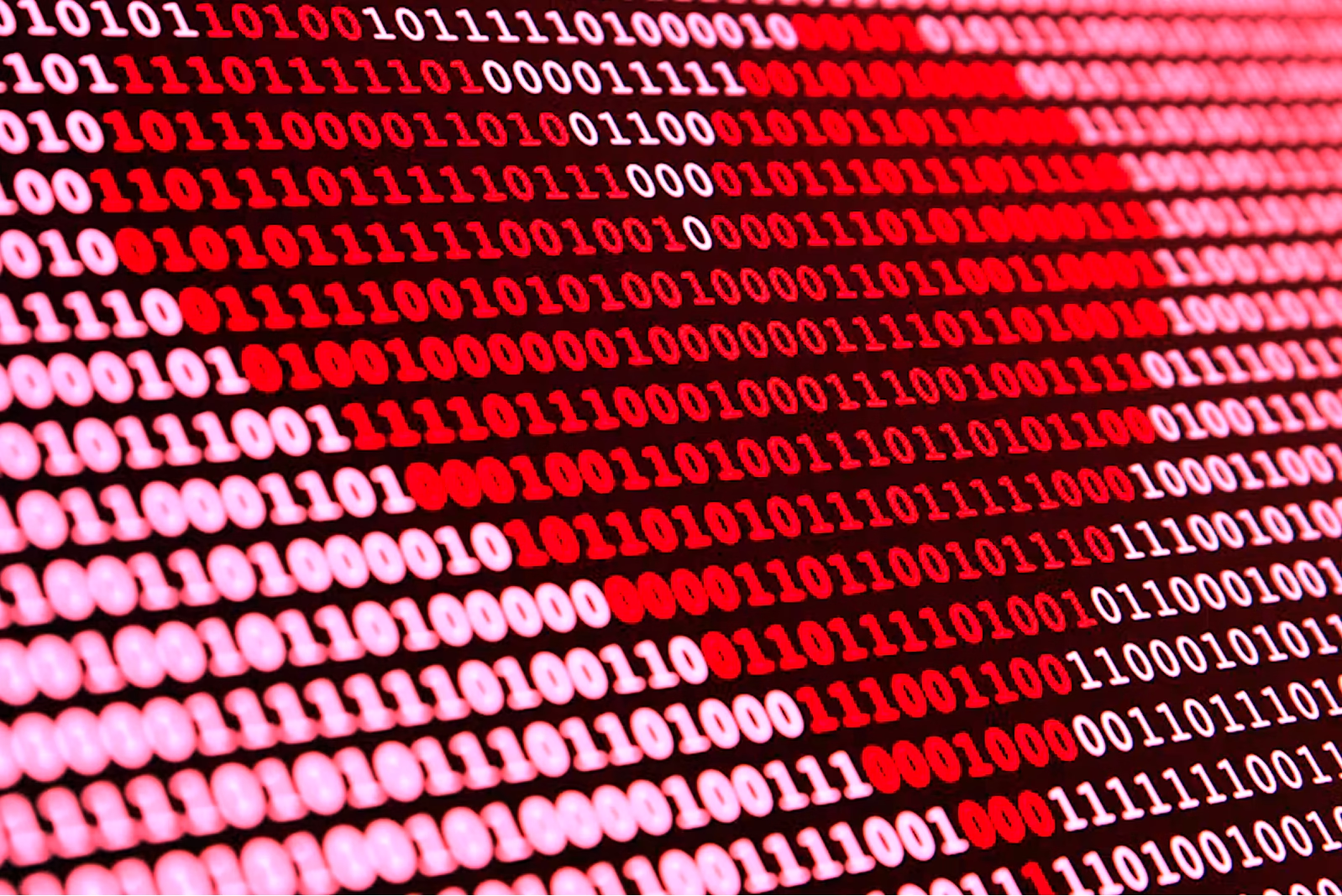


You must be logged in to post a comment.