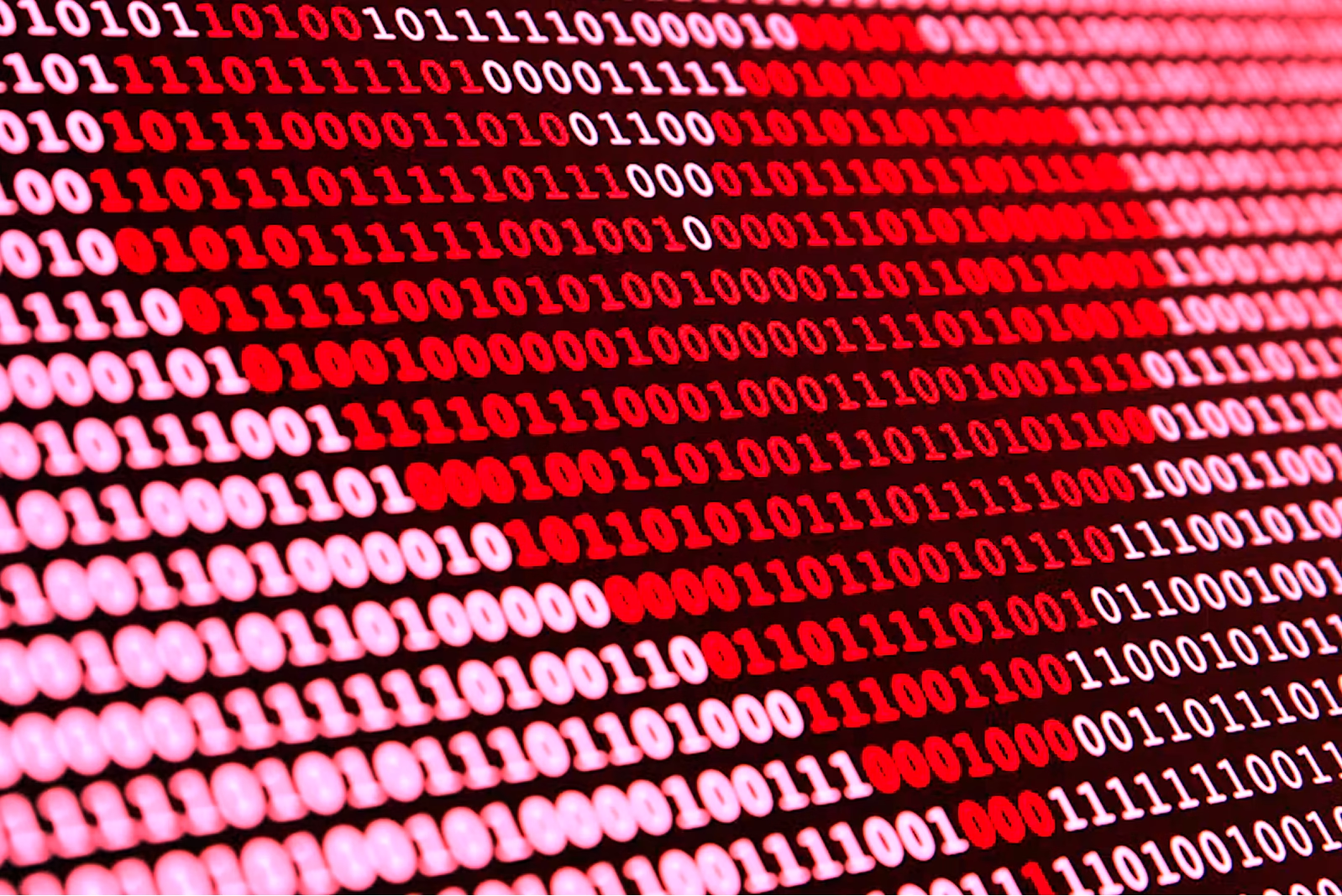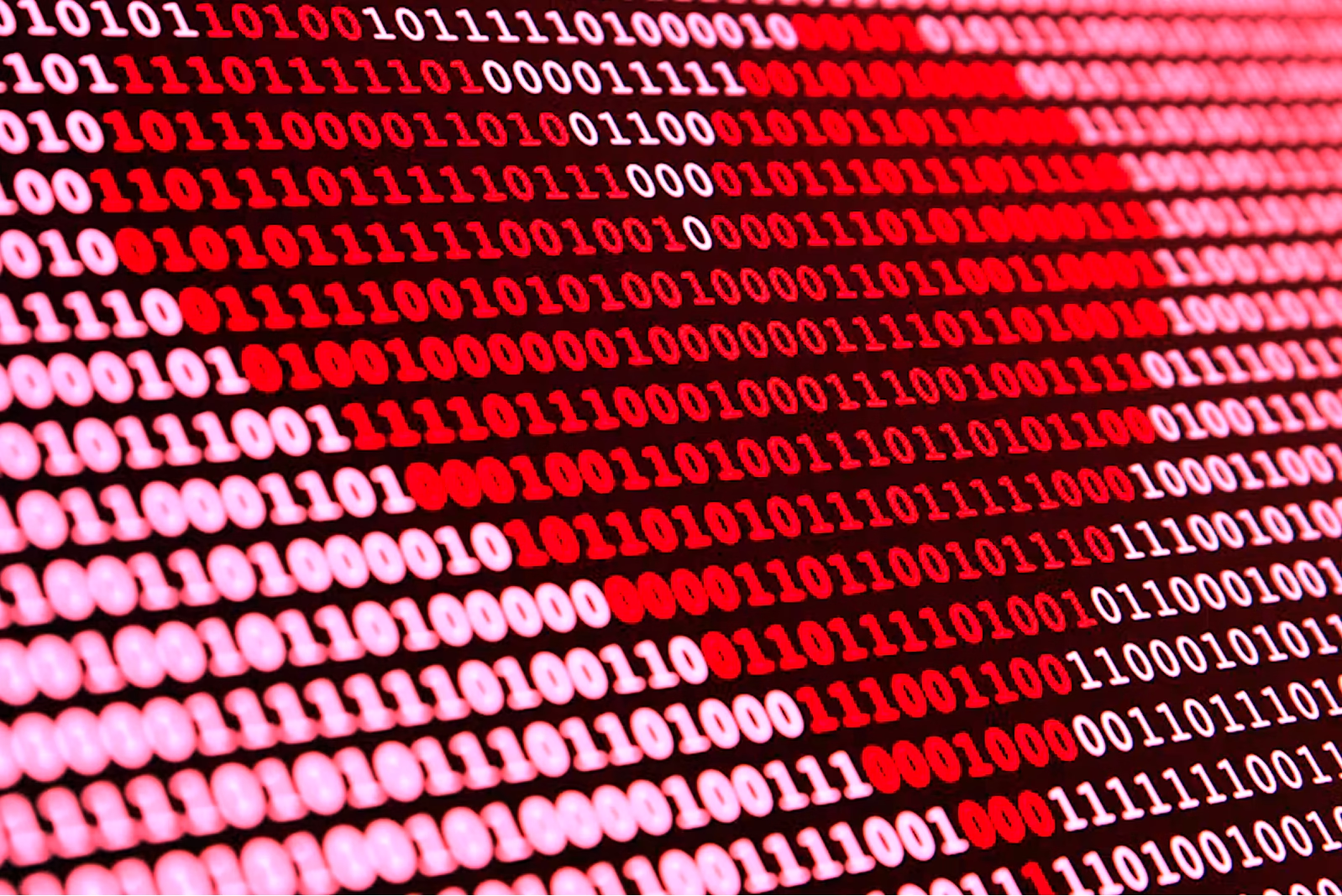

Durante os meses de pandemia, todos os problemas das sociedades contemporâneas parecem ter sido postos em pausa, ou varridos para debaixo do tapete, para que as atenções e os esforços se concentrassem em mitigar os efeitos de um elemento biológico, patogénico, estranho até aqui à humanidade. Tudo decorria dentro de uma certa normalidade, com as lutas de sempre confinadas aos limites das casas daqueles que cumpriam o aconselhável recolhimento. Tudo mudou quando nas ruas de Minneapolis, no Minnesota, num claro uso excessivo e desproporcional de força, um polícia assassinou George Floyd, um homem negro de 46 anos. Tudo ficou registado num longo e agonizante vídeo em que se ouvia da voz de Floyd as lacónicas palavras “I Can’t Breath”, que acabaram de servir de mote a uma onda de protestos antirrascistas como nunca antes se testemunharam.
Os primeiros passos de expansão da causa deram-se, naturalmente, nos Estados Unidos da América, com a organização e o movimento Black Lives Matter a assumir a liderança tácita de mais um momento de revolta da comunidade afrodescendente natural dos EUA. Cidadãos, na sua maioria jovens, juntaram-se às centenas e milhares um pouco por todas as cidades e encheram as ruas de mensagens de revolta contra a brutalidade policial, de apelos ao desfinanciamento das polícias e de palavras de ordem por um mundo com mais justiça e igualdade. Rapidamente essa mensagem ganhou eco noutros cantos do mundo, como Berlim, Londres ou Sydney, e Lisboa também não foi excepção. O movimento entrou ‘em grande’ em Portugal com a mobilização gerada no Instagram — os quadrados pretos da #BlackoutTuesday, resultantes de uma iniciativa da indústria musical, assinalavam os aliados em torno da causa nos feeds; e a massificação do movimento rapidamente se transformou na organização de várias manifestações por todo o país, apesar da contingência pandémica.
Nuna Livhaber e Carlos Pereira acabaram por se tornar, tacitamente, duas das figuras deste momento. Nuna no Instagram, Carlos no Twitter, assumiram um lugar de fala e reivindicação. Sem uma estratégia para tal, acabaram por se ver no epicentro de uma causa que sempre foi sua e que, como em poucos outros momentos, atingia um mediatismo quase transversal a todos os estratos da sociedade, uma combinação rara em Portugal. Nuna e Carlos representam as vozes e os discursos sistematicamente marginalizados e afastados do centro nevrálgico do debate social (os jornais, as TVs), que, perante um fenómeno desconcertante para a ordem social, acabaram por ter o espaço e o tempo necessário para expor os seus argumentos.
Antes da morte de George Floyd, Nuna tinha uma conta pessoal com 20 seguidores, na sua vida “tranquila e pacata”, para os seus amigos próximos. Depois de ter começado a mobilização global pelo antirracismo, e incentivada por uma situação de discriminação vivida por uma amiga, Nuna fez um primeiro vídeo em jeito de desabafo para os amigos, que foi amplamente partilhado, e fez com que ganhasse quase 1000 seguidores do dia para a noite — “de repente acordo e até pensava que estava no Instagram errado”. Foi depois disso que, incentivada por quem a rodeia, decidiu abrir o seu perfil e tornar os seus desabafos públicos. Já Carlos era especialmente activo no Twitter onde continuou a fazer o que sempre fazia, valendo-se desta vez de uma atenção não-solicitada, como o próprio confessa.
“Em entrevista ao Público eu dizia para não fazerem de mim um activista porque eu não sou um herói de ninguém, eu não quero salvar nada, sou o gajo mais medroso que há. Passado um ano, dou por mim e sou a cara de uma cena. Porque passado um ano não mudou nada e as outras pessoas continuam sem se chegar à frente. (…) Eu sou a figura desta causa por exclusão de partes — porque há os outros mas acabam por ser demasiado agressivos para serem vistos como aliados da sociedade.”
RACISMO 20. pic.twitter.com/VluU9c1EWx
— Carlos Pereira (@carlosmpereiraa) June 7, 2020
Para ambos, o ativismo não é novidade, muito menos a causa antirracista que carregam, voluntária ou involuntariamente, em cada passo que dão e em cada criação que imaginam. Nuna é actriz e encenadora, e desde 2015 que assimila no seu corpo de trabalho as questões e tensões que a sua vida lhe dá a conhecer, por experiência directa e indirecta.
Antes deste momento que agora vive, e no qual, por exemplo, tomou conta da página de Instagram de Sara Sampaio no dia da manifestação antirracismo em Lisboa, ou faz lives regulares com Beatriz Gosta ou, mais recentemente, com Patrícia Mamona, Nuna chegou a ter outra página de Instagram, e mais do que uma página no YouTube onde já falava sobre os assuntos que agora a tornaram popular. Acabou por apagá-las sempre por questões de ataques de ódio, ou falhas de interpretação das suas mensagens, normalmente relacionadas com racismo, homofobia ou feminismo. “Agora, uma das primeiras mensagens de apoio que recebi foi de uma das pessoas que me fez eliminar o meu canal de YouTube no passado”, diz, referindo um problema que é transversal à consciencialização de que fala no seu trabalho, uma “falta de noção no impacto que se tem na vida das pessoas.”
https://www.instagram.com/p/CC1APofh9ye/
Carlos também reconhece a dificuldade para tocar no assunto do racismo em tempos normais, e confronta a forma como a mensagem é recebida nos diferentes momentos. O humorista, num limbo característico entre a piada pura e a metáfora dura, diz que vê na sociedade portuguesa uma espécie de pacto negacionista do racismo, que envolve e coordena a agenda de todos quantos têm poder de opinar em Portugal — incluindo os seus pares, humoristas. Neste caso, aponta o facto de o trigger vir de fora como justificação para uma mediatização tão transversal mas não esconde o receio de que tudo volte ao letárgico normal: “Há uma espécie de pacto em Portugal sobre não haver racismo. Dizemos todos que não há racismo em Portugal, então fica muito difícil estabelecer o ponto de partida dessa discussão, porque há esse pacto. Quando alguma coisa acontece e algumas pessoas falam, começa logo a dizer ‘ah mas isto e aquilo, não tinha passe, falou mal com o motorista’. Arranja-se uma quantidade de argumentos para que não se ponha em causa esse pacto. Agora, quando vem lá de fora, é mais fácil refletirmos porque não temos de tomar partido — cá dentro para entrares na discussão tens de tomar um partido, estou deste lado ou estou daquele lado — quando vem lá de fora é uma coisa muito mais fácil, muito mais abstracta.”
Nuna diz o mesmo, associando esse fascínio pelo estrangeiro ao conceito de fake allyship (falsa aliança): “A forma como se lidou com o racismo cá é quase comparável com a moda dos cupcakes, e dos cupcakes vamos para o açaí e depois para a tapioca. Nós temos muito este fenómeno. Chega aqui qualquer coisa do estrangeiro e nós idolatramos, consumimos e quase festejamos por também fazermos parte, e passado um bocado ‘qual é o próximo?’ Aconteceu com o movimento #MeToo, por exemplo.”
Curiosamente, ou não, em duas conversas desencontradas, encontram-se os mesmos exemplos para justificar o mesmo fenómeno, o do silêncio. “O português ia procurar o motivo que fosse para poder não ter que ter este debate. No caso do Marega foi ‘ele não foi profissional’. No caso de Cláudia Simões foi ‘porque é que ela não tinha o passe’, ou ‘isso podia acontecer a qualquer pessoa’, ‘mas porque é que têm logo de dizer que é racismo’. É logo a ferramenta do privilégio branco, da fragilidade e supremacia branca de desviar o assunto para não ter de se focar no que tem de se falar.” Nuna fala em “falta de empatia e de vontade de mudar de verdade” em Portugal, Carlos acaba por corroborar a ideia aludindo a Dave Chapelle, provavelmente o mais famoso comediante negro: “quando é o Chapelle a falar disto é o maior, é “o Chapelle a pôr o dedo na ferida”, quando é o Carlos Pereira é um ‘chato do caralho’”. Ambos propõem a mesma ideia de que aos portugueses interessa falar de assuntos do mundo mas não do seu próprio país.
Tanto Nuna como Carlos reconhecem assim uma resistência da sociedade portuguesa em debater o racismo — para além da dificuldade evidente de alguns sectores da mesma em sequer assumir a sua existência. O humorista relaciona esta dificuldade em debater abertamente o assunto com o grande vínculo identitário entre a ideia nacional e o tempo dos descobrimentos, bastante forjada durante o período do estado novo. “Esse debate construtivo só será feito quando perdermos o medo desta identidade frágil. Porque quando falamos sobre a forma como o colonialismo foi feito, a resposta é sempre ‘pronto lá estão a tirar-nos tudo’ porque parece que sem isto não somos nada. A ideia que fica é como uma birra de criança porque ‘nos querem tirar a nossa melhor coisa’.”
Nuna, depois de recordar os insultos e as mensagens que recebia nos anteriores canais, prefere destacar a ideia de que este é um assunto de que se pode falar, sem falar directamente, e de que por vezes essa até é a melhor forma de o fazer — porque, confessa, o trabalho reivindicativo constante acaba por cansar.
“Essencial é que as pessoas percebam que isto não é só partilhar no Instagram, partilhar aquele site, é levar isto para o dia-a-dia.” E como é que se pode levar isto para o dia-a-dia? “O pessoal está sempre a ver séries novas. Eu partilhei uma lista de séries no meu perfil, por exemplo. Porque também cansa ser sempre esta conversa chata de ativismo, a nós também cansa. Se calhar mostrar um filme à família e depois ter uma conversa sobre isso”, refere, relembrando o fenómeno “inesperado” da série When They See Us de Ava DuVernay para a Netflix, no ano passado, útil para se perceber os conceitos de racismo sistémico e estrutural.
A jovem acredita num progresso par a par e num contágio pessoa a pessoa; que cada conversa pode ser determinante e que está na altura de não ter medo de as ter. “Tem de estar presente nas conversas. Ler livros, passar livros entre amigos. E depois a luta que é sempre a mais difícil: o pai disse alguma coisa, vai ter de haver uma conversa sobre isso; a avó fez um comentário, vai ter de se falar sobre isso. Com a consciência de que vai ser difícil. É por aí. Ou seja, ser um assunto presente no dia-a-dia mais do que numa partilha de Instagram, que isso já sabíamos que ia passar”.
Para além dos casos mais visíveis, tanto Carlos como Nuna chamam à atenção para a problemática do racismo sistémico. Para ambos é claro que sendo este um problema global precisa de uma resposta ao mesmo nível e todos têm de ser chamados a agir. A amplitude do problema expõe-se na distância entre as suas respostas. Carlos fala-nos da sua experiência pessoal nos primeiros anos de vida, da vivência de bairro que mais tarde foi aprendendo a analisar; para explicitar o seu ponto recorre até a um bit de humor — “Como é que crias um bairro com prédios todos iguais, metes lá pretos e ciganos, e depois lhe chamas bairro social? Bairro social é o Chiado onde as pessoas têm vontade de socializar” — que rapidamente se converte num discurso sério quando fala do estigma quando se abate sobre os seus moradores. “As pessoas que estão nestes bairros são logo estigmatizadas, querem arranjar um emprego e não dá, querem estudar e não dá, depois vão pelo caminho da marginalidade e dizem ‘olha, bandidos’. Quer dizer, todo o caminho parece que vai dar aqui, a sociedade faz o resto e depois queixamo-nos que são todos ladrões?! Mas são todos ladrões porquê?!” — remata num discurso visivelmente intrigado, acusando os decisores políticos de falta de tacto.
Quem é que decide o nome dos Bairros sociais em Portugal?
Bairro amarelo
Bairro da liberdade
Bairro Portugal novo
Quinta do mocho
Quinta da princesa
Bairro branco
Bairro Casal da Mira (mira da polícia?)Parece a gozar.
— Carlos Pereira (@carlosmpereiraa) July 5, 2020
Já Nuna exemplifica com as pequenas histórias que foi vivendo na pele “coisas como alguém que é deixado sozinho num determinado momento dizer ‘e eu sou preto?’” e de outros pequenos fenómenos culturais que observa: “Esta troca cultural, não seria um problema, se não tivessem sido forçadas durante séculos ideias eurocentristas às minorias: não pode trabalhar se tiver tranças ou afro, há escolas que não aceitam esse cabelo. E quando a pessoa não luta contra esta discriminação que existe na sociedade e contra o abuso que há sobre outras pessoas, então também não tem o direito de as usar. É a vida das pessoas. Há uns anos o rap e o crioulo eram mal vistos, até ataques de ódio houve motivados por isso. Agora ouve-se e fala-se porque é moda sem qualquer noção da história e das palavras e já não é problemático, é exótico e divertido.”
Nuna relaciona esta aprendizagem social com uma aprendizagem mais profunda, interior e de cada um, um processo de emancipação, no seu caso, pelo qual também teve de passar. “Nos últimos 5 anos comecei a reeducar-me. Por isso é que eu falo da importância de perceber o racismo enraizado. Há muita coisa que as pessoas negras ou outras minorias acham que têm de engolir, ou que são aquilo que a sociedade espelha tantas vezes. O racismo é um folhado e há muitas camadas que nós não vemos e as experiências não são todas iguais, mas há padrões e há estruturas.”
https://www.instagram.com/p/CCO22VwBfDL/
Este ponto de tensão — entre o pensamento e a expressão — de que fala Nuna, também Carlos aborda, numa outra toada, a de quem se junta a causa convicto da sua posição antirracista — “O que eu sinto que acontece com esta malta jovem é que acham que não são racistas, e pior ainda, têm a certeza. São pessoas que têm demasiada certeza e entra-se num discurso de ‘eu não sou racista, eu sei os termos e sei que sou privilegiada, retweetei algo sobre o meu privilégio, sei que devo ir à manif’… Estás a perceber? São pessoas que estão extremamente alinhadas com o que vêem que deve ser feito, mas depois são as mesmas pessoas que beneficiam com o sistema [racista]. E não é por aí mas acaba por ser.” explica Carlos aludindo às tais camadas do racismo de que, na outra conversa, Nuna nos havia apresentado, e à forma como o debate se superficializa assente em certezas.
Sobre o papel do universo capitalista as opiniões mais uma vez convergem mas sem se tocarem, num paralelismo mais uma vez revelador. Nuna queixa-se da inércia das marcas, especialmente em Portugal, e dá como único bom exemplo o Netflix Portugal; Carlos critica de uma forma geral que as marcas só se lembrem destes assuntos quando estão na ordem do dia. Se ambos concordam que o seu papel pode ser importante ao trazer o assunto para o mainstream, ambos revelam algum desconforto e preocupação de que a sua luta seja mercantilizada pelas grandes empresas que vêem nestes movimentos orgânicos uma forma fácil de se associarem ao “lado certo da história”.
Se essa aliança é uma forma legítima de, marcas e indivíduos, começarem a interessar-se e a juntar-se ao movimento? “Essa allyship permite talvez a entrada no sistema para se começar a mudança a partir de dentro. É sempre um começo”, diz Nuna. “Mas não é suficiente e até pode ser perigoso. Empresas que dizem ‘estou contigo na tua luta pelos direitos humanos’ para fazer dinheiro com isso.”
https://www.instagram.com/p/CCliaY8Bifr/
“As grandes empresas pensam que têm de fazer alguma coisa e o que acontece é que reúnem os seus departamentos de comunicação e pensam ‘quem são os artistas negros que agenciamos, ou atletas, ou atores, será que dá para fazer uma campanha? Epá isso sai muita caro’ e aí surge ‘e se tirássemos o filme do portfólio? Quem tira? Tiras tu, Peter?’ e pronto, está feito, a HBO está do lado certo. Mas em termos práticos isto não acrescenta nada ao debate, o filme já está aí, quem quer ver vê, o filme foi feito há não sei quantos anos. Estas grandes empresas que têm um papel muito mais importante, pela questão económica e porque mobilizam muita gente e tem um papel fundamental na sociedade, podiam fazer muito mais do que só tirar um filme do cardápio, esse é o caminho mais fácil.”, diz Carlos.
Apesar de crítica, Nuna aponta para alguns sinais positivos no horizonte, enfatizando um movimento de mudança no seio do capitalismo que na sua opinião, começa a dar os primeiros passos. “A segregação de anos e anos não permitia ter o mesmo poder de criação de marcas, o mesmo poder no mercado de trabalho, que agora começa a aparecer. E também há uma demanda muito maior por marcas com posições BLM friendly, LGBTQ+ friendly, eticamente responsáveis, sustentáveis. E por isso essas marcas ou se reformam ou começam a ficar para trás, porque temos Fentys a aparecer [marca de maquilhagem da Rihanna]. Quando a Fenty apareceu tivemos todas as outras marcas a pensar ‘espera aí, há mais cores de pele’.”
Nuna refere que a “desculpa do debate importado” é recorrente. “É um bode expiatório e uma minimização do problema” diz, mencionando de seguida a importância de se saber História para se comentar História. “Se não sabe a história nem luta pelas pessoas terem direito à sua própria história e se não faz uma utilização de apreciação da história, então não tem direito a usá-la.”
Acaba por interligar essa discussão com o debate entre apropriação cultural e homenagem, lembrando polémicas com o uso da chamada blackface em programas de entretenimento televisivo. Nuna diz que os participantes acabam por “empurrar para debaixo do tapete a história” apagando fotografias de actuações em que tinham tido a cara pintada de negro. “Há muito a conversa de que é uma homenagem, e é arte e é cultura, e como eu disse num dos meus vídeos, ir ao Zoo ver o pretito e dar bananas ao pretito também era cultura e também se ia ao fim-de-semana com a família. Apedrejar mulheres também já foi cultura. Mas nós evoluímos. E a função da cultura é precisamente essa evolução e consciencialização.”
Já sobre o mesmo tema, Carlos desvia-se ligeiramente, apelando à ideia de que mais do que falar sobre a importação do debate — como refere Nuna — importa que cada um perceba qual o seu posicionamento quando o movimento ganha uma dimensão global, sob pena de na confusão de papéis tudo se tornar superficial. “Como aconteceu nos Estados Unidos, Governadores a ajoelharem-se… Eles são políticos têm de fazer mais do que se pôr de joelhos, quem tem de ser pôr de joelhos é a minha mãe porque não pode fazer mais nada; sai do trabalho, vem combalida, tem pena e olha, ajoelha-se para homenagear. Uma pessoa enquanto política, enquanto pessoa com poder não tens só que varrer as coisas para debaixo do tapete porque é à conta destas merdas de tirar os filmes do ar que não se discute.”
Licencei-me em Ciência política no Iscte. E fiz mestrado em Debate sobre o Racismo no Twitter.
— Carlos Pereira (@carlosmpereiraa) June 14, 2020
Sobre o futuro do debate e da sua participação nele, Carlos reconhece que estamos a viver e a assistir a um momento de ruptura: “Sinto que estamos a atravessar um momento que, se a coisa não abrandar, vai ter de haver um confronto e uma discussão – um confronto não bélico, mas de ideias — e é bom nesse sentido percebermos quem está ou não disposto a ter essa discussão.” Nuna sente que em Portugal o caminho ainda é longo mas reconhece, tal como Carlos, que houve uma chamada de atenção global que pode acelerar os debates e as consequências.
O seu papel neste movimento, por vir de um lugar genuíno e de sentida reivindicação, mais do que de procura por exposição, durará enquanto conseguirem equilibrar a sua saúde mental; contudo, ambos revelam um desejo secreto de poder fazer outra coisa, de abandonar de uma vez este tema, porque isso significaria que a sua discussão tinha chegado a um ponto de justiça. Até lá, e pela longa distância que precede a mudança, continuarão a dar o seu contributo para que um dia, eles e outros, possam escolher livremente o que fazer, sem sentir o peso simbólico de um dever maior, o dever da igualdade racial e da justiça social.
–
Artigo de João Gabriel Ribeiro e Rita Pinto
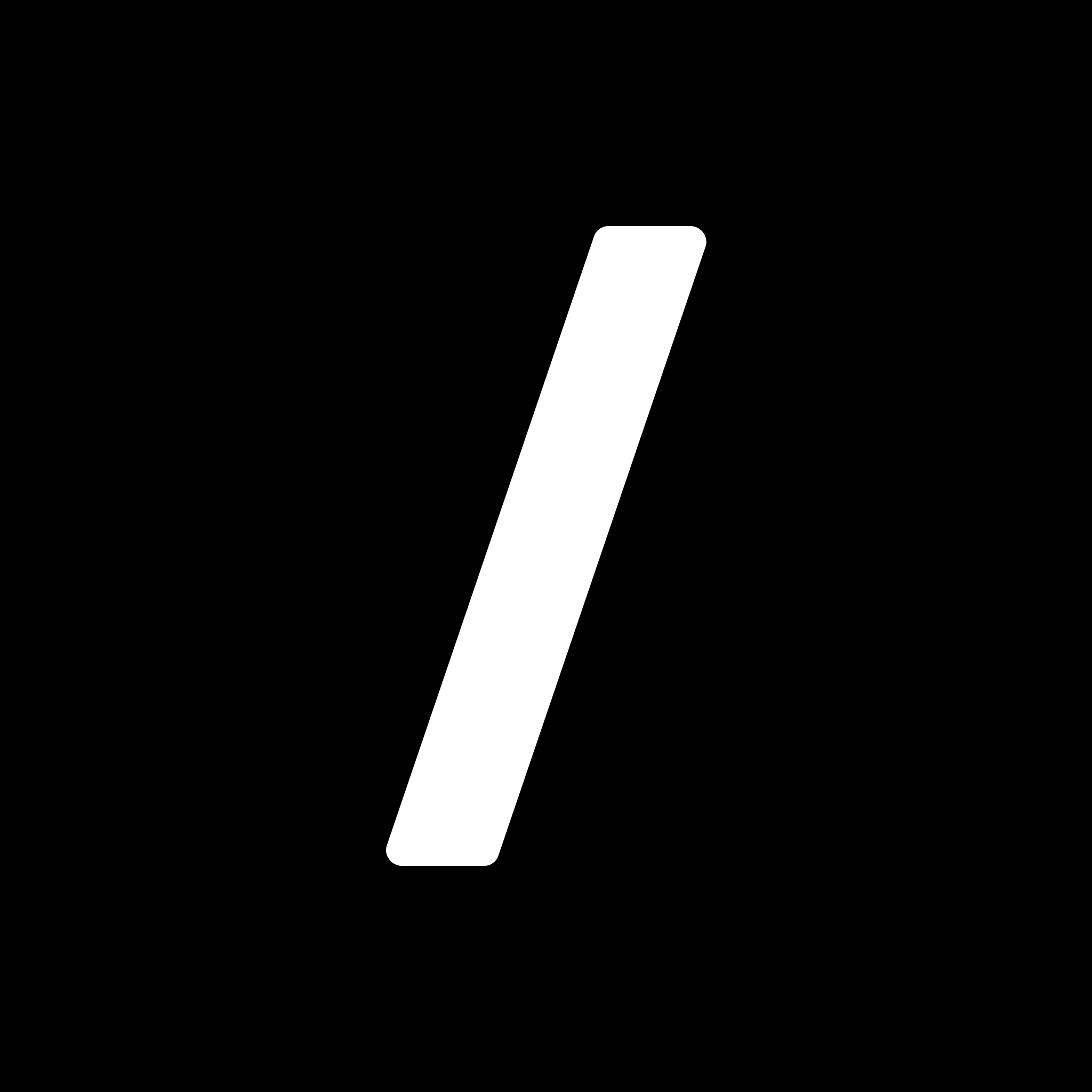
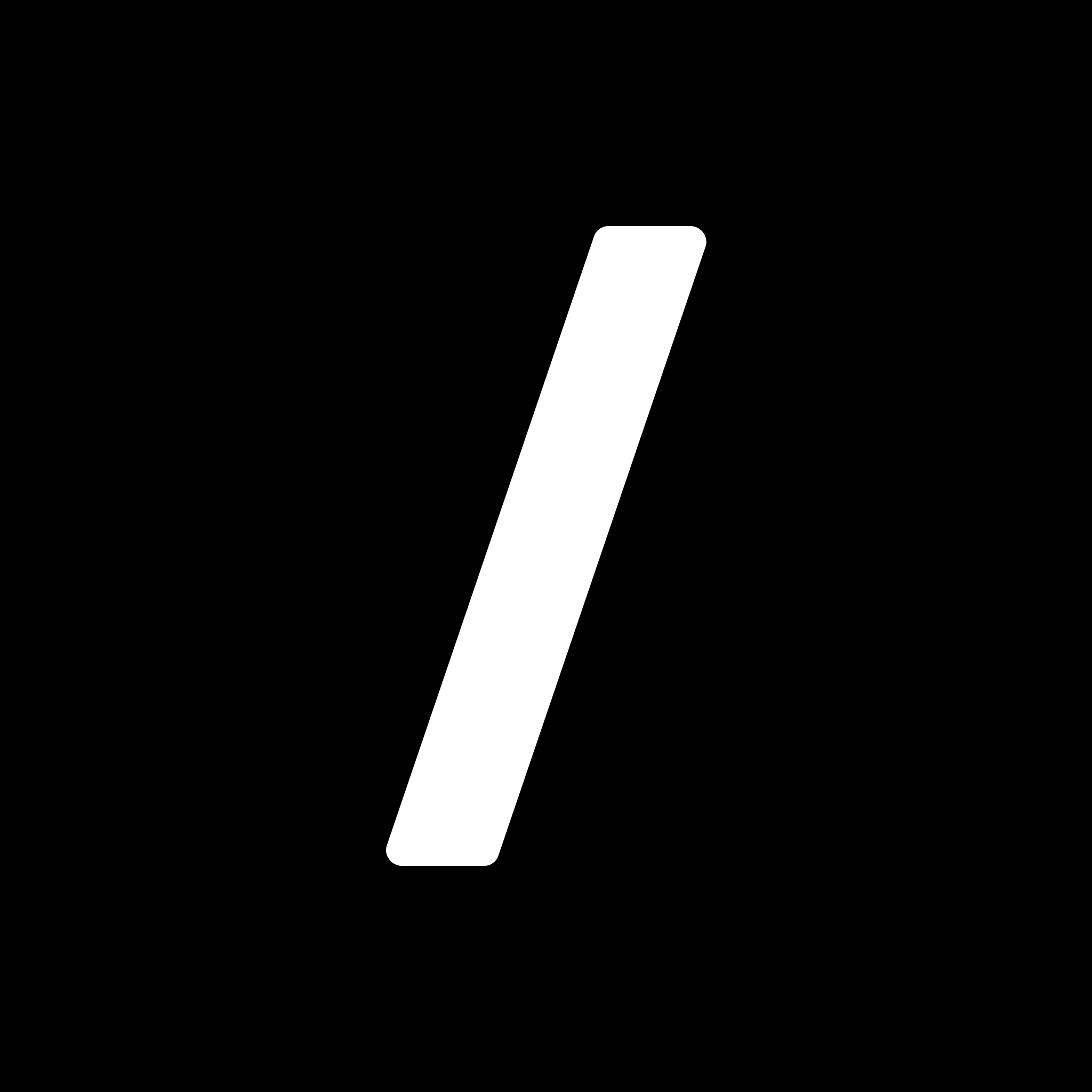
O Shifter é uma revista comunitária de pensamento interseccional. O Shifter é uma revista de reflexão e crítica sobre tecnologia, sociedade e cultura, criada em comunidade e apoiada por quem a lê.
Apoia a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.
Outros artigos de que podes gostar: