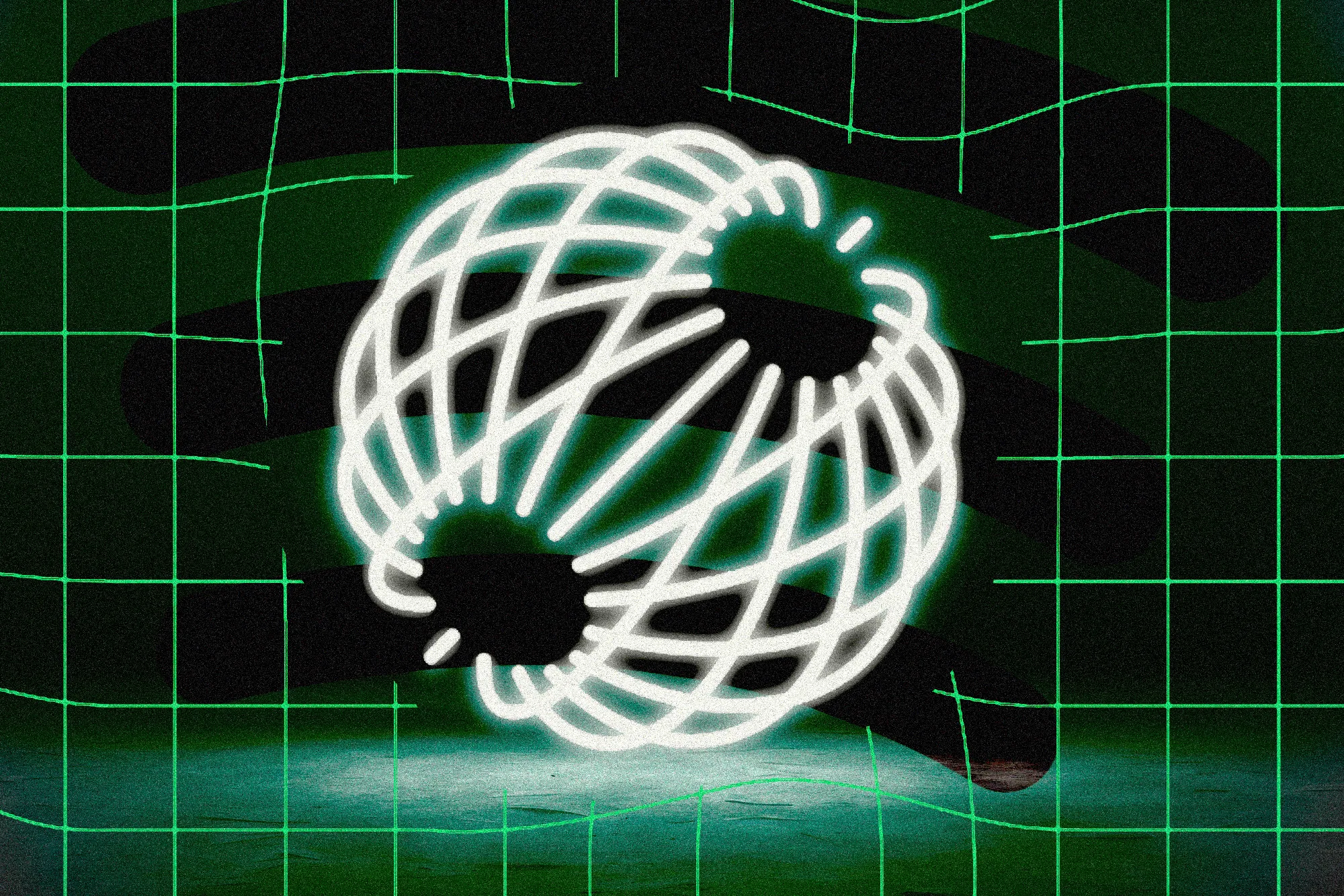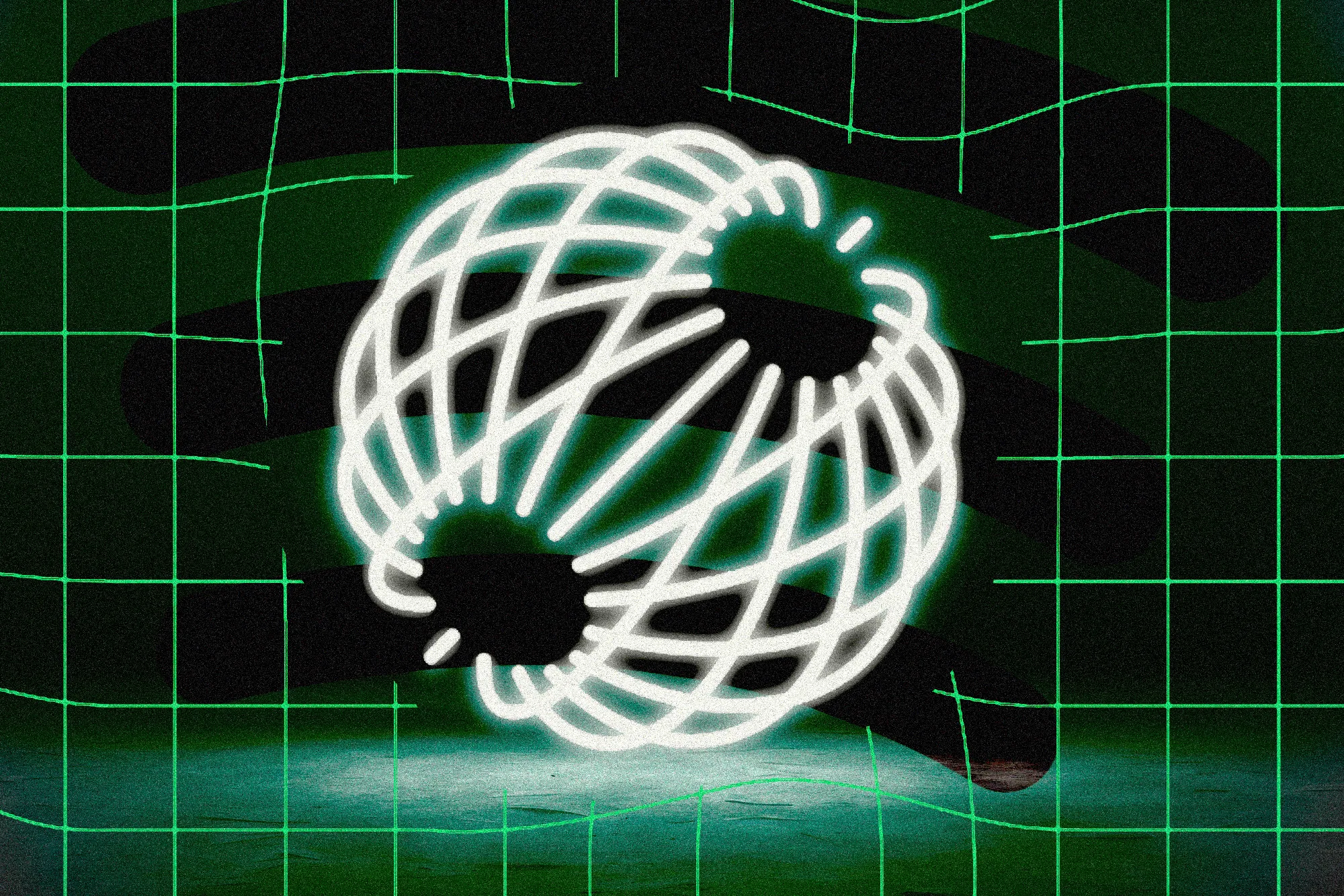
Escolher os melhores da década é uma actividade ingrata. Quem decide o que é melhor? Que critérios fazem de uma obra melhor que outra? A popularidade na crítica? Entre o público? E como lidar com as limitações da memória humana? Sim, com o facto de mais facilmente nos lembrarmos daquilo que ouvimos ontem do que do filme que há oito ou nove anos nos marcou?
As perguntas eram tantas que o Shifter decidiu não escolher o melhor da década. Procurámos antes seleccionar aquilo que, criado na década que agora acaba, vale a pena ser revisitado na próxima. Queremos que entres nos novos anos 20 com uma lista de bons discos, livros, filmes, docs e séries que merecem ser vistos e revistos e que achamos que continuarão a representar muito para o mundo nas décadas que se seguirão.
Por João Gabriel Ribeiro
As 1001 Noites não é apenas um filme – é um marco no cinema português, pelo conteúdo e pela forma. Depois de assinar obras como Aquele Querido Mês de Agosto ou o internacionalmente aclamado Tabu – que também poderia constar desta lista –, Miguel Gomes apresentou As 1001 Noites, que, mais do que um filme, é uma obra prima sobre resistência nas mais diversas formas. Dividido em três partes, totalizando em conjunto nove horas, a obra é um desafio a todas as impossibilidades; é uma ideia maluca de um realizador levada a cabo a todo o custo e contra todas as expectativas.
Partindo de um guião construído com base em entrevistas feitas por três jornalistas, Miguel Gomes faz uma adaptação do tradicional conto estrelado por Xerazade um dos mais sui generis retratos da crise que atingiu Portugal nesta década. Entre histórias reais contadas na primeira pessoa e episódios encenados com personagens de outros tempos em representação das instituições dos nossos, o filme oferece uma leitura sobre o tempo em que foi feito, sem se tornar demasiado gratuito e sem que sintamos que o argumento nos quer levar para determinado sítio. Em vez disso, é uma longa metragem feita de deambulação constante, entre aldeias, vilas e cidades, tapetes voadores e greves – como refere o próprio realizador.
As 1001 Noites foi amplamente elogiado nacional e internacionalmente, conquistou a Quinzena dos Realizadores em Cannes e foi o escolhido português para entrar na corrida aos Óscares. O New York Times apelidou-o de primeiro filme a enfrentar a crise e, num tempo marcado por crises ,esse mérito vale mais do que muitos, sendo demonstrativo da coragem do realizador que acaba por se evidenciar nas longa duração da obra no tempo da instantaneidade.
https://youtube.com/-CQDmMSGqWg
Por João Gabriel Ribeiro
O milagre da parentalidade não é um tema assim tão comum no universo cinematográfico mas é em todas as interacções sociais. Ter um filho é só o lado bom de ter uma criança e ai de quem confronte essa ideia – a não ser que o faça como Lynne Ramsay na adaptação para o cinema do livro de Lionel Shriver com o mesmo nome. We Need To Talk About Kevin é um aterrador sobre parentalidade, e as suas consequências, lógicas ou inexplicáveis.
Kevin é o bebé da família que, ao contrário da história habitual, traz um enorme desconcerto ao seio familiar, especialmente à sua mãe Eva. Demora a falar, farta-se de chorar, parte brinquedos, faz asneiras inimagináveis e abusa de um olhar assustador e vazio de emoção em direcção à sua mãe. É a ela que parece dirigir a sua frustração e toda a sua misantropia, numa sequência de acções que levam a mãe à depressão ancorada à questão sobre o que terá feito de mal.
We Need to Talk About Kevin é um filme de uma energia e de um suspense únicos, talvez comparável a Funny Games de Michel Haneke; uma espécie de ensaio sobre o lugar dentro de cada um onde se forma a maldade e a violência em que não se chega a nenhuma conclusão.
Por João Gabriel Ribeiro
Para esta lista não podíamos trazer só os clássicos ou os tops de tabelas; o cinema também é uma linguagem que nos convida a descoberta de novos mundos e Attenberg é mais uma página de um interessante capítulo descoberto nesta década: o cinema grego. Este filme, de Athina Rachel, fala metaforicamente sobre isso mesmo – sobre a necessidade de conhecermos coisas diferentes para nos desenvolvermos enquanto seres humanos completos.
Marina, a personagem principal, é uma jovem que pela educação do seu pai vive praticamente fechada num quarto onde só entram os documentários sobre Vida Selvagem de David Attenborough, música dos Suicide e de Françoise Hardy. Bella é a sua única amiga e quem tenta mostrar-lhe todo o mundo que a rodeia ,mas é o personagem representado pelo outro nome grande do cinema grego, Yorgos Lanthimos, quem lhe escancara a porta sobre os prazeres da vida.
Attenberg é um filme estranho, cru, uma comédia negra – com algumas parecenças com Canino, de Yorgos – e é, sem dúvida, um filme a revisitar em certos estados de espírito. Não é para todos e é provável que cause repulsa a quem só está habituado aos fast movies norte-americanos, como quem estranha uma iguaria complexa por hábito ao McDonald’s. Neste filme, Athina Rachel não propõe grandes ideias políticas, nem uma grande moral para a história; em vez disso, limita-se a mostrar-nos a história deste pequeno núcleo familiar, propondo um olhar distante, sobre o isolamento proteccionista e as suas consequências, algo que pode ser lido como uma metáfora para outros contextos.
https://youtu.be/fp_gBYDcoTk
Por Rita Pinto
Em 1964, quando Martin Luther King Jr. recebe o seu prémio Nobel da Paz, havia ainda um longo caminho por percorrer para permitir a todos os negros o direito de votar. Selma (2014) conta como Martin Luther King – aqui interpretado magistralmente por David Oyelowo –, James Bevel, Hosea Williams e John Lewis lutaram por esse direito, nas marchas que percorreram o caminho da cidade com o nome do filme, Selma, a Montgomery, no mesmo estado. A realização de Ava DuVernay (que este ano deixou o mundo rendido com When They See Us) foca a realidade da violência das forças policiais locais, lideradas pelo Governador George Wallace, aqui Tim Roth. Com o aumento da popularidade de Luther King, a história mostra também a influência de John Edgar Hoover ao tentar convencer o então Presidente Johnson a monitorizar as acções do activista, e prejudicar ainda mais o seu casamento com Coretta King. no interior do estado do Alabama, com Ralph Abernathy, Andrew Young e Diane Nash e é lá que organizam a Conferência da Liderança Cristã do Sul (SCLC). Como Martin Luther King se torna importante, John Edgar Hoover tenta convencer o presidente Johnson para monitorar e prejudicar ainda mais seu casamento com Coretta King.
Além do valor histórico que teima em manter-se actual, Selma merece ser visto e revisto por ter feito da sua realizadora, Ava DuVernay a primeira mulher negra a ser nomeada para um Globo de Ouro de Melhor Realizadora, e a primeira mulher negra a ver um filme realizado por si ser nomeado para o Óscar de Melhor Filme. Na altura, em resposta às críticas de alguns historiadores e imprensa que a acusaram de reescrever a história de forma irresponsável para retratar a sua própria agenda, DuVernay disse que o filme “não é um documentário. Eu não sou uma historiadora. Sou uma contadora de histórias”.
Por Rita Pinto
A grande lição de Que Horas ela Volta é a chapada de luva branca que nos dá sobre a forma como tratamos os outros, sobre os valores de uma sociedade que tem empregados que são “quase família” mas que no fundo despreza e humilha quem é menos favorecido.
Passado em São Paulo, num bairro de classe média alta, Val (Regina Casé) é uma empregada doméstica que mora há muitos anos na casa dos patrões – um casal que estereotipa a elite da cidade, um artista e uma estilista com um filho, que é Val quem cria. Val é considerada “quase da família”, mas dorme num quartinho pequeno e mal ventilado, come numa mesa sozinha, à parte da família, e a vez que se chegou mais perto da piscina foi quando precisou de supervisionar o filho dos patrões que se divertia na água. Regina Casé é nada menos que espectacular, mergulha na personagem e retrata com fidelidade o estereótipo de quem acredita que nasceu para cumprir ordens e se contenta com o que tem. A sua vida é abalada com a chegada da filha Jéssica, que morava no Recife com a tia mas muda-se para São Paulo para estudar arquitectura. O choque começa quando descobre que a mãe mora na casa dos patrões e é ali que também ela vai ter de morar nos próximos meses.
Que Horas ela Volta é uma obra obrigatória do cinema brasileiro. Val e Jéssica são o mesmo país em séculos diferentes. Mãe e filha dividem o mesmo código genético, mas tornaram-se produto dos seus respectivos tempos – e da crença embutida socialmente em cada uma das épocas. As interpretações magistrais puxam à lágrima.
Por Mário Rui André
Em 2004, um miúdo de Harvard decidiu criar uma rede social para conectar os colegas da universidade. Hoje, o Facebook liga mais de dois mil milhões de pessoas em todo o mundo e é indiscutivelmente uma parte importante da internet – afinal, o Facebook não é só o Facebook, é também o Instagram, o WhatsApp, o Messenger…
Em 2010, o Facebook já era grande mas ainda não era assim tanto; foi nesse ano que David Fincher resolveu retratar a história da rede social e de Mark Zuckerberg. The Social Network é o filme que conta a história do Facebook, com Jesse Eisenberg no papel de Zuckerberg. Acaba por ser uma biopic interessante e que guarda, em especial, um episódio que se perdeu na história do Facebook, entre escândalos da Cambridge Analytica e notícias falsas para influenciar eleições – que a ideia do Facebook terá sido roubada por Zuckerberg a uns gémeos.
The Social Network é um filme para ver ou rever, e logo a seguir outra sugestão: The Founder, uma biopic sobre o fundador do McDonald’s e que também fala de uma ideia roubada – neste caso, é mais apropriada indevidamente.
Por Daniel Hoesen
Yup, Frank! O filme conta-nos uma estória inspirada num dos maiores outcasts do rock dos 1980-90s, Chris Sievey. Nos seus trinta e poucos anos, Chris deu vida a Frank Sidebottom, uma espécie de alter-ego que se corporizava no uso de uma cabeça gigante falsa, de papier-mâché feia e ridiculamente poética. No começo, Frank está lá atrás, em segundo plano, como líder enigmático do grupo – misterioso, ‘plástico’ e revolucionário –, mas com o desenrolar do mesmo, quando o conhecemos, apercebemo-nos do quão uncool Frank é. Quem é? O que é? O que não é? Porquê? No palco, uma espécie de caricatura descabida post-rock n’ roll com as suas tiradas spoken word distantes e dissonantes; fora dele, ainda (sempre) com máscara, doce e empático, lembrando com quem convive das expressões faciais que esconde por trás da máscara. Weird AF.
Cobrir caras bonitas (e vá talentosas!) de sex symbols como a do Fassbender em Hollywood é sacrilégio, certo?! Nah, é isso que serve o filme, é exactamente essa decisão do Lenny que faz desta comédia negra uma comédia negra. O facto de Fassbender desempenhar o papel de rockstar mas apresentar-se sempre mascarado encaixa que nem uma luva no espírito do filme: rebelde e sarcástico.
Para ser franco (desculpem!), nem sabia bem ao que ia e do que se tratava quando o vi pela primeira vez… mas a forma como a relação constrangimento-talento e inaptidão social-legado são emoldurados, vieram fazer sentido do quão ‘nada’ e ‘vazio’ o sucesso se faz sentir, do quão a vida não é nossa para ser vivida.
Por Edgar Almeida
A façanha de gravar Boyhood ao longo de 12 anos com os mesmos actores deu a Boyhood uma aura de curiosidade que, por um lado, aumentou a sua exposição mediática mas, por outro, fez com que muitos de nós se fixassem nesse pormenor; ignorando que este é apenas um instrumento nas mãos de Richard Linklater, um contador de histórias com uma relação muito especial com o tempo, para com os seus diversos personagens nos aproximar de uma viagem pela qual todos nós já passámos rumo aquilo que somos hoje.
O filme, um coming of age por excelência, utiliza cada momento perfeitamente executado para orquestrar um todo que é maior que a soma das partes. Confronta-nos com a inevitabilidade da mudança, com a busca por conforto, compreensão que nos forneça um propósito – tanto na historia do personagem principal, como na história da sua mãe, soberbamente desempenhada por Patricia Arquette (que é paradoxalmente uma personagem secundária e aquela que segura todas as pontas, mantendo todo o universo intacto para que a história decorra).
Por Edgar Almeida
Longe dos tempos áureos do cinema italiano, com realizadores como Visconti, Rossellini ou Fellini, Paolo Sorrentino cria uma obra opulenta onde a estética tem um pilar central, na necessidade de nos fazer acreditar que o que parece é – sem o artificio da beleza encantadora, as questões sobre o âmago das coisas começam a assaltar as mentes cheias de dúvidas.
La Grande Bellezza segue os passos de um bon vivant italiano de nome Jep Gambardella, interpretado por Toni Servillo (o Mastroianni de Sorrentino), que se movimenta na alta roda romana com a maior das facilidades, utilizando o seu estatuto de jornalista de destaque e de promessa adiada da literatura (incapaz que foi de dar seguimento ao seu tão bem sucedido primeiro romance), e aproveitando a vida sem grandes contemplações. Até ao dia em que um encontro com um estranho que traz a Jep notícias do passado o faz colocar em causa todo o seu mundo e conquistas, deixando-o imerso a meditar sobre as escolhas que o impediram de concretizar o seu potencial e viver outras vidas alternativas.
Um filme que sem falar de redes sociais se concentra na beleza opulenta e nas festas extravagantes para meditar sobre a forma como, por vezes, a aparência maravilhosa pode esconder um profundo desencanto, decadência de desilusão interiores, vivendo-se apenas de momentos passados seleccionados a dedo.
Por Duarte Cabral
A franquia Star Wars é das mais amadas de toda a história da cultura geek. É por isso também que esteve envolvida em numerosas polémicas ao longo dos anos, desde o surgimento dos Ewoks até às polémicas prequelas, feitas por um George Lucas sem rédeas criativas a delimitarem o que podia fazer. Mas se há elemento do universo Star Wars que causou uma incontestável fratura na sua fandom, foi The Last Jedi, filme escrito e realizado por Rian Johnson.
Em vez de seguir com o percurso seguro e controlado iniciado por JJ Abrams em The Force Awakens, Johnson cria uma peça totalmente ambiciosa e subversiva que procurou questionar e recontextualizar os mais importantes pilares na qual a saga se apoiou ao longo de 40 anos. Por uns, foi aceite como uma revitalização total e bem-vinda em direcção àquilo que deveria ser a saga; por outros, foi visto como um insulto a tudo aquilo que esta representa. O que importa aqui não é se o filme é bom ou mau, mas sim o facto de ser uma obra que pôs inúmeras pessoas pensar, debater e a trocar ideias durante dois longos anos. E não será isso aquilo que mais valoriza uma obra artística?
Por Duarte Cabral
Ao longo de uns trinta e poucos anos, o duo maravilha que são os Irmãos Coen fizeram vários clássicos do cinema moderno norte-americano. A agulha da balança invariavelmente conteve-se entre o thriller de tirar o piu a qualquer um (No Country for Old Men) e a comédia ridícula (The Big Lebowski). É por isso que se pode olhar para Inside Llewyn Davis como uma anomalia no currículo dos Coen.
Usando a Nova Iorque dos anos 1960 como cenário principal, o filme é um slice-of-life sobre um falhado cantor folk com tendências narcisistas (baseado na vida de Dave Van Ronk), que roda os sofás dos amigos enquanto procura pela próxima coisa passageira que lhe possa conferir um sentido, ainda que temporário, à sua vida. É um drama sobre depressão tanto em termos estilísticos como formais, mas que mesmo assim irradia uma energia de vida que se recusa a esmorecer, ancorada em redor daquela que é a melhor performance da carreira do grande Oscar Isaac.
Sublime fica verdadeiramente aquém daquilo que os Coen conseguem alcançar com este filme.
Por Pedro Caldeira
Lançado em 2017 e realizado por Christopher Nolan, Dunkirk é um estudo sobre o que a guerra representa. A história acompanha a evacuação de um conjunto de soldados das tropas aliadas, que foram cercados pelas tropas alemãs na cidade costeira de Dunquerque, durante a Segunda Guerra Mundial.
A história por si só aparenta ser muito simples; no entanto, tendo em conta de que estamos a falar de um trabalho de Nolan, (outros filmes realizados pelo mesmo incluem Inception e Interstellar), é expectável que exista algum tipo de twist – ao invés de ser contada cronologicamente, a história é contada aos bocados, pegando em personagens diferentes e conduzindo-as pelos seus enredos até que, no final, todas se acabam por cruzar, o que faz com que o filme só faça verdadeiramente sentido nos momentos finais. Apesar deste ponto interessante, o que distingue este filme dos outros é que este não é sobre nenhuma personagem em particular, visto que nenhuma delas tem nome, mas sim sobre o exército aliado como um conjunto de pessoas confusas e perdidas no meio do campo de batalha.
A cereja no topo do bolo é o sound design do filme, que cria uma atmosfera exponencialmente mais imersiva, com silêncios tumulares e barulhos muito fiéis à realidade que procuram retratar. Juntando a isto, é empregue a técnica do Shepard tone, que faz com que a banda sonora pareça estar em constante crescimento de intensidade.
Por Marco Cotas
Reza a lenda que, desde o momento em que DiCaprio teve contacto com a história de vida de Jordan Belfort, tornou-se apenas uma questão de tempo e de conseguir reunir as pessoas certas – Martin Scorcese –, para que nos fizesse chegar um dos clássicos desta década. Mas para esse momento acontecer teve que, em 2007, ganhar os direitos para fazer o papel de Jordan Belfort numa “batalha” DiCaprio/Warner Bros vs Bradd Pitt/Paramount Pictures.
Ainda no campo das curiosidades, temos uma das melhores cenas deste filme, que nasce num momento “off cameras”, onde Matthew McConaughey está sentado à mesa com Leonardo DiCaprio a fazer um exercício de aquecimento para aquela que ia ser a próxima cena. Enquanto fazia esse exercício, tanto DiCaprio como Scorcese perceberam que deviam transportar aquele momento para o filme.
Se, por um lado, The Wolf of Wall Street conta a história de vida (real) de uma pessoa que se aproveitou de falhas no sistema financeiro para fazer uma grande fortuna – à custa de outros –, até ao momento da sua decadência perante a lei; por outro, o filme é pautado de uma energia electrizante e loucura natural que, para Jordan Belfort, não passam do relato de um dia “normal” dos seus tempos de jovem milionário. Na altura, muitos se questionaram sobre o porquê de Leonardo DiCaprio não ter ganho o Óscar de Melhor Filme, sobretudo depois de ter protagonizado um filme dentro do próprio filme, curiosamente num momento muito similar à cena do helicóptero em Goodfellas de… Scorcese.
Por Marco Cotas
Quem diria que os últimos meses da década tinham reservado um surpreendente número de filmes que poderiam facilmente entrar para esta lista – Joker, Once Upon a Time… in Hollywood, The Irishman e… Parasite. É difícil pensar num outro filme que, recentemente, tenha conseguido ser tanta coisa ao mesmo tempo, sem perder o sentido e mantendo a curiosidade de quem o vê.
Parasite tem tanto de trágico como de divertido; consegue apresentar-se como um fiel retrato da sociedade e da diferença de classes, enquanto transporta quem o vê para o campo do surreal; faz-nos torcer pelo vilão e herói, ao mesmo tempo, sem que saibamos bem quem representa o quê.
Ki-taek é uma família (pai, mãe, filho e filha), desempregada, que encontra numa família rica a oportunidade para mudar a sua vida. Com um plano improvisado mas bem pensado, conseguem, um a um, arranjar emprego dentro dessa família (sem que a mesma saiba do seu grau de parentesco), ao ponto de dominarem por completo aquela casa. Até ao dia em que, como qualquer plano bem pensado, o descuido aparece e traz consigo a imprevisibilidade para a qual não estavam preparados…
Bong Joon-ho, trouxe o cinema sul-coreano para as bocas do mundo (Ocidental), e mostrou que os bons diálogos e grandes planos, não dependem da morada fiscal mas sim da mente de quem os realiza.
Por Marco Cotas
Quem diria que os últimos meses da década tinham reservado um surpreendente. Estávamos em 1877, no meio de uma tempestade de neve… não se podia ficar nas ruas e esperar sair com vida… então, durante aqueles dias, foi dentro de uma pequena cabana que oito desconhecidos encontraram alojamento e se viram obrigados a ficar, apenas com a companhia – e suspeitas –, uns dos outros…
Dêem esta história a qualquer pessoa e, no máximo, conseguem um pequeno conto, que poderá vir a ser transformado numa curta. Dêem-na a Quentin Tarantino e ele faz um filme de três horas, onde o mistério e as suspeitas, alienados com diálogos dignos de serem estudados pelos aspirantes a roteiristas, são capazes de deixar qualquer um colado ao sofá a tecer teorias e a imaginar quem é o vilão.
A verdade é que qualquer filme do Tarantino merecia estar nesta lista mas The Hateful Eight é um resumo perfeito de quem é o realizador e daquilo que podemos esperar de todas as suas outras obras.
Por Marco Cotas
Em Her, passamos praticamente todo o tempo centrados na personagem de Theodore Twombly, que desenvolve uma relação com a sua assistente virtual – dotada de inteligência artificial –, semelhante à Siri ou Alexa. De início, essa relação é apenas de curiosidade mas acaba por se desenvolver para companhia, amizade e, por último, amor.
Apesar de existirem outras personagens, o cerne do filme está nesta relação e, por isso, vamos passar a maior parte do tempo (bem) acompanhados por conversas entre Theodore Twombly e a sua assistente virtual, Samantha (que ganha voz através de Scarlett Johansson).
Com um bom (e bem escrito) enredo, o sentido pertinente das questões éticas e filosóficas aqui levantadas – tendo em conta os tempos que vivemos, os avanços tecnológicos e as possibilidades futuras que a nossa sociedade enfrenta –, para Her se tornar um marco da década tudo dependia da actuação do actor principal; escolheram Joaquin Phoenix…
Por Edgar Almeida
The Lobster é o primeiro filme em inglês do realizador Yorgos Lanthimos, escrito em parceria com Efthimis Filippou, a mesma equipa do aclamado Kynodontas – uma surreal comédia negra que só não entra nesta lista por ter saído ainda no final de 2009.
Com um elenco de renome liderado por Colin Farrel e Rachel Weisz como protagonistas, The Lobster apresenta-nos uma distopia totalitária onde ser celibatário é proibido e a punição para todos os que estiverem solteiros mais de 45 dias é serem transformados num animal à sua escolha. O personagem principal encontra-se confinado num hotel, depois de a sua mulher o trocar por outro parceiro, onde terá de encontrar uma nova parceira com quem tenha visivelmente algo em comum, antes que o tempo se esgote, podendo apenas estender o seu tempo como humano ganhando um dia extra por cada dissidente do regime que vive na floresta perto do hotel capturar. É com todo este cenário absurdo que num primeiro plano satiriza as dinâmicas das relações amorosas no mundo contemporâneo, se esconde uma crítica aos sistemas de regras impostos e seguidos cegamente sem qualquer tipo de reflexão, e onde por vezes as únicas críticas surgem de revoltados que acabam por implementar sistemas opostos que funcionam d forma análoga substituindo os velhos por novos dogmas que impedem a liberdade individual plena.
Numa década de florescimento e aceitação com cada vez menos tabus das aplicações de encontros e o crescimento de activismos anti sistema sem grandes análises das consequências das suas lutas nem planos para o futuro, este filme com toda a sua linguagem surreal acaba por retratar uma realidade contemporânea com uma fidelidade maior do que se poderá ver a uma primeira vista.
Por João Gabriel Ribeiro
Kids, de 1995, realizado por Larry Clark e escrito por Harmony Korine é por muitos apontado como um dos retratos geracionais mais fieis e marcantes do seu tempo. Simples, procurando um realismo não só na narrativa mas também na sua realização conta a história de um tempo através da história de 2 jovens d’entre um grupo de amigos. Já Spring Breakers, escrito pelo mesmo Harmony Korine e desta vez realizado pelo mesmo, é um exercício formalmente muito diferente mas com um propósito semelhante. O filme usa e abusa dos códigos visuais dos nossos tempos em personagens estereotipadas e em cenas profundamente irónicas que transportam para o cinema uma linguagem quase meme e assim reflecte o tempo em que foi feito.
A estrutura da narrativa assemelha-se à de um videojogo, e uma das personagens chega a dizê-lo, em que as 4 personagens vão sendo conduzidas até à desistência por uma série de aventuras ousadas, a partir de certo ponto coadjuvadas por Alien, a personagem de James Franco que caricatura o rapper Riff Raff. Ao longo de todo o filme sente-se a dualidade de cada personagem entre a personalidade e a sua persona na busca pelas férias de Páscoa perfeitas que as conduz a uma espécie de alucinação colectiva em que perdem o controlo sobre as suas acções até serem assombradas pelas suas dúvidas.
Por João Gabriel Ribeiro
A função do cinema é uma definição altamente controversa e sobre a qual já se escreveram e se continuarão a escrever artigos, ensaios e comentários dos mais diversos formatos. Ainda assim, entre toda a discussão, uma parcela podemos assumir como certa e provavelmente comum a todas as tentativas de resposta. O cinema serve para nos mostrar aquilo que habitualmente não vemos. Não necessariamente no sentido literal de reflectir sobre o invisível aos olhos mas no sentido simbólico de permitir a difusão de histórias por um público mais alargado. Através da 7ª arte, o drama de uma família na Rússia pode tornar-se, por momentos, uma questão com que nos debatemos; no meio desta aproximação destroem-se as barreiras que tantas vezes a pseudo-informação criar sobre forma de preconceitos, e sentem-se semelhanças que nos lembram da existência de uma espécie de verdade universal.
Não é por acaso que o filme se chama Leviathan – título da última obra de Hobbes e de um capítulo bíblico. Ao jeito dos romancistas russos – como Dostoiesvky – Andreï Zviaguintsev e Oleg Negin criaram um argumento aparentemente simples mas onde cada personagem representa mais do que a si própria. O filme retrata uma Rússia pós-comunista onde o peso institucional e burocrático se faz sentir sem dó nem piedade sobre o pouco que têm os mais frágeis.
Como trunfo adicional ao excelente argumento e à brilhante realização, Leviathan é ainda acompanhada de banda sonora original criada pelo compositor norte-americano Philip Glass, que com mestria acentua as emoções da obra.
Por João Gabriel Ribeiro
Se recordarmos o episódio recente da Banana colada com fita adesiva que se tornou viral por todo o lado, facilmente percebermos o caráter dual do mundo da arte. The Square é um filme que expande essa reflexão de uma forma sublime, tendo como peça principal neste jogo de dicotomias, Christian, o curador de um importante Museu de Arte Contemporânea. Tudo começa com a promoção de uma obra de arte comissionada pelo seu museu e de certo modo incompreendida por alguns dos que com ela contactam, e se desenrola numa série de acontecimentos caricatos que reforçam a ideia de que quase nunca temos noção real do verdadeiro valor das coisas ou dos seus limites.
O que é a arte, onde estão os seus limites, o que para ela vale o marketing são questões de enquadramento de um filme que vai mais longe ao reflectir sobre a vida do personagem principal. O curador dedicado à sua profissão e à sua posição – expressa numa série de atitudes em prol do politicamente correcto – que se vê numa espiral saturante de questões que o levam a sacrificar essa sua cultivada coerência, sob o peso dilacerante das dúvidas.
Em síntese, é um filme que expõe sem ser de uma forma evidente ou demasiado óbvia o jogo de aparências, a construção de personas, a dimensão do espectáculo dos tempos em que vivemos. É de resto com as questões mais mundanas e as emoções mais básicas que Christian se vê mais desafiado.
Por João Marques
Sempre que se invoca o chamado cinema de acção, fica a sensação de que se revisitam lugares e personagens de um universo menor, no meio cinematográfico. Mais eis que, em 2015, George Miller abala essa convenção pré-estabelecida, reinventando fronteiras entre géneros, para criar um verdadeiro clássico do cinema moderno. Mad Max: Fury Road, o quarto filme da franquia Mad Max, é um fresco quase-palpável de batalhas, perseguições e jogos pela sobrevivência, num futuro desértico pós-apocalíptico que se constrói e equilibra em torno de bens fundamentais, como água e gasolina. O espectáculo visual não encontra, ainda hoje, concorrência equiparável, pela resiliente aposta na utilização de efeitos não-especiais: isto é, a primazia dada à criação de manobras acrobáticas, por artistas de carne-e-osso, ensaiadas e executadas ao longo de vários meses.
Se Fury Road se junta, então, à galeria dos gigantes, é por nunca perder o seu foco: toda acção existe para servir um propósito maior, o enredo e as mensagens neste contido. O filme conecta-se de um modo visceral ao espectador, para ecoar e discutir mensagens tão intemporais como o fosso interminável da ganância humana, as alterações climáticas ou, mesmo até, a condição da mulher (destaque para Charlize Theron como Furiosa, numa das interpretações mais memoráveis da actualidade). Mad Max ficará, assim, na história desta década, e das que se seguirão, como uma epopeia fiel da própria condição humana, literal e metaforicamente.
Por João Marques
Durante o processo de selecção dos filmes que mais merecem revisitações futuras é fundamental ter em conta os propósitos fundamentais do cinema: a desconstrução da natureza humana, a abolição de conceitos pré-estabelecidas e um novo entendimento de realidades que estão perto de nós e que, por vezes, pecamos em não compreender. Moonlight, escrito e realizado por Barry Jenkins, é, porventura, o exemplo mais representativo de como os propósitos referidos podem ser simultaneamente cumpridos. A atmosfera sobre o qual este filme se ergue impulsiona o espectador numa viagem introspectiva a realidades que tanto têm de particular como de, paradoxalmente, universal. A destacar, o que é ser – e não ser – um afro-americano na América pós-Obama, as dores do crescimento inerentes à descoberta identitária racial, sexual e psicossocial e o modo como essa identidade é moldada pelas circunstâncias nas quais estamos inseridos. Com Jenkins ao leme, todos estes temas são geridos de um modo gracioso, equilibrado, inventivamente filtrados pela perspectiva de Chiron, protagonista que acompanhámos da infância à idade adulta. Um estudo de personagem que abala o sistema vigente, por representar um meio até então maioritariamente secundarizado pela indústria cinematográfica.
Tudo isto justificará, talvez, o porquê de Moonlight ficar para história como a obra visionária que bebeu do justo reconhecimento no tempo certo, no próprio ano de estreia. Contra todas as odds, este valioso pedaço de cinema indie tornou-se o primeiro filme com um elenco totalmente negro, debruçado sobre temáticas como a orientação sexual e identidade de género, a vencer o Óscar de Melhor Filme. E, a favor de todas estas, tornou-se um marco inquestionável na história do cinema do século XXI.
Por Mário Rui André
2017 foi um bom ano para o cinema português, que, tratando a temática crise económica que trouxe o FMI de volta a Portugal, mostrou não estar em crise. São Jorge, de Marco Martins, levou Nuno Lopes a receber um prémio de melhor actor em Veneza; é um filme carregado de paralelos com o contexto sócio-político conturbado do qual Portugal tinha acabado de sair e que ainda estava muito fresco na memória colectiva; e A Fábrica do Nada, a primeira longa-metragem de Pedro Pinho, foi uma estreia em grande para o realizador português, já que foi premiado em Cannes.
A Fábrica do Nada é um filme que tem a crise de 2015 como pano de fundo e que nos leva de uma Lisboa congestionada pelo turismo para uma Lisboa agitada pelos direitos laborais. Uma Lisboa que Pedro Pinho define entre os limites https://staging2.shifter.pt/wp-content/uploads/2021/02/e03c1f45-47ae-3e75-8ad9-75c08c1d37ee.jpgistrativos da capital e os subúrbios de Vila Franca de Xira – nomeadamente em Póvoa de Santa Iria, onde essa crise deixou um rasto de fábricas fechadas e atirou pessoas para o desemprego. A Fábrica do Nada é uma genial e bonita interpretação de uma realidade social e económica difícil, que, tal como São Jorge, mistura documentário e ficção e serve de registo de uma década difícil em Portugal.
Por Alexandre Couto
O Capitão Falcão foi um dos filmes que mais nos fez rir na década passada. Em primeiro lugar, porque conseguiu subverter a anedota que era o servilismo cego a Salazar. Em segundo, porque o faz de forma divertida e despretensiosa, através de interpretações bem conseguidas que ficaram na nossa memória. O filme conta a história de um super-herói português à caça de comuninjas revolucionários, sob o pano de fundo de uma era que de tão pobrezinha, tentava passar por honrada. O desbloquear deste território criativo é notável – afinal, um império que se levava tão a sério merece mesmo ser gozado. Dez anos depois, realçamos a conquista deste universo patético e recordamos as gargalhadas que nos ofereceu.
Por Alexandre Couto
Ir ao cinema ver Vitalina Varela não é uma experiência fácil. O filme, no chiaroscuro forçado em que se apresenta, chega-nos como um retrato de uma vida tão difícil que causa estranheza e incómodo. Não deve ter sido por acaso que vi tanta gente sair do cinema. Parece-me viver à altura daquela máxima de que a boa arte deve ser difícil e desafiante. A narrativa é solta. Percebemos que Vitalina vem a Portugal para o funeral do marido, mas também percebemos logo que chegou atrasada. A partir daí vivemos uma experiência de confronto com uma realidade negra, onde nos apercebemos do quanto as vidas fora da nossa pequena bolha podem ser complicadas. O resultado é uma obra-prima cinematográfica, tão bela quanto triste.
Menções honrosas de João Marques: Her (2013), Spike Jonze; The Handmaiden (2016), Park Chan-wook; Lady Bird (2017), Greta Gerwig; Blade Runner 2049 (2017), Denis Villeneuve; Shoplifters (2018), Hirokazu Kore-eda
Menções honrosas de Daniel Hoesen: Submarine (2010), Richard Ayoade; Drive (2011), Nicolas Winding Refn; Django (2012), Quentin Tarantino; The Grand Budapest Hotel (2014), Wes Anderson; Train to Busan (2016), Yeon Sang-ho; Arrival (2016), Denis Villeneuve; The Disaster Artist (2017), James Franco; Get Out (2017), Jordan Peele
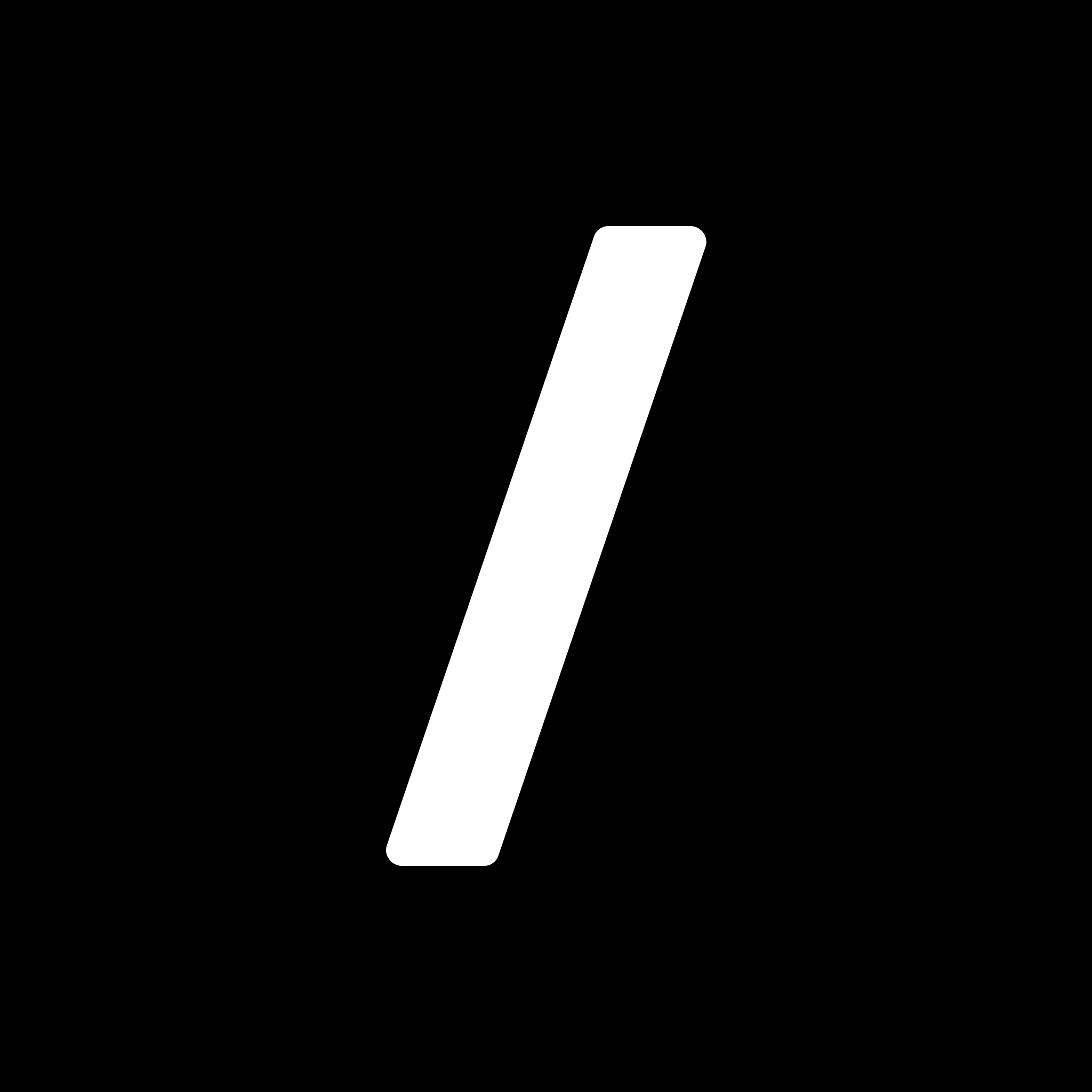
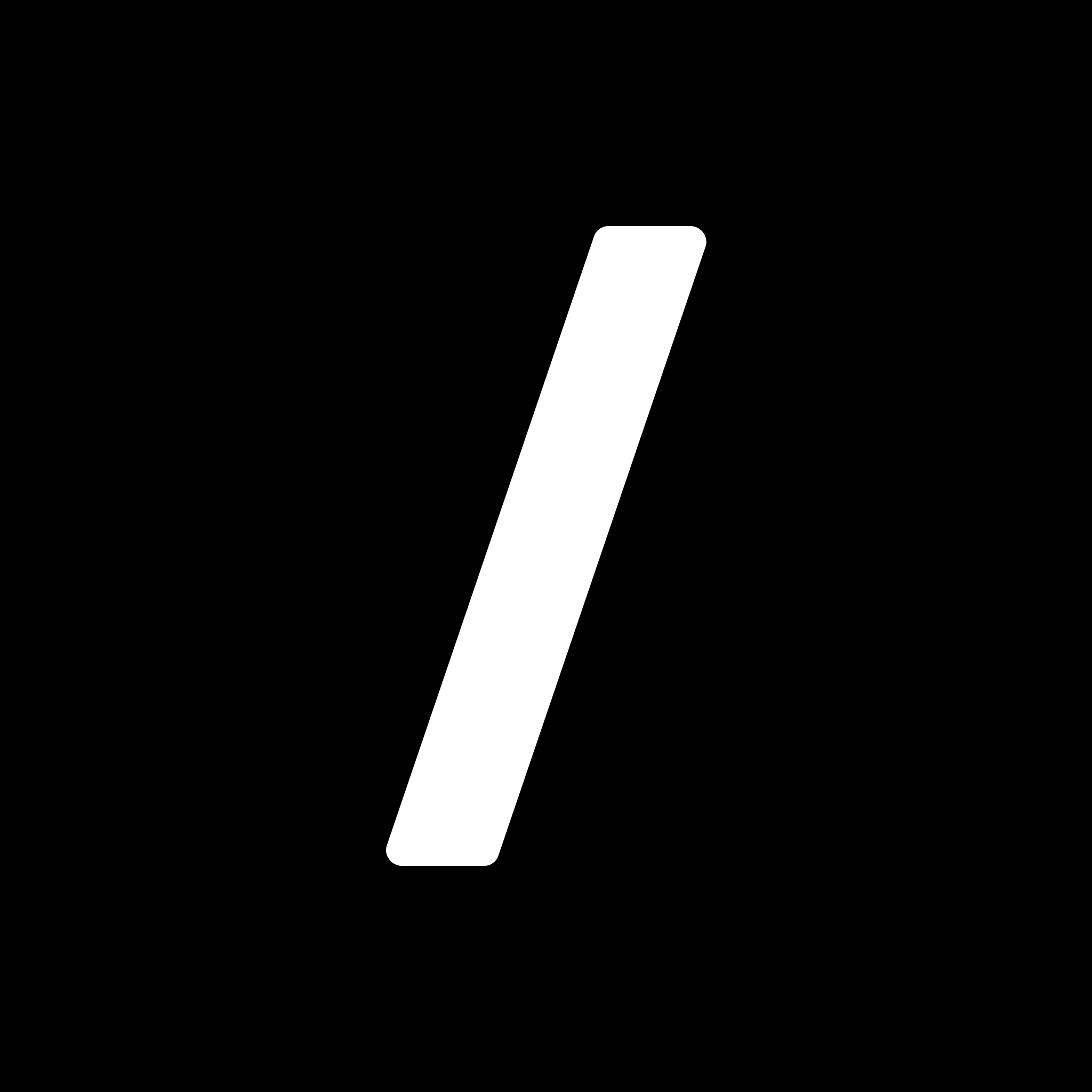
O Shifter é uma revista comunitária de pensamento interseccional. O Shifter é uma revista de reflexão e crítica sobre tecnologia, sociedade e cultura, criada em comunidade e apoiada por quem a lê.
Apoia a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.
Outros artigos de que podes gostar: