

O seu ar franzino engana, pois de frágil não tem nada. Homem de muitos ofícios, Pedro Vieira é ilustrador, romancista, guionista, apresenta O Último Apaga a Luz na RTP3, e faz, por vezes, de DJ. Provavelmente, fará ainda mais actividades à data que esta entrevista sair. Nem a internet parece conseguir acompanhá-lo.
Apesar de tudo isto, conseguiu escrever Maré Alta, romance de 469 páginas, publicado pela Companhia das Letras. Maré Alta é um romance alicerçado na História de Portugal, sem deixar de ser um olhar sobre homens em fuga, mulheres de dentes cerrados, filhos deixados para trás. Um século português na visão do autor premiado em 2012 com o Prémio PEN para primeira obra, com Última Paragem: Massamá. Depois de O Que Não Pode Ser Salvo, seu segundo romance, chega Maré Alta.
Pedro Vieira consegue ter energia para conversar sobre os seus livros com os leitores. Alguns dias antes da sua participação no Festival Livros a Oeste, na Lourinhã, o autor foi entrevistado pela Shifter sobre o seu novo romance.
Há alguma ligação com a música “Maré Alta” de Sérgio Godinho?
Sim, é uma referência directa à música. Acabou por ser uma escolha negociada com a editora entre as várias hipóteses. Esta, felizmente, foi a escolhida. Fui eu a propô-la. Andámos ainda algum tempo a debater este assunto. Fiquei contente com isso, porque queria fazer alusão a esta canção que fala em liberdade.
Essa liberdade é mencionada na própria música: “Que a liberdade está a passar por aqui, que a liberdade está a passar por aqui”. As personagens parecem ser condenadas a sobreviver e não a viver. A liberdade chega a elas?
Chega e não chega porque é condição da liberdade ser uma coisa transitória, ou que tem de ser sempre alimentada. Uma boa fatia das minhas personagens anda a correr atrás dela, tanto num contexto geral (como país) como em relação a elas próprias, na forma como vivem e sentem. Andam à procura da liberdade individual, seja política ou mental. Querem fazer as suas escolhas.
Faz lembrar uma estrofe do Sérgio Godinho, da mesma música, que tu referes muitas vezes: “Aprende a nadar, companheiro/aprende a nadar, companheiro”. As personagens do teu livro lutam para se manter à tona?
Sim, sim. Tem mesmo a ver com isso. A liberdade implica sempre qualquer coisa extra. É preciso saber nadar ao sabor dessa corrente para não corrermos o risco de a deixarmos passar. As minhas personagens andam assim, a esbracejar, a tentar dar o melhor para não ficarem submergidas.
É um livro diferente do anterior. Saíste tematicamente dos subúrbios?
Pode ser uma coisa transitória. Não tenho a certeza. A certeza que tinha era a de querer fazer uma coisa diferente. Foi deliberado, pois não queria estar a cingir-me ao contemporâneo; queria falar de episódios históricos com um olhar mais alargado ao século XX português, a partir do meu ângulo de visão. Acabei por tentar distanciar-me do que já tinha feito. Não quer dizer que não regresse.
Não tens um programa literário…
Não tenho um plano. Aliás, é algo que nunca tive desde o início. Quando publiquei o primeiro livro fui “empurrado” para fazer isto. Não tinha nada escrito. Não tinha nada na gaveta, até porque não me passaria pela cabeça estar a fazer alguma coisa que fosse guardado só para mim. O que fizer neste campo há de ser para tentar que as pessoas leiam.
O vocabulário que utilizaste em livros anteriores remete, muitas vezes, para o dialeto urbano, contemporâneo, revitalizando alguns vocábulos. Este romance, situado fora das periferias, deu-te desafios na escolha lexical?
Sim, tive que pesquisar mais, tive que experimentar mais a escrita para saber se era uma coisa plausível. E fazer um exercício, que desta vez foi mais difícil, de tentar meter-me na pele de uma série de pessoas que teria vivido noutra época. Isso foi mais difícil, o que tornou o desafio ainda mais interessante. Deu-me oportunidade de resgatar vocabulário que já não é de uso corrente, mas de qual sinto uma certa falta. Por vezes, tenho a sensação que usamos um léxico muito curto para as possibilidades e património que a língua tem e que está mais ou menos enterrado.
Acabou por ser uma escrita menos intuitiva do que a dos outros livros, que aconteceram de uma forma mais natural. No fundo, era quase como se fosse um observador que ia escrevendo, embora sejam ficções. Neste caso foi preciso um trabalho um pouco diferente.

Foi uma arquitetura difícil de fazer?
Foi, acabei por fazer uma estrutura antes de começar a escrita do livro. Já o tinha feito nos outros livros, por uma questão de orientação e de método de trabalho. Não iria conseguir escrever o livro ao sabor das páginas. Iria perder-me. Deu algum trabalho montar a estrutura porque queria casar duas coisas: criar este homem em fuga e esta família na qual esse homem se incluía; outra era falar sobre uma série de episódios do século, sem parecer que as personagens eram instrumentos para ilustrar histórias do século XX. Não queria que o livro se parecesse com uma sucessão de cartões postais históricos. Isso acabou por dar mais trabalho, em que também tive bastante ajuda em termos de edição na Companhia das Letras. Neste caso com Eurídice Gomes, que foi quem trabalhou comigo. Ajudou-me bastante a focar e a fazer escolhas, que espero que tenham sido as escolhas certas.
Falaste na possibilidade de te perderes, caso não tivesses montado essa estrutura. Em alguns capítulos, fazes um apanhado com as ligações entre indivíduos e famílias, sempre de forma diferente. É uma estratégia narrativa para não se perder o fio à meada?
Sim, é uma forma de ser mais cúmplice com o leitor, tendo em conta que é uma narrativa com uma extensão maior. Tento marcar uma série de pontos chave que tornem o livro inteligível. Ajuda-me, em termos de organização, e pode ajudar o leitor.
Um século é muito tempo. Por quê esta necessidade de ir tão longe como cem anos para chegar tão perto como o imediato?
Andei a pensar, durante algum tempo, que gostava de fazer alguma coisa com abrangência maior e que gostava de falar de Portugal em diversas fases. Às vezes tenho ideia de que olhamos para o país quase como se tivesse havido uns blocos estanques. A I República como um período de grande confusão, o Estado Novo como ditadura e miséria, o 25 de Abril como liberdade. Dentro desses períodos há muitas nuances e muitos episódios e pontos de vista. Quis esta abrangência temporal maior para me poder dedicar a episódios e a histórias dentro da História de cada período. Pude pôr as personagens a viverem situações que não são tão abordadas, ou mostrar que estivemos envolvidos numa série de momentos críticos do século. Tive o objectivo de mostrar vários matizes do século XX português.
O primeiro episódio de que decidi falar foi o 18 de Janeiro de 1934. Foi uma revolução falhada na Marinha Grande e noutros sítios, pois era suposto ser um levantamento em várias zonas do país, nomeadamente na capital. Foi um golpe que rapidamente se percebeu que ia fracassar. Queria falar disso porque se percebeu que era um levantamento mais ou menos condenado, mas em que houve uma série de gente que o quis levar para a frente. Achei este fracasso anunciado muito interessante. Houve uma espécie de romantismo falhado. Alguns desses homens foram inaugurar o tristemente célebre Campo do Tarrafal. Quando comecei a pensar nos períodos históricos, este veio-me logo à cabeça. Sabia muito pouco, li muito sobre ele. Depois percebi que tinha de ir um pouco mais atrás, como se fosse para ganhar balanço. Acabei por aprender bastante sobre esse período em Portugal. O início do século foi mais violento e conturbado do que eu tinha noção.
Achei que era interessante partir daí, falar do momento em que participamos na I Grande Guerra, das convulsões que havia em Lisboa na altura, com uma sociedade extremamente crispada, e que acabou por redundar num golpe militar em 1926 que condicionou a nossa vida até agora. Nessa espécie de refluxo da I República que deu origem a um regime que ainda está muito presente nos nossos modos e nas nossas cabeças.
É uma literatura vinculada a uma causa?
De alguma forma, sim. Há um certo comprometimento e uma certa visão do mundo. Há várias correntes de pensamento e opinião em relação a isso. Há quem diga que faz arte pela arte, ou escrita pela escrita e há quem, como eu, faça narrativas com um ponto de vista bem vincado. É um meio em que posso expressar ideias com mais vagar.
Pergunto de outra forma: Geograficamente, saíste da periferia. E na vertente humana? Incides mais sobre o centro do poder ou sobre quem está à margem e está sujeito a ele?
É intencional. Podemos estar a falar daqui a um tempo e eu ter mudado de ideias. Para já, o que me interessa é o ponto de vista das margens, das histórias do dia-a-dia, das pessoas comuns – não sei se é a designação mais justa. É reflectir sobre o universo em que cresci e de onde eu vim. Gosto de ter a oportunidade de escrever livros que tragam isso à baila.
Mencionaste a tua experiência pessoal. Deixa-me sublinhar duas situações na tua vida: Lidaste com o público numa livraria. Foste agredido numa manifestação. São dois exemplos de um indivíduo com consciência de classe?
São experiências que acabam por te formar. A minha, de alguma forma, tem muito a ver com o contexto familiar, de crescimento e de condições materiais. Cresci numa família pouco ou nada politizada, mas sempre com um ponto de vista claro sobre a sua condição. Herdei isso. Nesse crescimento herdei coisas boas e herdei coisas más. Espero que isto se possa transformar numa coisa boa.
Por falar em família, este personagem, que anda sempre em fuga, é inteiramente ficcional?
É, embora o gatilho para a ter criado tenha sido um detalhe real de um familiar. De resto, a criação é inteiramente ficcional. Tem a ver com o facto de eu não saber o nome do meu avô materno, nem quem ele era. Nunca esteve presente e viveu a sua vida mais ou menos em fuga, ou sempre à procura de qualquer coisa que eu não sei qual seria. Era uma espécie de tabu familiar sobre quem nunca houve oportunidade de se falar. Era uma pergunta que eu sabia que não se deveria fazer. Cheguei a uma altura, em que já devia ter idade para ter juízo, que me levou a pensar que era uma situação caricata e insólita. Não sabia o nome de um familiar tão próximo. Achei que poderia ser interessante criar uma figura que atravessasse o século. Como se costuma dizer, qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. Não faço ideia do destino dele nem os antecedentes. Nada. Hoje sei – não sabia quando comecei a escrever o livro- o nome.
Como é que soubeste?
Isso aconteceu no lançamento do livro. Estava a falar deste gatilho para a escrita do livro e sobre esta pessoa de quem não sei nada, nem sequer o nome, quando a minha mãe gritou “Joaquim” da audiência. E olhou para mim com um ar entre o espantado e o condenatório, como quem diz “não sabias porque não querias”
Escreveste quase 500 páginas, quando podias ter somente perguntado.
Perguntava e se calhar não havia livro. É curioso porque isto aconteceu no lançamento e nunca mais falámos sobre este tema outra vez. Houve este episódio isolado, uma pequena revelação, e depois foi como se tivesse voltado a não existir.
O tabu foi quebrado?
Acho que não porque não sei se alguma vez vamos voltar a falar dele. Sei que a minha mãe nunca teve particular interesse em falar sobre ele, eu também não vou insistir. Ele já me serviu de instrumento suficiente. Tudo o resto fica no lugar onde sempre esteve.
Depois destas centenas de páginas conheces tão bem o teu avô como no princípio.
Exacto. Não conheço nada. Só lhe criei uma espécie de duplo. No fundo, esta ignorância acabou por servir de inspiração para o início da escrita. O personagem que eu criei autonomizou-se do resto. Não há nada que me faça dizer que esta pessoa é o meu avô.
Texto de Mário Rufino
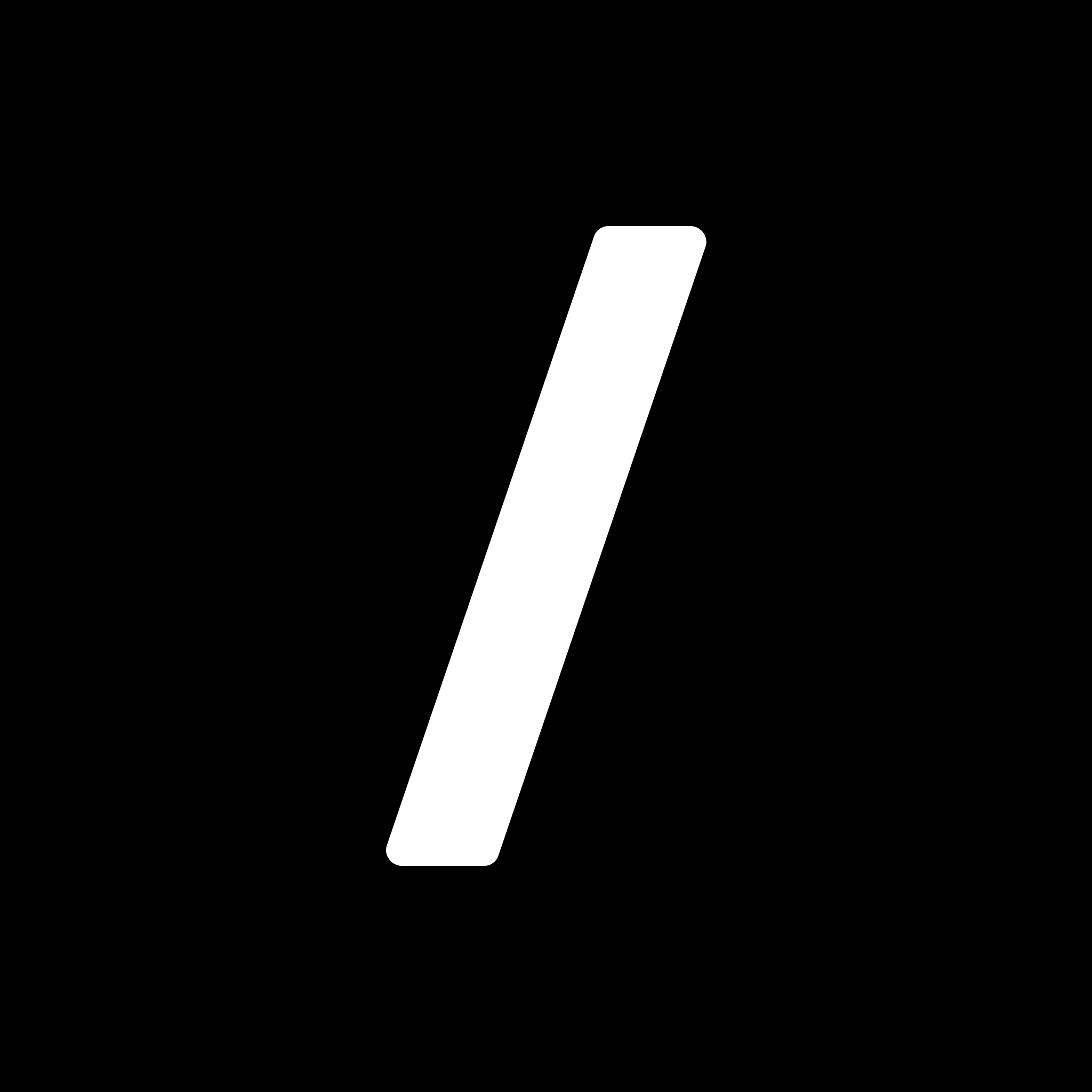
O Shifter é uma revista comunitária de pensamento interseccional. O Shifter é uma revista de reflexão e crítica sobre tecnologia, sociedade e cultura, criada em comunidade e apoiada por quem a lê.
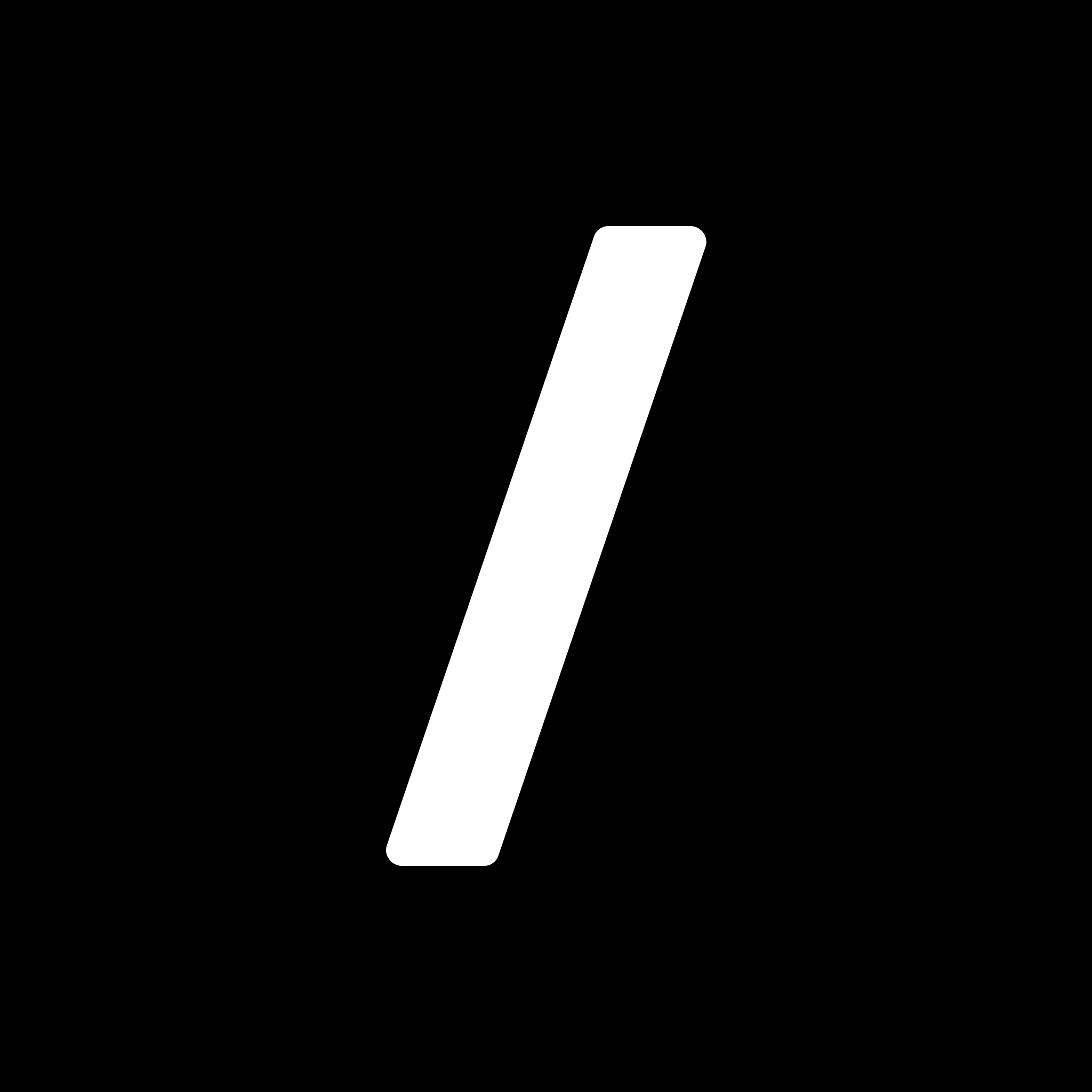
O Shifter é uma revista comunitária de pensamento interseccional. O Shifter é uma revista de reflexão e crítica sobre tecnologia, sociedade e cultura, criada em comunidade e apoiada por quem a lê.
Subscreve a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.
Outros artigos de que podes gostar:



You must be logged in to post a comment.