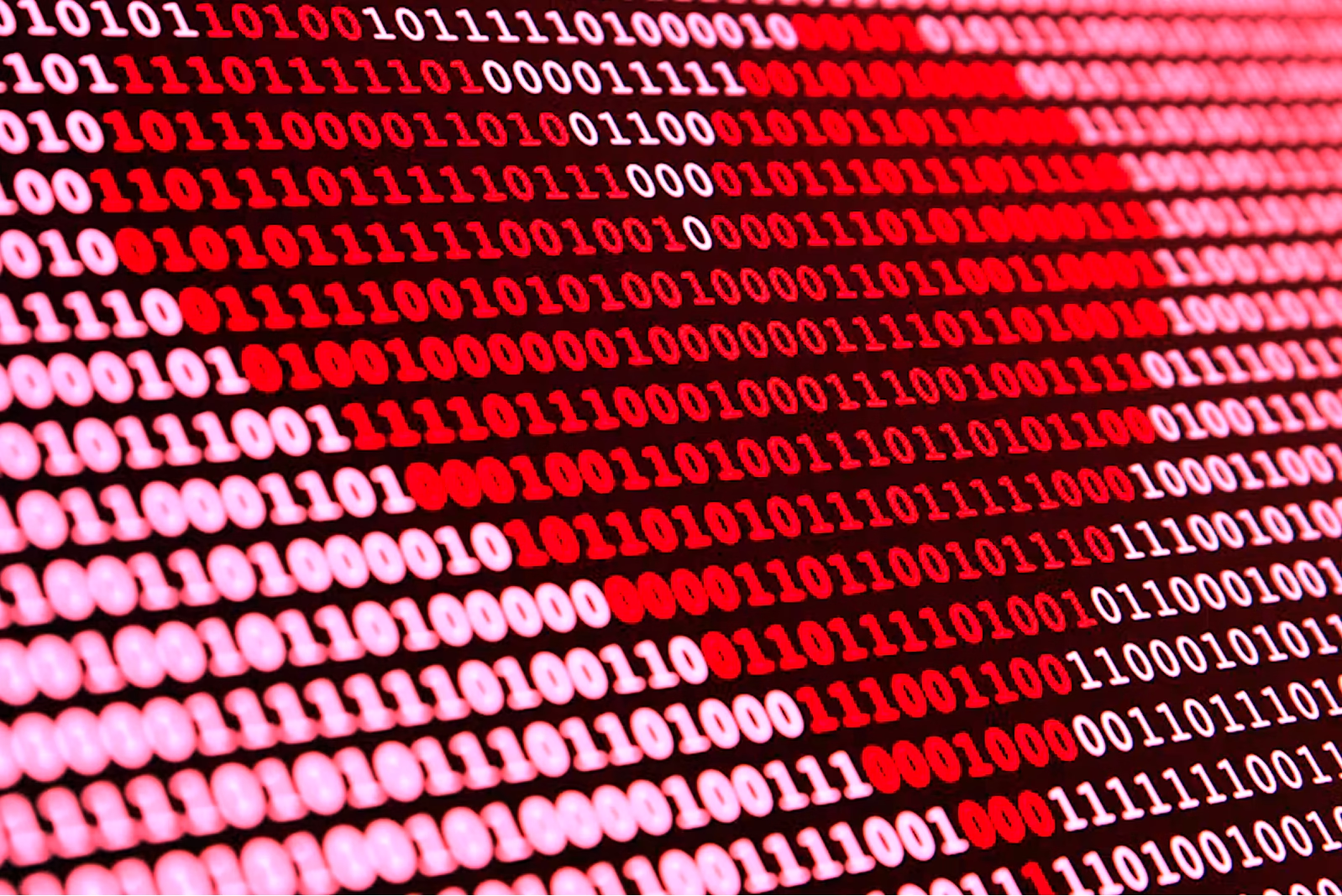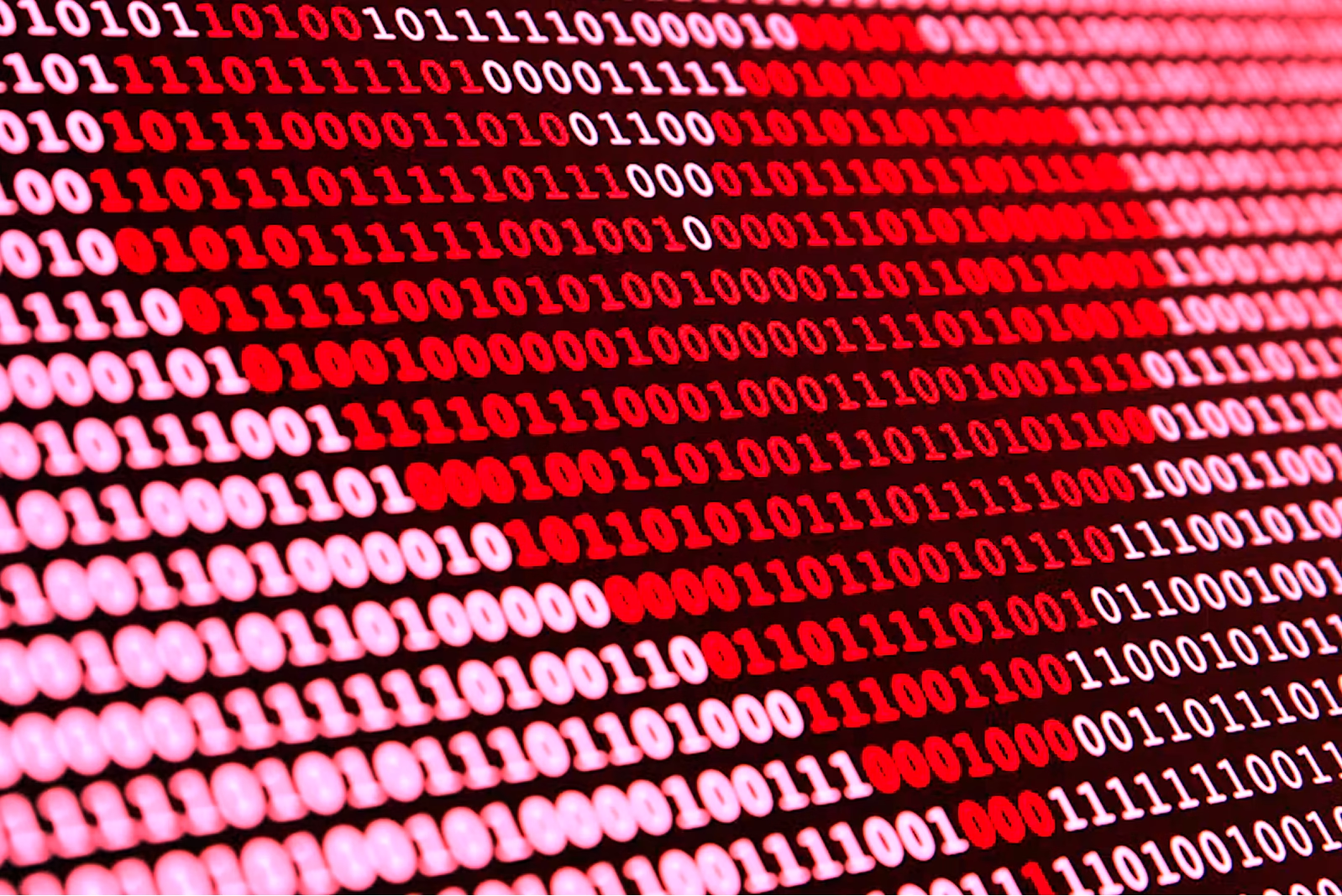
Todas as grandes nacionalidades vêm com um estereótipo associado. Os alemães são sisudos e eficientes, os franceses românticos e pouco asseados e os italianos combinam um óptimo sentido de estilo com um total desprezo pelo rigor. Essas caraterísticas virtuais, ainda que de fiabilidade duvidosa, baseiam-se num sentimento empírico e acabam frequentemente por ser adotadas com algum orgulho pelos povos visados, o que ajuda a formar uma identidade e a perpetuar a imagem.
A imagem dos ingleses, que acaba por não se distinguir da dos britânicos no seu todo, também é conhecida: péssima gastronomia, peculiar sentido de humor e um afinado sentido de pontualidade. E a pontualidade britânica foi apenas uma das coisas que se perderam com a tragédia grega dos tempos modernos que vai pelo petit nom de Brexit. É verdade, o mundo teve de assistir a uma humilhada Primeira-Ministra que viajou até Bruxelas para pedir três meses de atraso tolerado e aguentou estoicamente numa sala anexa, enquanto o Conselho Europeu decidiu o destino do Reino Unido ao jantar. Nada mal para um país que votou para sair na esperança de recuperar o controlo.
É seguro dizer que manter intacta a imagem da pontualidade britânica foi e é a última preocupação de Theresa May, que vê desconfortavelmente da primeira fila a derrocada do seu Governo, do seu partido e do seu país. Ainda que se mantenha mais popular do que Jeremy Corbyn, é cada vez mais vista como um empecilho e uma líder meramente no nome, cada vez mais despida de poderes efetivos. Os deputados britânicos chumbaram por três vezes a sua proposta de acordo – ainda que tenha existido um extraordinário esforço criativo para o fazer aprovar, que inclui tentar votá-lo apenas em metade, ou associando à aprovação a sua demissão – e vão afiando facas para a sua substituição, seja imediatamente por um outro membro dos tories, seja com novas eleições que podem estar para breve.
A derrota do Brexit a 29 de Março foi, evidentemente, uma derrota de May. Não é desprovido de sentido o argumento de que a missão de sair nesse prazo seria demasiado difícil para qualquer primeiro-ministro, que nem o carisma vagamente churchilliano de Boris Johnson ou a respeitável bonomia de Michael Gove teriam sido capazes de unir uma nação fundamentalmente partida e guiá-la numa determinada direcção, tivesse sido ela qual fosse. No entanto, é preciso lembrar que direção foi o que sempre faltou a este governo, que rapidamente permitiu que a União, primeiro, e o Parlamento, depois, tomassem controlo do processo que era a razão da sua existência e lhe retirassem toda a margem de manobra política. Ainda hoje, com um acordo preliminar negociado, não é fácil perceber exatamente qual é a visão da futura ex-Primeira-Ministra para o futuro do Reino fora da União.
A ideologia de Theresa May poucas vezes é tida em conta, sempre secundarizada pela mais recente novidade embaraçosa no processo negocial, mas merece consideração. No manifesto que fez o partido levar às urnas, os conservadores assumiam uma posição muito próxima da democracia-cristã continental – e o Governo que se seguiu veio mesmo a aumentar significativamente os gastos com a saúde e com projetos de habitação social. May, entenda-se, não é Thatcher, como facilmente se percebe. Aliás, ao contrário do que muitas vezes se pensa, o neoliberalismo nunca foi duradouramente predominante na direita britânica, altamente aristocrática e saudosista. É mais adequado enquadrar a Primeira-Ministra numa outra velha tradição ideológica dos tories, que teve origem em Disraeli e que o próprio veio a designar como “One Nation Conservatism”. Essa é uma visão pragmática (alguns diriam paternalista) da política e do conservadorismo, que defende a preservação das tradições, instituições e direitos individuais pela intervenção social de um Estado forte, por forma de assegurar uma vida condigna aos mais pobres, desincentivando-os de organizar revoluções que pudessem afectar as instituições consolidadas. Essa visão de conservadorismo de massas foi tentadora para muitos tories, por lhes permitir apresentar uma faceta humana e basear a sua política num programa de coesão e solidariedade nacional. Soa familiar? Provavelmente, porque não é descabido associar essa visão às ideias fundamentais da União Europeia, de solidariedade e convergência entre Estados-membros. Tragicamente, o mandato foi consumido pelo Brexit e pouca atenção, tempo ou capital político foram deixados para a restante governação do país e pouco mais ficará como legado.
O lugar de May na história não pode ser ainda perfeitamente adivinhado. Na melhor das hipóteses, porém, um truque de magia maquiavélica faria o Parlamento mudar de opinião e aprovar o seu acordo – ou um sucedâneo –, permitindo-lhe uma saída digna. Mais provável será a sua rápida substituição por um outro conservador, mais carismático e voluntarioso, mas confrontado com a liderança de um partido ainda mais quebrado do que a nação. No final, Theresa May ficará inevitavelmente como mais uma vítima da maldição europeia que fez com que todos os PMs conservadores desde Thatcher viessem a perder o mandato por problemas relacionados com a União Europeia.
Depois de May, contudo, o futuro dos Conservadores não é claro. No poder desde 2010 e sem uma oposição verdadeiramente ameaçadora (celebrizou-se a boutade de que o maior trunfo eleitoral do partido é servir como impedimento a um governo de Corbyn), é evidente a falta de uma visão para o futuro país. Não pode desvalorizar-se o risco de uma séria cisão nos tories, que se encontram profundamente divididos entre aqueles que querem uma saída a todo o custo, os que pretendem uma saída que mantenha um pé dentro e os que não desistiram ainda da permanência. Mais do que o Labour, que parece confortável por não ter de governar num tempo destes, é no partido conservador que a fratura interna quanto à saída se expõe como uma séria ameaça existencial. Ao próximo líder caberá sarar o partido e o país enquanto negoceia com Bruxelas um modelo definitivo de relacionamento – e todos estamos a assistir à dificuldade de aprovar um acordo sobre a mera transição. As sondagens ainda favoráveis, mesmo perante toda a pantomina dos últimos meses, são motivo de alívio, mas ao mesmo tempo transferem para a eleição do líder o peso de uma escolha de chefe de Governo e pressionam a escolha de um candidato capaz de recuperar a maioria parlamentar que a actual Primeira-Ministra perdeu.
O desafio mais próximo pode surgir já a 26 de Maio, uma vez que um eventual alargamento prolongado forçaria o Reino Unido a organizar eleições europeias para as quais nenhum partido mainstream está verdadeiramente preparado e que, historicamente, tendem a beneficiar os extremos. Em 2014, o senhor Farage e o seu UKIP venceram as europeias e daí veio o impulso fundamental para que o referendo se viesse a realizar pouco depois. Agora, Farage abandonou o UKIP e, num golpe de total desprezo pelas regras de subtileza, lidera o Brexit Party. Nem todo o seu anti-europeísmo o tornou menos adepto da confortável vida no eixo Bruxelas-Estrasburgo-Londres, até porque garante a satisfação dos seus exigentes padrões taberneiros. Um resultado pesado ou humilhante dos conservadores – e não é fácil descobrir qual seria a mensagem a passar na campanha de umas eleições cuja própria realização constitui uma enorme derrota – seria um golpe duro e poderia criar algum nervosismo dentro do partido.
Para o futuro do Brexit, a única solução internamente afastada (pelo menos por agora) é uma saída sem acordo. A actual composição do parlamento antes favorece uma saída mitigada, o chamado soft Brexit, que poderá ir até à permanência no mercado comum (o que não seria exactamente uma saída), mas deve parar numa forma de união aduaneira. Um novo Primeiro-Ministro poderia encontrar vantagens em novas eleições que alterassem a conjuntura actual e lhe permitissem negociar com maior facilidade, repetindo o risco (mal) corrido em 2017, mas dificilmente isso resolveria a questão essencial. Cerca de 17 milhões de britânicos votaram para abandonar a União a que pertenceram durante 40 anos e rapidamente se aperceberam que não o poderiam fazer imaculadamente em quatro anos. O encontro com a realidade tem sido doloroso, mas sobretudo para os políticos. Se à nação o desatino parlamentar e governamental tem causado alguma impaciência, para os partidos representou viver diariamente perante o risco iminente de implosão.
A verdade é que a campanha a favor da saída foi muito mais eloquente e bem conseguida do que o processo que lhe seguiu. É difícil negar que os brexiteers mostraram uma interessante capacidade de mobilização eleitoral, fundada num discurso que, ainda que demasiadas vezes enganoso, abordou aquilo que era entendido como o conjunto de problemas reais do projecto europeu para os cidadãos que a certo momento deixou de servir. Por baixo do mantra soberanista presente no slogan “take back control” e da campanha de terror sobre imigração, o referendo levou a discussão europeia para o centro do palco mediático, incentivou as instituições a agir e rapidamente catapultou figuras discretas (ou até menores) para a posição de exercício pleno dos poderes dos seus cargos. Donald Tusk, Michel Barnier e, em menor grau, Jean-Claude Juncker tornaram-se figuras de primeiro plano e souberam gerir a posição comunitária de forma a encurralar os britânicos. O europeísmo parece ter saído revigorado de tudo isto, desde logo porque pela primeira vez muitos jovens perceberam a UE como algo que se pode perder e deve preservar. Por outro lado, o difícil equilíbrio de poderes no processo negocial passou a imagem de uma União dominante e vencedora, que se manteve um bloco coeso e aparentou sempre mais maturidade do que uma das mais respeitadas democracias ocidentais. É verdade que alguns sectores de opinião criticaram – e não sem alguma razão – a rígida perspectiva negocial europeia, por significar que, na prática, é impossível abandonar a União com uma réstia de dignidade, mas o ruído peripatético de Westminster conseguiu abafar até esse argumento.
No momento em que se vislumbra o fim deste Governo, mas é demasiado cedo para se escrever a sua história, permanecem mais dúvidas do que certezas. Theresa May foi a conservadora errada no momento certo, incapaz de navegar o país numa revolução decidida pelo voto e que termina confrontada por um dilema horrível: ou parte o partido, ou parte a nação. Não é claro que haja uma escolha certa – e todo o processo se tem assemelhado a uma interminável busca pelos vários males menores que se apresentaram no caminho –, mas é evidente que o país mudou fundamentalmente na noite de 23 de Junho de 2016. Talvez seja para isso mesmo que serve uma democracia.
Texto de João Diogo Barbosa
Apoia a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.
Outros artigos de que podes gostar: