

A exposição hiperboliza tudo. Amplia, reduz, torce, escava. Raramente deixa o objecto no seu tamanho real, original. É preciso olhar com desconfiança para todas as asserções e rótulos criados a uma coisa no calor de um momento. Há pressa em engolir e não há vagar para digerir. Um ímpeto para sentenciar, um espaço crítico para preencher. De repente, não temos um rapaz emergente a cantar, mas sim Rá que se fez carne para deixar uma short message à humanidade. A canção fala de impossibilidade: de partirmos objectos que nos agarram, de ligarmo-nos a pessoas que partiram. Estamos, por isso, perante alguém que está ciente da sua imanência.
Vários académicos defendem que a recorrência excessiva à palavra ‘génio’, especialmente na cultura pop dominante, se deve ao indivíduo genial como condição ontológica, algo herdado do Romantismo e que já havia espigado no Iluminismo. Mas, principalmente, ao advento do culto das celebridades que, graças aos ecrãs e aos mecanismos dos mídia, são capazes de criar uma aura à volta de um artista, assim como construir uma ‘persona’ – uma caricatura ou um endeusamento de um indivíduo. Tal provoca um efeito de afastamento/proximidade que permite que uma pessoa idolatre outra, quase como se esse humano não o fosse completamente, retirado de outra atmosfera espácio-temporal. Ou, por outro lado, tecer-lhe duras críticas de foro pessoal e ódio com base em premissas que lhe são alheias. É como que uma personificação da falácia do espantalho.
Posto isto, não se anda a discutir o artista. Discute-se o boneco ou os bonecos dele. Não se anda a discutir a música e a poesia. Discute-se a crítica à música e a crítica à poesia, bem como o fenómeno social em si (este que acho de maior importância analisar e criticar – o olhar para nós próprios enquanto colectivo). No meio de toda esta meta-informação, é preciso alguma seriedade formalista em relação à arte. De outra forma, as conclusões são precipitadas e dá-se o fenómeno da tal democratização absurda do génio ou, como põe o historiador Darrin McMahon, alegações infladas e de uso excessivo generalizado. A ideia de génio que impera nos dias de hoje é um estereótipo de culto das celebridades. O conceito é, assim, expandido a estrelas rock, treinadores de futebol, personalidades dos media. Qualquer um é génio pelo culto que se gera em torno dele. Qualquer coisa é genial pelo burburinho e polémica que causou. Como bem afirma José Gil, é preciso “pensar agindo e agir pensando”. A precipitação gera confusão. O pensamento gera discussão saudável. Certo é que a incompreensão e o controverso podem ser bons indícios para que determinados artistas mereçam a nossa atenção. No entanto, teríamos nós o mesmo tipo de reacção para muita da produção artística que não tem o alcance e a exposição que o vencedor do Festival da Canção teve?
A música alternativa, quando é retirada do seu ecossistema, torna-se quase como que uma ida ao circo. Vamos, não pela qualidade estética, mas pelo espectáculo e pela bizarria do que lá se encontra. Ou como um oráculo que, de tão diferente ser, aparece como uma revelação, num plano transcendental; (li, inclusive, que o futuro estava escrito para o intérprete de “Telemóveis”). Essa música específica que tem um público específico, quando descontextualizada e posta num território mainstream, tem a vantagem de chegar às pessoas que potencialmente iriam vibrar com essa música, mas que não teriam tão fácil acesso ao universo de onde vem. Mas, também, a desvantagem inversa de chegar às pessoas que potencialmente odiariam e que, desta forma, têm um embate não referencial com a mesma. No meio disto, há ainda as pessoas que a recebem com uma decepcionante apatia. A partir deste ponto, levantam-se mais problemas.
Não sou acérrimo pós-estruturalista, mas acredito que a noção de processos de normalização na sociedade é algo que não deve ser escamoteado ou totalmente ignorado. Modas são nada mais nada menos que normalizações de gosto. A pergunta ‘quem te mandou gostar disso?’ será legítima? A frase “Primeiro estranha-se, depois entranha-se”, que teve fins propagandísticos primordiais, agora aplica-se a uma canção. Significa que se se insistir em algo acaba por se gostar, como se procurássemos diferentes disposições do nosso espírito até encontrar uma em que se mostra receptiva ao objecto. Assim, como o filho que come um determinado alimento por pressão parental até que o come por si próprio, também a arte é um objecto de consumo a que nos obrigamos à sua ingestão por pressão social. O próprio slogan pessoano já está a condicionar a nossa futura fruição. Quando se vai ouvir um artista já condicionado por opiniões e juízos estéticos, o nosso gosto e a nossa reacção já foram burladas por quem lhe colocou um embrulho de expectativa; o grau de pureza da experiência pessoal diminui. É lógico que não somos uma tabula rasa de cada vez apreciamos um objecto—somos condicionados por nós próprios. No entanto, é essa construção de identidade que irá dar a nossa visão da coisa e temos a liberdade de acharmos o que quisermos da coisa para a seguir podermo-nos analisar de fora e formar uma opinião mais formada. De outra forma, o que analisarmos de fora foi o que já de fora nos foi colocado dentro. E é um pouco isto que a própria sociedade faz com o indivíduo, tanto para o lado do génio como para o lado do impostor.
E porque acho esta imunidade à influência alheia importante? Por uma razão que T. S. Elliot toca no seu ensaio The Music of Poetry de 1942. A certa altura do texto, o poeta norte-americano diz que “um poema pode parecer significar coisas muito diferentes a diferentes leitores, e todos estes sentidos poderão, por sua vez, ser diferentes a diferentes leitores, e todos estes sentidos poderão, por sua vez, ser diferentes do que o autor suponha ser o seu”. Esta convivência com a diversidade crítica é crucial para aceitar a multiplicidade de significados que uma obra condensa em si mesma. Elliot continua o raciocínio:
“Por exemplo: o autor pode ter expressado uma experiência pessoal invulgar, vista, por ele, sem qualquer relação com o exterior, e contudo o leitor poderá encontrar no poema a expressão de uma situação geral, assim como uma experiência pessoal sua. A interpretação do leitor poderá ser diferente da do autor e ser igualmente válida – pode ser até melhor que a dele. Pode haver num poema muito mais do que o seu autor supunha. As diferentes interpretações parciais de uma mesma coisa; as ambiguidades podem resultar da circunstância de o poema significar mais, e não menos, do que a fala normal é capaz de comunicar.”
Agora, tomemos como exemplo a canção vencedora do Festival da Canção. A ambiguidade adjacente ao conteúdo lírico dá azo a que várias interpretações surjam: umas tão intrincadas que ampliam e multiplicam o significado geral e os pequenos significados ou reduzem e esvaziam o(s) significado(s). Para exemplificar isto, encontrei numa caixa de comentários do YouTube o seguinte:
“Eu vou descer a minha escada
Vou estragar o telemóvel
O telele
Eu vou partir o telemóvel” – a raiva e desespero de uma chamada com uma notícia tão triste podem levar a actos brutais. Ainda hoje lembro perfeitamente os momentos seguintes às notícias da morte do meu tio e depois do meu avô. A sensação foi exactamente a descrita aqui. Numa delas o telemóvel literalmente voou contra a parede. Quem nunca?

O que aqui aconteceu foi uma extrapolação do significado para a experiência pessoal. Aquilo que Elliot dizia como sendo perfeitamente válido, embora não a única interpretação possível. Estabelece-se uma comunicação entre sujeito e objecto não prevista pelo autor. Este significado não pode ser atribuído ao autor, mas ao sujeito. Logo, neste caso, não há qualquer mérito no emissor da mensagem. A atribuição da categoria de génio por um artista me ter feito aceder à minha subjectividade a partir da sua obra não me parece razão suficiente. As obras são muito mais o que fazemos delas, enquanto indivíduos e enquanto sociedade.
A este momento do texto, gostaria de evocar os autores Keith Negus e Michael Pickering, autores de parceria que, com destreza académica, escrevem sobre criatividade, comunicação, valor cultural e o génio. Eles exaltam o critério da excepcionalidade como o principal critério definidor do génio na cultura de massas, contrapondo as análises pós-estruturalistas e sociológicas:
“(…) nós consideramos como certos tipos de criatividade são reconhecidos e recompensados pelas indústrias culturais, como os artistas criativos operam em relação à convenção e à tradição, e como alguns foram constrangidos ou oprimidos por divisões de classe, género e raça. No entanto, à medida que nos movemos dessas considerações, percebemos que temos de nos confrontar com o fato de que muitos cantores, compositores e músicos – tal como muitos pintores, romancistas e dramaturgos – são estimados pela sua excepcionalidade criativa, ou pelo menos pela excepcionalidade de algo que produzem. O carácter especial desses casos de excepcionalidade criativa leva-nos à categoria de génio, a categoria que foi abandonada pela teoria cultural.”
A visão aqui expressa é a de que o critério da excepcionalidade, aquilo que sobressai, continua a impressionar e a aparecer nos juízos e apreciações do quotidiano, em relação àquilo que se considera criativo. Com alguma ironia, estes autores alegam que, na prática, todas as pessoas – incluindo teóricos de cultura, pelo menos quando se afastam das salas de aula e dos púlpitos – operam sempre sob a forma de valores estéticos deexcepcionalidade; mais ainda na música popular. A recusa em lidar tanto com a excepcionalidade criativa como com a vulgaridade da cultura pode impedir e privar a crítica dos casos em que, de facto, há uma transformação radical nas possibilidades artísticas até então. No entanto, como o sociólogo Nicholas Cook apontou com pertinência, esta crítica aos estereótipos que se criaram à volta do génio criaram um obstáculo para se pensar a excepcionalidade na criatividade cultural. Ao atacar uma frente elitista que relativiza a qualidade atribuída à música, acabam por atribuir criatividade a qualquer um, o que é um equívoco e expande o conceito de genialidade rumo à insignificância. É imperativo encontrar um meio termo, separando conscientemente a produção artística da aceitação crítica e popular. Tratar com seriedade questões como a transversalidade no tempo e no espaço de determinadas músicas e de como essas músicas têm o poder de ser conectar a um número e a um tipo tão variado de pessoas.
Sobrevive ao tempo quem não fica à superfície. Aquele que pega no seu ofício e bebe-lhe a essência. Quem se move pela curiosidade e desenvolve uma linguagem consistente e douta. Há uns dias atrás dei por mim a ouvir três álbuns de Ivan Lins de uma assentada. Espero com algum ímpeto se irá alguém daqui a 30 ou 40 anos ouvir sofregamente três álbuns do artista que agora tanto aclamam (sem mute). Não é o que é novo, é o que continua a sê-lo. A ideia de casualidade do génio agrada-me, porque deixa de ser uma questão shakespeariana de ser ou não ser, mas sim, o estar ou não estar. Um processo onde confluem uma predisposição para a criação aliado a um contexto temporal e espacial favorável e único para a produção incomum. Mas não será isto aquilo a que se chama de fluxo criativo aliada a uma conjuntura social favorável? E será que faz sentido dizer de alguém que está ou esteve genial, ao invés de que é ou foi genial? Não será, por exemplo, dessas heranças linguísticas que advém estes mal-entendidos de desuso e abuso da palavra?
São bons estes fenómenos como o Festival da Canção porque nos reposicionam e ampliam alguns traços caraterizadores da nossa sociedade e da forma como vemos a arte. O fenómeno que se gerou à volta de uma canção ligeiramente fora dos padrões do habitual poderá dizer muito da cena musical mainstream em Portugal e, possivelmente, na Europa. O que não falta são artistas a criar obras de interesse extraordinário e a não terem espaço, oportunidade ou condições favoráveis de se fazerem ouvir. Desmistificar o oráculo. Ter cada um o seu báculo, pensar e criticar por si próprio. Não nos deixarmos levar pelo espectáculo, ou moda, e avaliarmos sob o prisma de critérios sólidos. É o que proponho.
Texto de Jónatas Pereira
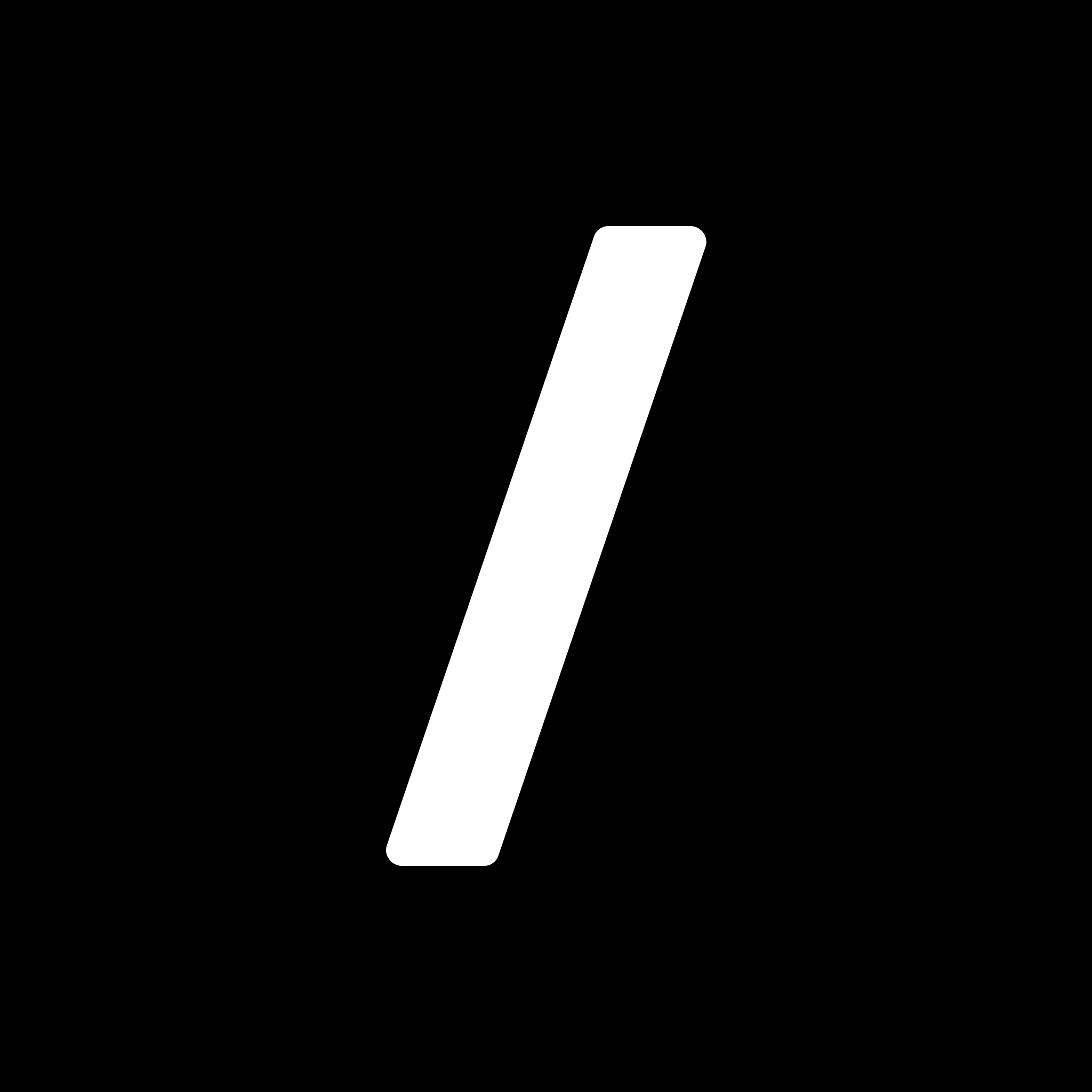
O Shifter é uma revista comunitária de pensamento interseccional. O Shifter é uma revista de reflexão e crítica sobre tecnologia, sociedade e cultura, criada em comunidade e apoiada por quem a lê.
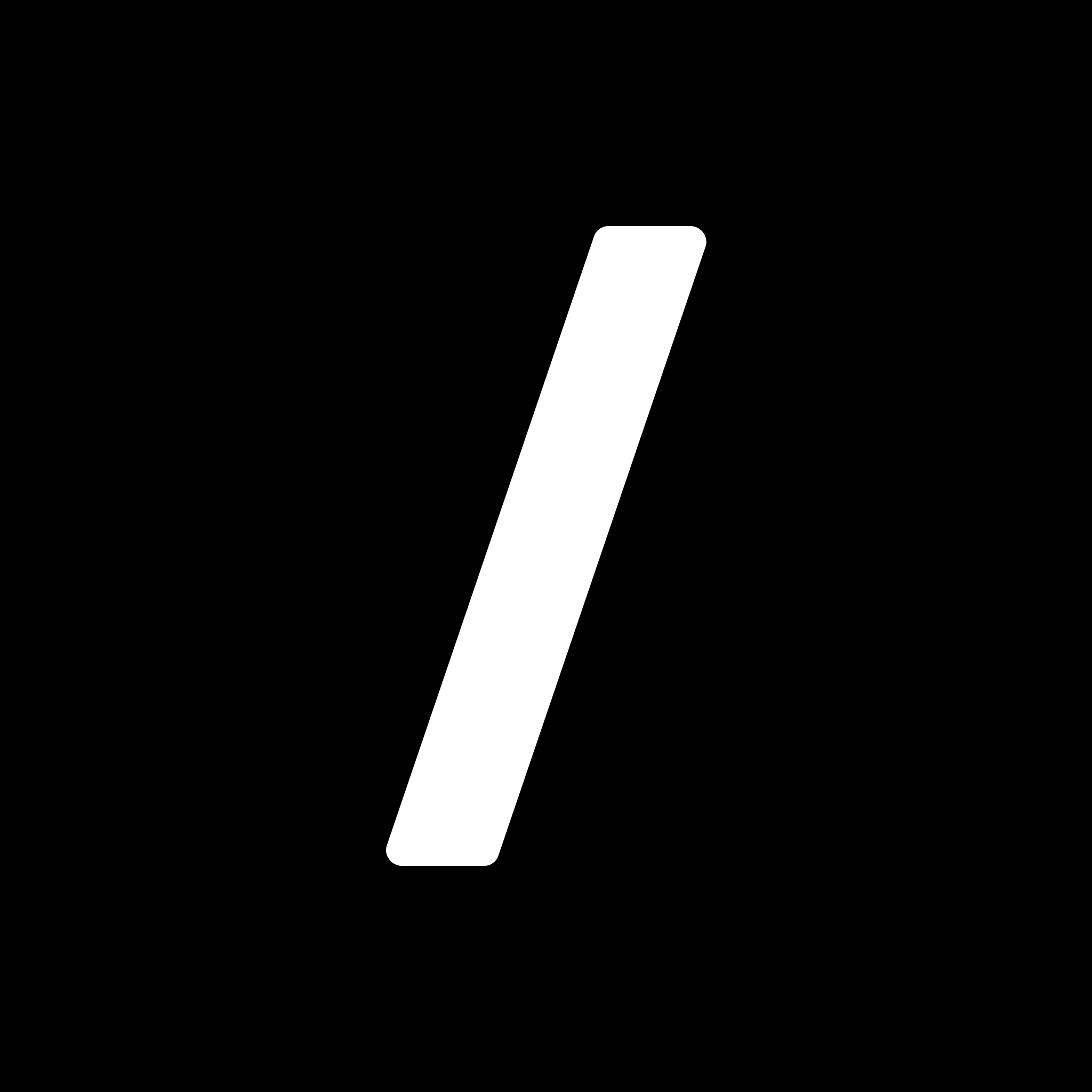
O Shifter é uma revista comunitária de pensamento interseccional. O Shifter é uma revista de reflexão e crítica sobre tecnologia, sociedade e cultura, criada em comunidade e apoiada por quem a lê.
Subscreve a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.
Outros artigos de que podes gostar:



You must be logged in to post a comment.