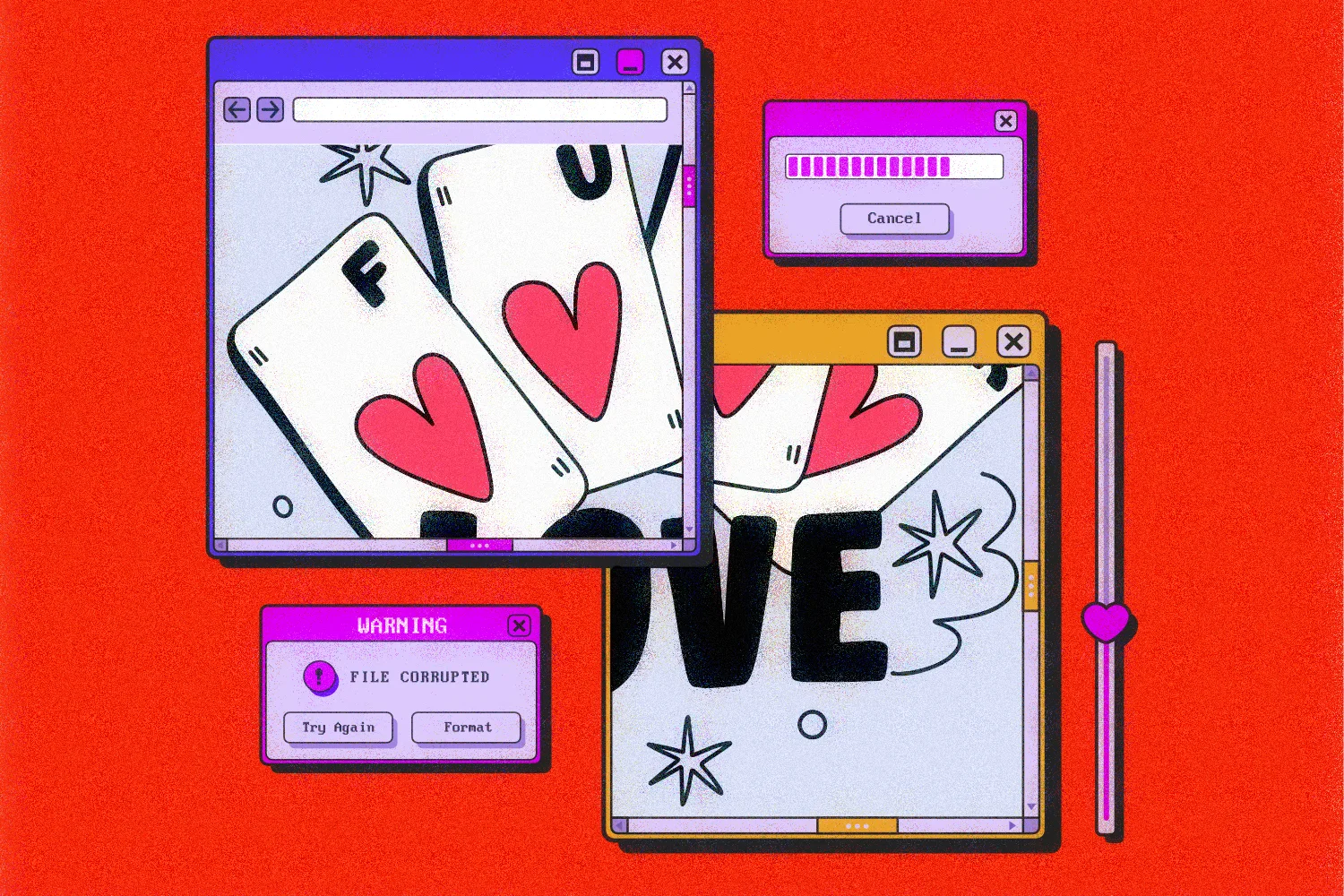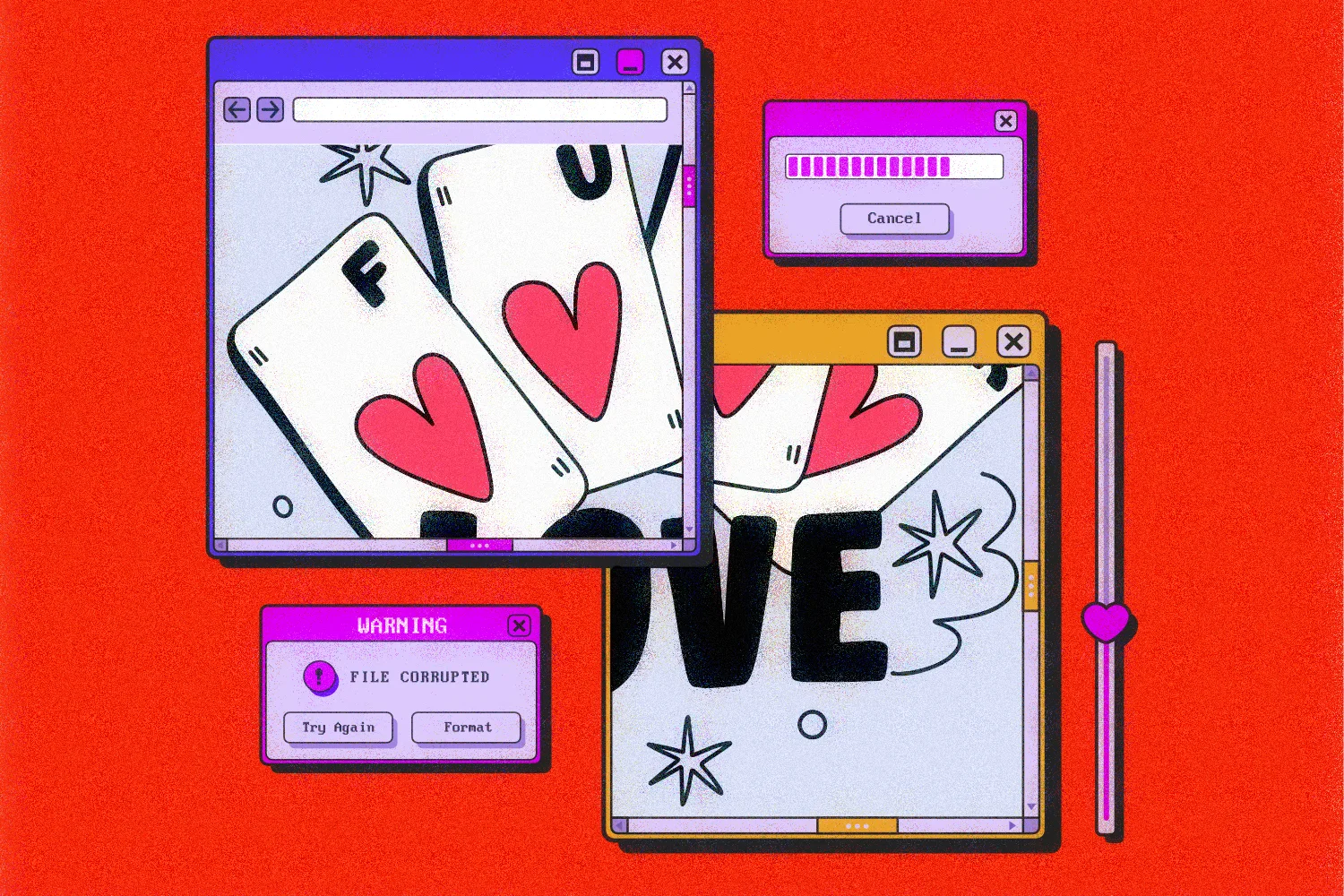
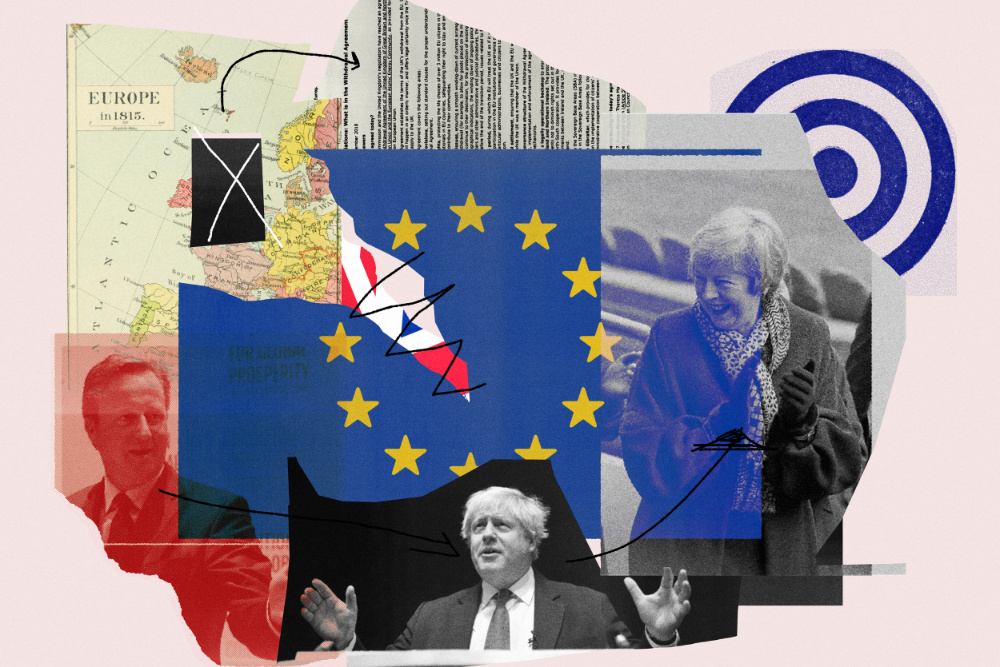
(Podes ler a parte 1 desta crónica aqui.)
Depois de tantos meses enfastiantes, cheios de competições pelo grito de libertação mais alto, e de uma omnipresente incerteza sobre quem realmente puxa as cordas dos destinos do processo político mais controverso das últimas décadas na Europa, eis que um fio de luz se mostrou. A Câmara dos Comuns gritou mais alto e, numa inédita rebelião dos deputados conservadores contra a sua líder, veementemente chumbou o acordo que Theresa May obteve com os seus homólogos europeus.
Que razões sustentaram este acontecimento? Numa resposta curta, a situação do Brexit em si. Pode parecer uma resposta circular mas não é: a premissa da saída do Reino Unido, aliada aos vários desejos de quem votou por sair, mostrou-se desde cedo a analogia de uma caixa de Pandora. Parece não haver um caminho que satisfaça as várias facções do eleitorado nem da classe política. Nem na justiça da “democracia” o País se entende. Qualquer decisão dos deputados que pareça ir contra o resultado do referendo é visto como “uma traição ao povo” e a grande percentagem do povo que deseja um novo referendo é suprimida pela classe política (por diversas razões em jogo). Nunca o provérbio de que não se pode agradar a Gregos e Troianos foi tão verdadeiro.
Depois de uma sucinta explicação da origem do Brexit dada na parte 1, esta segunda parte vai explicitar os maiores problemas que advêm desta decisão. Estes irão, invariavelmente, definir não só o Reino Unido na cena internacional mas a sua própria orgânica interna, que com esta conjectura política terá de viver, quer queira quer não.
A ânsia pelo poder dos Conservadores relembrou o País de uma constatação elementar: a União tem ainda profundas feridas internas que correm na derme da sua pele. O poder de influência das quatro nações integrantes do Reino Unido (Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte) não acontece apenas na Câmara dos Comuns, o seu parlamento central; a existência de governos locais e respetivos parlamentos traz uma camada adicional de jogos políticos por poder indireto ao de cima. O voto no Brexit despertou problemas outrora anestesiados cujas soluções permanecem inexistentes.
Cameron nunca se sentiu diretamente intimidado pelo UKIP e Farage. O sistema elege os deputados da Câmara dos Comuns por regiões demarcadas (as constituencies) e protege assim a agenda dos partidos, escondidos atrás do caráter pessoal dos representantes. Este sistema de winner-takes-it-all revelou-se estranhamente extremo: em 2015, 12.6% dos votos no UKIP de Farage repercutiram-se em zero deputados. Sem surpresa, o UKIP nunca pretendeu ser realmente uma solução governativa, preferindo bater-se por apenas levar um referendo de permanência na UE avante. Esta sempre foi uma ambição confirmada por Farage.
A maioria conseguida pelos Conservadores poupou-os de levar tal plebiscito avante conforme os moldes do UKIP. Para selar este inconveniente nos seus termos, os Conservadores quiseram colocar a questão à população apenas depois de Cameron “negociar” uma nova relação com o Bloco. A visão de reformador e tough guy perante Bruxelas certamente haveria de acalmar aqueles mais incertos, não é assim?
Aqui começa o fim. Na sua ganância política, Cameron pensou que um “não” no referendo seria altamente improvável. Na tradição Britânica, a moderação pragmática é rainha. Mas os tempos de 2015 provariam não ser normais: o pico da crise de imigração europeia, a entrada de Donald Trump na corrida à Casa Branca (anunciada um mês após as Eleições) e a “traição democrática” do sistema contra os votantes do UKIP, sem qualquer representação parlamentar, trouxeram uma certa agressividade às táticas utilizadas.
Pelo lado da Escócia, a questão do Brexit trouxe memórias de um outro contencioso referendo em 2014, pela sua independência do Reino Unido – coloquialmente conhecido como Indyref. O “Não” pela independência ganhou significativamente contra o “Sim” (55%-45%), apoiado maioritariamente pelo SNP – Partido Nacional Escocês – liderado pela astuta Nicola Sturgeon.
Contra tendências gerais não se pode argumentar e ambos os campos inteiraram-se disso: a Escócia é uma nação pró-europeia. A sua indústria e turismo têm crescido notavelmente, muito por culpa da procura europeia. Trabalhos altamente especializados estão a ser criados a um ritmo notável. Com esta atração de talento, a dimensão industrial e cultural das suas universidades e empresas está a expandir-se.
No que toca os Escoceses, qual foi o calcanhar de Aquiles para os Brexiteers? Muita gente foi seduzida pelo argumento, um tanto natural em 2014, de que uma Escócia no Reino Unido ficaria dentro da União Europeia e que a sua independência a impediria de se reunir na família europeia – algo que tem sido a retórica da UE em relação a movimentos independentistas em estados-membros. Na ótica do SNP, o “Sim” teria ganho se a população soubesse de que seria forçada a sair da UE. Não é uma asserção disparatada: nenhuma das constituencies da Escócia votou a favor do Brexit – a separação no mapa eleitoral é clara. Sturgeon, primeira ministra escocesa, não esperou em capitalizar o sentimento – para ela, a Escócia não será tirada do Mercado Único Europeu e tais resultados justificam que a Escócia tenha um poder influente sobre o processo do Brexit. Isso, aliado a um acentuado desdém do SNP para com os Conservadores (Thatcherianos) de Westminster, tem levado a uma relação um tanto agridoce (mais para o acre, convenha-se) entre o seu governo regional e a casa grande da (des)união de nações, no sul.
A jogada de Sturgeon, a favor do “voto popular” e assim “do povo”, tenta criar condições para um novo Indyref (o Santo Graal para o SNP, como Brexit é para o UKIP), assim como mostrar o poder do seu partido no Parlamento Britânico, que surpreendentemente tomou todos menos três lugares dos que estavam disponíveis para a Escócia na Casa dos Comuns, em Westminster. Não só o SNP tem a ganhar. A líder dos Conservadores Escoceses, Ruth Davidson, lidera um grupo dentro do partido que vai ser fulcral para qualquer acordo sobre o Brexit que queira passar no Parlamento. Há mesmo alta especulação que ela possa brilhar na liderança nacional do partido. Contudo e mesmo sendo do mesmo partido, acima de tudo estes jogadores políticos são Escoceses. E os Escoceses podem gostam bem dos seus scotch eggs, bem cozidos, mas não de um Brexit de casca dura.
Um cul-de-sac é uma rua sem saída. Que rua será esta? Bem, esta pode ser qualquer arruamento que passe pela fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. A região do norte da ilha da Irlanda manteve-se fiel à Coroa durante as revoluções que eventualmente ditaram a independência do sul da ilha, em 1922, criando o estado da República da Irlanda. Como resultado, enormes divisões sociais e religiosas marcaram décadas de conflitos sangrentos e violentos entre Unionistas – no norte, predominantemente Protestantes – e Republicanos – predominantemente do resto da ilha e Católicos. O ponto de viragem deu-se com a assinatura de um acordo histórico: ambos os lados decidiram os moldes governativos da Irlanda do Norte no que seria conhecido como o “Good Friday Agreement”, em 1998. Desde então, a zona tem vivido em relativa paz. Como? Os Republicanos reconhecem a auto-determinação da Irlanda do Norte a continuar sujeita à Coroa Britânica sem haver qualquer separação de pessoas ou bens entre as duas partes da Ilha.
Essa solução foi fácil de implementar na realidade. Como países-membros da UE, tanto a Irlanda como o Reino Unido, que se estende até à Irlanda do Norte, não necessitam de controlo fronteiriço e alfandegário. A situação do Brexit veio transformar esta equação em algo impossível de se resolver. Se o hard Brexit for avante, o Reino Unido com certeza ficará fora da União Aduaneira. Assim sendo, produtos de lá provenientes não estarão obrigados a manter standards definidos no Mercado Único Europeu e serão forçadamente taxados na alfândega. Uma fronteira física para controlar o fluxo de bens teria então de ser criada.
Para juntar uma certa pimenta (quem não gosta daquele drama de novela mexicana q.b.?), May tem que contar excecionalmente com uma peça adicional: o DUP (Partido Unionista da Irlanda do Norte). Este partido, duramente religioso, conservador por natureza, não aceita qualquer desvio de políticas entre a Grã-Bretanha (Inglaterra, Escócia e País de Gales) e a Irlanda do Norte, muito por medo de alguma vez cair nas mãos da República da Irlanda. Esta fervorosa aliança criou uma percentagem populacional que não se revê como irlandesa e que jamais aceitará uma reunificação com o Sul.
Porque precisa Theresa May de uns míseros oito deputados do DUP para conseguir passar qualquer acordo sobre o Brexit? May, talvez querendo manter a maré de más decisões com uma medíocre mão de cartas, tentou aumentar a sua maioria no parlamento, atingida pelas Eleições Gerais de David Cameron em 2015.
Não se pode verdadeiramente crucificar a senhora por tal pensamento: os Trabalhistas ainda estavam a adaptar-se à nova cor vermelha de Jeremy Corbyn. Muitos não o suportavam nem o viam como potencial Primeiro-Ministro, julgando que o seu aparecimento seria transiente “até que a realidade lhes caísse em cima”. Com uma Oposição em caos interno e com fraca mobilização nacional, ela decidiu atacar anunciando novas Eleições Gerais (depois de semanas antes ter desmentido tal hipótese).
Nunca se pode subestimar o Maybot: o Robot May nunca desilude. A sua catastrófica campanha, cheia de momentos de puro embaraço, cringe e facepalms mostrou a sua fraca natureza e caráter de líder. Com tal brincadeira, May perdeu a pequena (mas confortável) maioria de 14 que detinha e passou a ter de precisar do DUP para formar um governo minoritário que pudesse ao menos passar o Orçamento de Estado. Para que este acordo mínimo fosse possível, o DUP conseguiu 2 mil milhões de libras para o seu governo local (not bad eh?); pela parte de soft politics, atrelou May a ouvir as suas demandas mais atentamente.
Esta nova agulha, dentro de um novelo já extremamente emaranhado, entre a Irlanda, Escócia, Bruxelas, os Estados Unidos e a sua já grande oposição interna e externa, furou ainda mais a sua frágil capacidade de balançar os pratos.
De novo, nenhuma decisão parece ser compatível com qualquer dos lados. Se o RU quiser avançar com a saída integral da União Aduaneira, a imposição de alfândega é irredutível; mas tal acção vai contra o Good Friday Agreement. Se, para salvar o Acordo, a fronteira aduaneira for colocada na costa da Ilha, poupando a fronteira entre as duas regiões, o DUP não aceitará o plano no Parlamento.
Existe sempre muito para considerar numa novela. Muitas personagens, mini-enredos que se enovelam noutros, criando um emaranhado de razões e peripécias que servem de justificação para que qualquer pessoa tome a sua posição sobre o assunto.
No entanto, nesta análise que eu espero que tenha deixado razões factuais e não simplesmente a conclusão que o meu raciocínio tomou, certos pontos são fulcrais para entender o que se há-de passar.
O Reino-Unido foi levado a votar num tema estrutural da sua geopolítica e relações internacionais: o de deixar de ser um membro da União Europeia. O campo dos Brexiteers mentiu categoricamente nas promessas possíveis de cumprir, ou no papel da UE na política própria do país. O eleitorado, muito com aspirações justificadas, aderiu a uma retórica anti-UE, demonizando-a por tudo o que mal se encontra no RU.
Aqueles que levaram à saída, fugiram. Theresa May, uma Remainer, tomou as rédeas e trouxe Boris Johnson, um Brexiteer à café instantâneo, para o Governo. Rapidamente se percebeu que ele iria fazer de tudo para derrubar o Governo e tentar subir ao posto ele mesmo. O seu plano, até hoje, constitui propostas-gargalhadas. Desmente aquilo que cabalmente disse, e voa conforme o vento político sopra.
Depois de ter tido de adiar o voto do acordo que alcançou com Bruxelas, por não ter votos suficientes para o passar no seu Parlamento, o inevitável aconteceu. O acordo, que foi aprovado por todos os 27 estados-membros da UE, foi rejeitado pelo próprio país que pediu para sair. Sem um caminho claro, ninguém sabe o que o Reino Unido quer, nem ele mesmo.
O partido do governo não o apoia. A oposição muito menos. A UE, que sempre mostrou as suas red lines mesmo antes do Referendo e nunca as alterou, não aceita renegociar o Acordo, tendo este sido aprovado por todos os Estados-Membros (oh the sweet irony).
Segundo referendo? O fim de May como Primeira-Ministra? A insurgência dos Trabalhistas? Uma saída da UE sem acordo? Ou um acordo miraculoso à última hora de negociação? Ninguém sabe: nem as pessoas, nem os políticos, nem as empresas.
Do enfastio do tema à repercussão das suas consequências, ainda se vai ouvir falar sobre o Brexit por mais uns anos.
Apoia a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.
Outros artigos de que podes gostar: