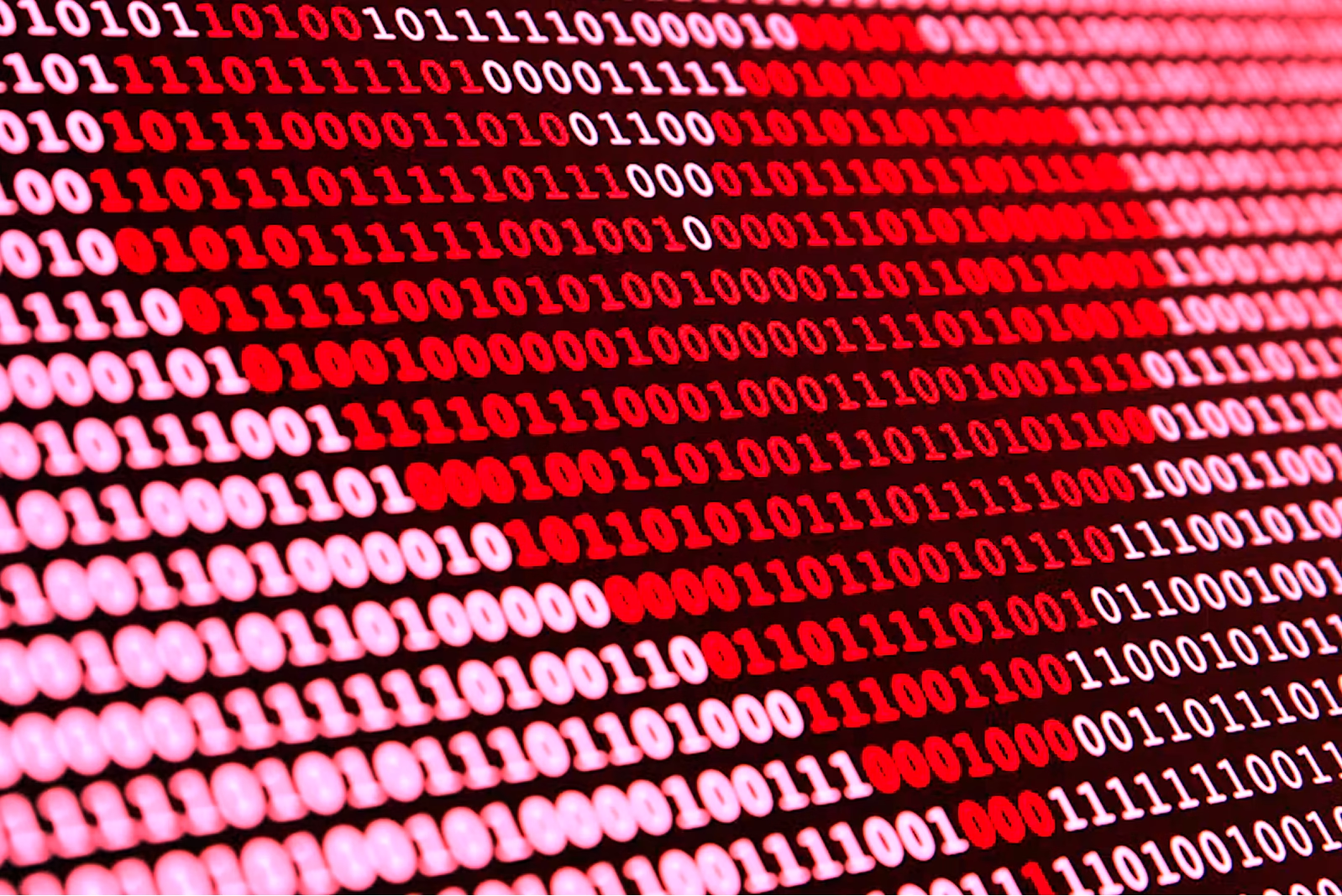

“Um semestre com Adriana”. É assim que a Universidade de Coimbra escolhe apresentar a parceria com a cantora e poetisa brasileira Adriana Calcanhotto. Entre Fevereiro e Julho, a Embaixadora da Universidade de Coimbra no Brasil é responsável por várias aulas e workshops relacionados com a poesia e a canção. Foi numa das pausas desse “oásis”, como a própria se refere à estada na cidade do lente e da saudade, que o Shifter a entrevistou, a propósito do lançamento de É Agora Como Nunca, uma antologia incompleta de poesia brasileira contemporânea editada em Portugal pelos Livros Cotovia. Silêncio, canções, precariedade, arqueologia e distância foram os temas-chave da conversa.
Tem dito por várias vezes que existe música a mais no mundo. O mesmo vale para a poesia e restantes formas de expressão artística?
Faz tempo que não digo isso. Para não ficar dizendo, oiço cada vez menos música. Como construo canções, preciso de silêncio. A minha matéria é mais o silêncio do que a música, mas tenho ouvido temas específicos em relação aos assuntos que estou tratando nas aulas, as canções dos trovadores, música brasileira. É uma forma mais objectiva de ouvir música, parecida com a da minha mãe. Como era bailarina e coreógrafa, ouvia com um determinado objectivo, o de encontrar músicas que servissem para coreografar. Na música parece que há o medo do silêncio – para quê música no elevador? Na poesia, nunca tive essa impressão.
Quanto a John Cage, artista que trata a questão do silêncio, também se inspirou no método de composição dele?
Exacto. O método de composição dele é interessado na experiência. O resultado importa menos. Ele sabe que o silêncio não é absoluto. Lembro de um documentário onde ele fala “o silêncio é isso”, mas ele mora em Nova Iorque. O que é o silêncio em Nova Iorque? É o trânsito, não é ideal. Não existe esse silêncio que o John Cage sentiu quando entrou na câmara do silêncio, em que descobriu que se ouvia a si mesmo, a corrente sanguínea, os batimentos cardíacos, tudo isso.
Conseguiu encontrar esse silêncio em Coimbra?
Encontro esse silêncio na meditação. Em Coimbra, como tudo está “armado” para isso, consigo ler livros de ponta a ponta de um jeito que só conseguia há muitos anos, quando não tinha tantos compromissos, num tempo pré-Internet. O celular dá um certo conforto, mas por outro lado tem uma urgência na resposta, o saber onde você está (O telemóvel toca, interrompendo a conversa). Viu (risos)?

Por que foi importante começar na poesia com Oswald de Andrade?
Teve uma importância enorme depois, mas não dei conta na altura. Escolhi um título que achei engraçado [Primeiro Caderno do Aluno de Poesia] e, abrindo o livro, descobri um poeta irónico, que estava questionando as “mangas bufantes”, como ele dizia, a poesia europeia, o sublime, que queria uma poesia que nos retratasse, uma poesia do Brasil, com simplicidade, ainda que construída, e humor. Foi um acaso, as coisas estão no ar e se vão juntando, como a obra do Caetano e do Gil, os ecos do Tropicalismo, junto com Augusto de Campos escrevendo sobre Patrícia Galvão, a peça de Oswald de Andrade, O Homem do Pau-Brasil, com o cenário de Hélio Eichbauer… Tudo aquilo era uma coisa só, eles queriam a mesma coisa.
Há temas-chave entre os poetas contemporâneos brasileiros, como acontecia nas vanguardas?
É mais difícil identificar isso estando dentro do tempo. Embora seja um pouquinho mais velha do que a maioria, não tenho o interesse do distanciamento, do deslocamento. Vejo que são introspectivos, cada um está fazendo a sua poesia. Estão usando verso livre, não têm o cliché do eufórico, nem tem como ter, por razões óbvias. Vê-se que lêem poesia, se lêem uns aos outros, lêem a poesia clássica, o modernismo brasileiro. Talvez ainda citem muito, por serem jovens, mas pode ser uma característica dessa poesia. Não sei se é para se colocarem, porque cada mês que passa fica mais difícil escrever em qualquer língua, sobretudo em português. É como você escrever peças de teatro na Inglaterra, você sabe que tem uma herança.
Diz que a poesia que não está no livro se deve à ignorância ou ao esquecimento.
Mas também ao facto de não me identificar ou de achar que “isso pode esperar”, que esse “poeta pode escrever mais uns dois livros”. Não estar aqui não significa que não gosto. É muito mais por ignorância, que vem de um motivo óptimo – são muitos os poetas. Enquanto estamos aqui conversando estão brotando poetas e poemas.
Como lida com essa ignorância? Vive pacificada com o facto de saber que não vai conhecer tudo?
Tem dois lados disso. Por um lado, a consciência da ignorância me dá uma esperança. Imagina você achar que sabe tudo de uma coisa. Por outro, em relação a toda a literatura do mundo, dá uma certa angústia saber que você vai viver a vida até ao final, morrer velhinha, que vai ler tudo o tudo o que quiser e mesmo assim não chega a metade dos livros que interessa ler. Isso dá um pouquinho de frustração, mas é melhor do que pensar que dá tempo para tudo.

É Agora Como Nunca tem, apesar de se tratar de um livro de poesia, um princípio, meio e fim lógicos. Como construiu esta ideia?
Entre o primeiro e o último [poema] houve alguns critérios. Pensei: posso fazer uma ordem cronológica, alfabética… Quando dei por mim, já tinha começado a escolher os livros, e isso me dá uma familiaridade com essa coisa que eu faço, as peneiras, alinhamentos de álbuns. Como vou trabalhando cada poema novo que entra na tela do computador, se torna impossível uma ideia de ritmo, só há o sobe e desce na tela. Aí eu imprimo e começam entrando poemas novos. É uma coisa que dá trabalho, mas um trabalho prazeroso e sempre subjectivo, o lidar com ritmo.
Sente-se na leitura que os poemas mais negros, como Kânçer- Um Solilóquio, de Donny Correia, estão guardados para o fim.
Tem a ver com o ritmo de cada poema e com o ritmo de um todo. Confesso que não abriria o livro com um poema do câncer, porque um dos objectivos é alcançar um leitor médio, que não é específico da poesia. Não fazia sentido que o livro fosse lido só pelos próprios poetas ou por pessoas que já lêem poesia. Aquilo é muito forte. Se você está com outras métricas e temáticas, já tem um ambiente mais propício para ler aquilo. Seria assustador começar com um poema daqueles. Acho que o humor [do início do livro] aproxima, mas não foi uma escolha consciente – só estou pensando isso alto agora com você.
Imagino que houvesse milhares de poemas sobre as ondas e o mar. Por que escolheu, por exemplo, estes de Thiago E e Domingos Guimaraens?
É um tema meu. Adoro qualquer poema bom que trate desse assunto, do mar metafórico. Esses dois poetas tratam-no de forma tão diferente… Não é uma antologia de poemas sobre o mar – o que não me impediria de o fazer, talvez um dia. Os poemas sobre o mar sempre me chamam à atenção, como o do Lucas Viriato, que diz: “de infinitas lágrimas/ e farelo de polvilho/ são feitas as praias.” É sempre essa imagem do mar que me chama a atenção.
É ingrato para estes poetas serem precários e não venderem milhares de exemplares, como acontece na música?
Pelo contrário, são precários porque são poetas. Têm essa consciência, escrevem a poesia, como dizia o Waly [Salomão],”mais desocupada de todas as desocupações.” Não querem nada, não escrevem para vender.
O poeta que escreve para vender é um mau poeta?
Se você escreve poesia para alguma coisa, você não é poeta. Posso estar julgando, mas não me parece. A poesia não quer nada com nada.

Waly Salomão desafiou-a a compor para um poema que dizia ser impossível de musicar (A Fábrica do Poema). A Adriana venceu esse desafio. Ainda há poemas impossíveis de musicar?
Tem alguns. A obra do João Cabral não é disponível para musicar porque ele não gosta das músicas. Tem ao contrário, poéticas muito herméticas, como a da Fiama Hasse Pais Brandão, intransponível. No caso dela, tentava, não insistia, voltava ao livro tempos depois e continuava sem conseguir. Aí, um dia, abri o livro e o poema veio inteiro para mim, como música. Depois de ter musicado, a poesia dela se abriu de uma forma diferente. Isso é relativo a cada poema, nem é a cada poeta. Eu só retiro uma das muitas possibilidades musicais, e isso tem a ver com a minha limitação de vocabulário, a minha formação, o meu gosto. O próprio poeta retiraria outra. Gosto muito de ouvir gravações dos poetas lendo os próprios poemas. A Elizabeth Bishop, a ler, sofre, tem horror daquilo; o poema perde quase tudo, da forma que ela está sofrendo. João Cabral lê aquelas maravilhas como quem está lendo uma lista de supermercado, mas é ali que está contida a música dele.
O poeta, ao ler, decifra?
Muito. Carlos Drummond de Andrade tem uma ironia muito fina. Se você não ouve, você perde aquela camada. Foi muito importante ele ter gravado os poemas. A mesma coisa com Manuel Bandeira – tem uma ironia que o papel não imprime.
Já consegue escrever poesia desligada da música?
Não. Acho que nem vou tentar mais (risos).
A maior parte das garotas e garotos que ouviam a rádio popular, como acontecia consigo, tinha a noção de que estava a ouvir poesia?
Muitas das vezes não. No Brasil continua-se lendo alta poesia na rádio popular. Muitas vezes as pessoas se dão conta disso, como eu, que falei: “o que é essa coisa estranha, essa voz desse Vinicius de Moraes? Há aí alguma coisa que ele sabe e eu não”. É como você ouvir o Bob Dylan, pode ir atrás disso ou não. Pode decorar aquelas canções e estar conhecendo poemas incríveis sem saber.
Em sua casa havia uma espécie de distinção entre “música boa” e “música ruim”. Acontecia o mesmo com a literatura?
A minha tia era professora de língua portuguesa, gostando muito de literatura, mas nunca chegou a falar de “baixa literatura”. Não é uma pessoa que fique reclamando disso, mas me dava coisas que achava “altas”. Queria que eu conhecesse primeiro os autores, a formação e o carácter deles, e só depois me dava o livro. Já o meu pai era mais “reclamão”, aquele tipo de jazzista que dizia que os Beatles estragaram tudo porque simplificaram os acordes. Meu pai gostava de verticalização harmónica, dos acordes do jazz, da bossa nova, do cool jazz.

Na generalidade, os poetas deste livro são homens e mulheres que estudaram letras. É importante o poeta estudar antes de escrever, ou acredita no domínio sem conhecimento da teoria?
No Rio de Janeiro e São Paulo tem, dentro das universidades, poetas que dão aulas e workshops de poesia, o que é um privilégio para quem está fazendo letras. Acredito que tenha pessoas que não pensam em ser poetas mas que, a partir desses workshops, começam a escrever. Claro que não é necessário que um poeta tenha que estudar na faculdade, basta ver o Bob Dylan. No samba você tem isso [poesia desligada da academia], com Nelson Cavaquinho, Cartola, milhões de casos. Os poetas estão no livro porque foram publicados. Fiz um trabalho que toda a gente poderia fazer, procurar poemas que estão em exposição para qualquer pessoa.
Sente falta da “fase” Mário de Sá-Carneiro, de quem musicou vários poemas?
Não paro de descobrir Mário de Sá-Carneiro. Embora esteja tudo escrito, as camadas não param de se aprofundar. É um trabalho arqueológico, uma poesia que se presta completamente a ser musicada. Quanto mais aprofundo, mais descubro e me encanto, como se fosse pela primeira vez. Esse contacto que fiz com a professora Clarice Berardinelli, que me pôs em contacto com a poesia dele de uma forma mais profunda, sempre em relação com Fernando Pessoa, me enriqueceu muito. A minha “fase Mário de Sá-Carneiro” é a vida inteira.
Tem estado a aprender guitarra eléctrica em Coimbra. É uma reaprendizagem? Pelo que sei, já tocava guitarra eléctrica enquanto Adriana Partimpim.
O facto de tocar guitarra eléctrica, tal como no violão, não quer dizer que saiba tocar. A guitarra eléctrica tem muitas diferenças. Fui para Coimbra para aprender coisas. Não quis ficar distante da música, por isso resolvi ter essa paciência de aprender escalas, pensar em coisas que são matemáticas, e das quais sempre fugi, porque o meu mundo não é o da matemática. Esse professor [Gabriel Muzak] é muito paciente, muito querido. Posso tocar guitarra eléctrica do jeito que toco violão, mas estou a aprender outras coisas que considero interessantes.
Essa aprendizagem serve para descobrir um novo modo de tocar guitarra, como aconteceu no violão?
Tive cuidado, e disse-o ao meu professor, porque há coisas que preciso de continuar ignorando, como o ter consciência do que significa um acorde em relação a outro. Isso eu não quero saber, porque vou perder a originalidade da ignorância. O braço da guitarra é muito diferente, faz sair da zona de conforto, porque erro notas. A guitarra soa sozinha, enquanto que no violão você precisa de continuar a produzir som. Os pedais, o como modificar aqueles sons, é mais isso que estou aprendendo, não a harmonia. Se não aprendi até agora…

Teve de se descomprometer totalmente para poder deixar o Brasil por tanto tempo. Arranjou esse espaço na sua vida ou surgiu naturalmente?
Recebi o convite, que me deixou surpresa, e no primeiro momento falei que “isso é uma pegadinha da Universidade de Coimbra. Não é possível uma coisa tão boa.” Uma vez que vi que era de verdade, larguei tudo. É assim como me sinto, completamente livre. É assim o meu temperamento, foi algo que aprendi a exercitar na vida de estrada. Não pode estar na Noruega com vontade de estar em Tóquio. Não pode querer estar no estúdio se tem uma turnê. Isso é uma disciplina. Apesar disso, nunca fiquei tanto tempo, mesmo nas turnês mais longas, fora de casa. Estou vivendo coisas incríveis.
Coimbra já lhe contou segredos, coisas que só os locais podem conhecer?
Não sei te responder se estou tão enturmada ou não (risos). Me interessa muito o Portugal romano, sempre me interessou a inteligência arquitectónica, a tolerância religiosa, talvez por ter origem italiana… Aí, o professor Pedro Carvalho, que escavou Coimbra, fez o Criptopórtico e vai começar umas escavações em Idanha-a-Velha, me levou para escavar – imagina, agora tenho um professor de arqueologia! Vi uma coisa maravilhosa em Idanha-a-Velha: as pedras dos templários, as pedras medievais, os capitéis estão na vida das pessoas, na casa das pessoas, servem de banquinho para se botar umas plantas. Não estão num museu em Londres, bem iluminados. É fascinante e comovente. Essa coisa dos professores da Universidade de Coimbra, do amor pelo passar o conhecimento é maravilhosa. Quanto mais você puxa por eles mais eles dão. É um oásis na minha vida.
Quando tinha aulas de pintura, na sua juventude, sentia o chamamento do violão , voltando à música. Quanto tempo consegue passar longe dele?
Bastante. Quando tive de operar a minha mão – para tirar um cisto, uma coisa boba, mas que doía e por isso não podia tocar violão –, assumi que não ia tocar, o tempo que fosse, e foram quase dois anos. Escolhi não sofrer por causa daquilo e descobri que podia continuar compondo. Quando tenho vontade de fazer canções, faço-as na cabeça, depois harmonizo, ou alguém harmoniza para mim. Posso ficar sem o violão.
E longe do palco?
Estou longe do palco há bastante tempo. Não posso chamar palco às aulas. Apesar de cantar, as aulas não são um palco, porque palco é quando você não enxerga a plateia (risos). Tenho tido vontade de cantar, mas não é uma coisa do outro mundo. Sou muito adaptável. Não posso dizer que não passe sem nada.
Não há coisas indispensáveis?
O ar.
As ondas…
As ondas já são lucro. Se tiver ar está óptimo (risos). Se tiver água, humor, é maravilhoso. A poesia é um luxo.
Cabe aos poetas falar das crises humanitárias, dos grandes problemas da humanidade?
O poeta existe por causa disso.
O tema da sua primeira aula em Coimbra foi “A Vida e Percurso de Adriana Calcanhotto”. Não é estranho dar uma aula sobre um tema inacabado?
Fiquei olhando para o passado, que é uma coisa que não dá prazer, falar sobre as coisas que já fiz. Também não fui para cantar vitória. Falei mais das dificuldades, porque havia pessoas interessadas em seguir uma trajectória como essa, do escrever, fazer música. Fui dizer que é difícil mesmo. É como a Fernanda Montenegro diz: “os primeiros dez anos são dificílimos. Depois disso é que tudo só piora.” (risos) Foi uma aula difícil, mas as pessoas gostaram.

Fazem-lhe constantemente perguntas sobre política, como se tivesse a obrigação, enquanto artista, de apresentar justificações para o que está a acontecer no Brasil. Por que é que a escolhem como porta-voz?
Talvez porque ninguém saiba o que está acontecendo. Toda a gente espera que alguém diga alguma coisa que faça sentido, mas não sou eu essa pessoa (risos). Já tive mais ilusões com a política. Acho que isso não acontece só comigo, é geral. Somos uma democracia nova, estão acontecendo coisas sem parar e precisamos de nos questionar. Dar aulas em Coimbra, compor canções e publicar uma antologia são tudo actos políticos. Não tenho de ficar dando opiniões sobre o governo actual.
Chateia-se, quando lhe perguntam?
Me chateia, porque não tenho respostas. O problema é que no Brasil as pessoas que não respondem parece que não se querem posicionar.
Disse, também em entrevista, que vivia uma vida de trovadora. Como é ser-se trovador no Século XXI?
Qualquer cantautor hoje em dia – no meu caso, até canto coisas que não são minhas, que fazem parte do cancioneiro tradicional dos trovadores – que esteja viajando, como Sérgio Godinho ou Caetano Veloso, é um trovador. Bob Dylan é um trovador que ganhou um Nobel.
O que é que se tira das digressões, já que não parece haver tempo para nada?
Tem um momento da turnê em que você pensa: “meu Deus, o que foi que fiz para me pôr nessa situação?” Aí você percebe que adora estar no palco. É uma hora e meia de vinte e quatro que você come mal, bebe mal, dorme mal, pega avião, fica na fila, cancela o voo. Tudo é um “perrengue”, como se diz no Brasil. Estar cantando para as pessoas, é isso que você tira. Também, pela inércia, o passar som de tarde, levar a guitarra para o camarim, ficar tocando e levar a guitarra para o hotel, você acaba compondo. Você não lê A Comédia durante uma turnê, lê coisas mais leves, por isso dá para produzir e compor. Ganha-se canções.
Já é poesia, a sua música, como sempre quis que fosse?
Isso aí é do seu departamento, não do meu (risos).

Fotografias: Mafalda Rydin
O Henrique Mota Lourenço é redactor de cultura do Shifter. Estuda Jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social, em Lisboa.
Apoia a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.
Outros artigos de que podes gostar:
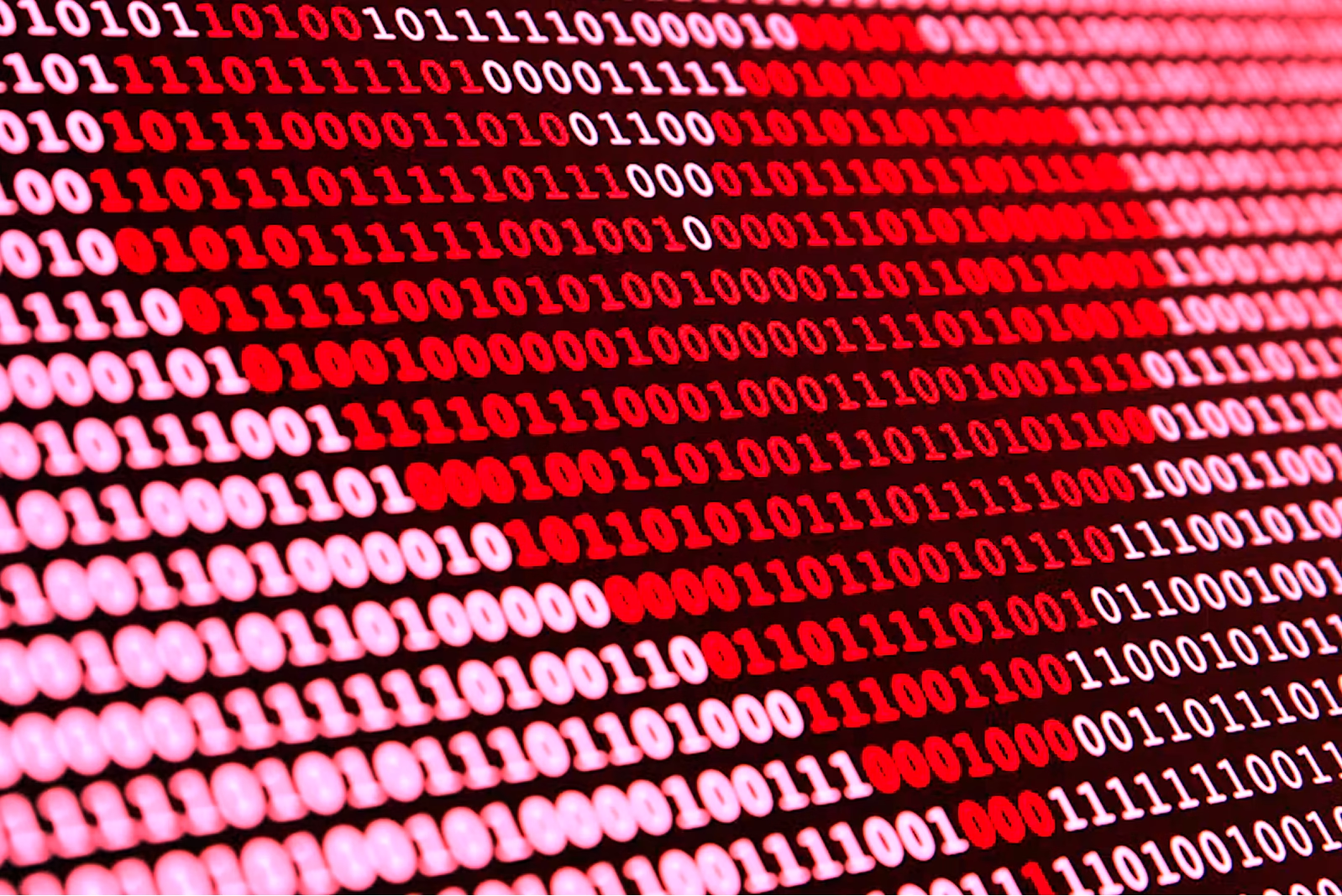



You must be logged in to post a comment.