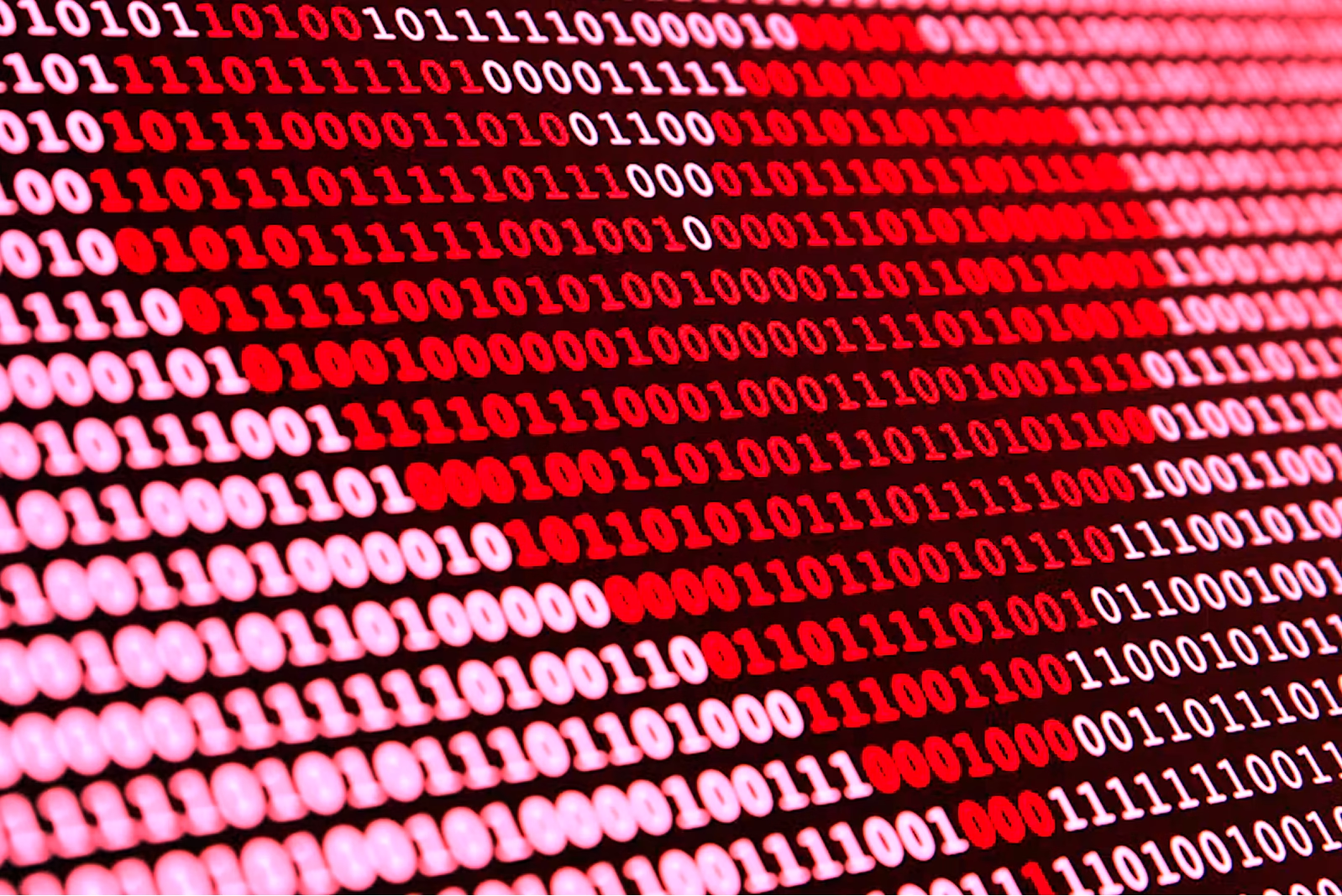
É conhecido pelo trabalho de grupo: juntamente com Carlos Coutinho Vilhena, Guilherme Geirinhas e Pedro Teixeira da Mota, integra os Bumerangue, colectivo de humoristas que satirizam os novos tempos e se aproximam dos millenials pela linguagem, referências e participação no online.
No entanto, é sobre a sua incursão a solo que falamos. Manuel Cardoso, guionista de programas como Very Typical ou Roleta Russa, estreia-se com 1994 no Teatro do Bairro, um espetáculo de stand-up comedy orwelliano em que a sociedade de massas informatizada e sedenta de partilha assenta como principal ponto de partida.
A entrevista decorreu no Palácio do Kebab, palco do viral e do novo mundo social, aproximadamente duas semanas antes da sua publicação.
Em 2016, 2+2 é igual a 5, ou isso é só nas canções dos Radiohead?
Há essa realidade, que nos diz que vivemos hoje aquilo que Orwell previu em termos de vigilância de Estado, e que tem a sua razão de ser. Mas a minha perspectiva para este espectáculo, o 1994, é diferente. É uma perspectiva em que nós é que estamos a ceder a nossa própria privacidade. Não há propriamente um governo ou um poder instalado contra o qual tenhamos de combater; é apenas a nossa vontade de sermos públicos, vigiados e os próprios protagonistas do nosso reality show. Em relação ao 2+2=5, o que me perguntas é se é imposta uma verdade que temos de aceitar sem questionar?
Sim, é exatamente isso.
Pá, sim. A presença nas redes sociais não é uma escolha, é uma imposição, que faz com que tu estandardizes todo o tipo de conhecimento e todas as maneiras de estar na vida profissional ou amorosa, e até mesmo nas amizades. Só és amigo se deres os parabéns ao amigo no Facebook, só és namorado a sério quando colocas a foto no Facebook, só és comediante se estiveres sempre nas redes sociais…
Até que ponto é que essa presença é uma autoimposição e não uma imposição implícita de outro — como é o caso do Mark Zuckerberg e o Facebook?
Acho que isso é desculpabilizar o nosso poder de decisão em aderir às redes sociais. Obviamente que a proposta das redes sociais é muito favorável para nós, e nos parece muito boa, porque podes contactar com os teus amigos todos, podes fazer contactos profissionais; se fores artista podes divulgar os teus espectáculos, se fores jornalista podes encontrar pessoas para entrevistar. Eu aderi ao Facebook em 2010, por isso quase todas as conversas que tive com os meus amigos estão gravadas e disponíveis. Se existisse um ministério do amor onde pudessem rebuscar o teu passado para encontrar os teus medos, seria extremamente fácil encontrarem-nos. Há pouca intimidade que tu não transponhas para uma rede social, mesmo que seja na parte privada do chat. Está lá tudo. Eu já estou conformado com isso, não sou crítico. O Facebook é quase indelével na nossa sociedade, mas temos de encontrar outra intimidade que não possamos oferecer, porque aquilo que são as nossas relações e as nossas opiniões já correspondem todas a um domínio público.
Não há um lado em ti que se assuste com essa inevitabilidade?
Eu tenho medo, mas é como nos assaltos. Quando um gajo já te está a assaltar reages sem dor, e deixas que ele te assalte, isto porque sabes que não há nenhuma hipótese de o evitares. Vais-te conformando com a nossa realidade. Não há hipótese de regredirmos na oferta da privacidade; não vai ser pelo proibicionismo, porque isso não resulta, nem pela livre escolha das pessoas. Mesmo as pessoas mais informadas concordam sempre com todos os termos que existem na internet. Mesmo que se diga que vão raptar a tua mãe ao assinares aquela newsletter, tu não lês aquilo e assinas na mesma. Pura e simplesmente aceitaste o que estava lá escrito; não te encostaram uma pistola à cabeça e disseram: “dá-me a tua privacidade”. Se calhar tens razão no que estás a dizer, e foi institucionalizado através do marketing este lado bom de cedermos a nossa privacidade, mas, em última análise, nós é que assinamos os papéis todos. As pessoas hoje em dia vão ter de aprender a lidar com tudo o que fazem, a assumir tudo. Aquilo que ontem era considerado imoral, daqui a vinte anos vai ser normal, porque não temos as cortinas da imoralidade a esconder-nos. No fundo, vai-se criar um mundo mais aberto.
Um mundo despudorado?
Sim, acho que sim.
E isso é necessariamente mau?
Não. Estive há uns tempos na Dinamarca e percebi uma cena: nós, como somos um país que bebeu muita da influência da religião católica e da inquisição, cultivamos muito o lado de ser uma coisa em casa e outra coisa completamente diferente na rua. Em países mais calvinistas, como é o caso da Dinamarca, os gajos não têm essa cena. Como eles acreditam na predestinação, não têm medo do que fazem. Estive lá no Inverno, e todas as casas tinham as janelas sem cortinados; tu vias o que as pessoas estavam a fazer dentro de casa… Isto traz-te por exemplo algumas vantagens, como é o caso da descoberta de grandes atividades criminosas, como o terrorismo, e de outras consideradas pelos governos como criminosas, como a subversão de governos, que são muito mais facilmente descobertas. Daí podem, por exemplo, surgir revoluções. É um processo em andamento e completamente impossível de se parar.
É o facto de seres humorista e de falares de jovens que te legitima a poderes analisar esta nova narrativa?
Não sei, mas talvez seja o facto de isto ser tudo o que faço. Passo a vida a pensar em comportamentos que eu e os meus amigos temos. É a minha craft. Não é que tenha mais legitimidade, até porque podes ter uma pessoa a falar sobre isto durante uma hora e ser mais acutilante e assertiva do que eu… Quanto ao facto de falar de jovens: sem dúvida. Havia um nicho, uma cena em falta, e eu e os Bumerangue soubemos preenchê-lo, ou pelo menos pegar numa fatia desse mercado. O humor é tão mais engraçado quanto mais específico for, e aí é que reside um dos grandes problemas da comédia em Portugal, que é o facto de os humoristas grandes não poderem ser específicos, senão não vivem. Nos Estados Unidos isso não acontece: tens vários estilos, vários sites mais para o típico trintão, depois existem também as sitcoms só para mulheres a partir dos 4o… A arte neste mundo em que vivemos tem de ser de especialização; se fizeres uma coisa muito ampla nunca vais ser reconhecido, a menos que te saias com uma coisa genial.
Uma grande parte dos teus colegas, e com isto refiro-me tanto aos estudantes como aos humoristas, costuma realçar em ti o lado prodigioso. É nessa qualidade, de tipo que pode olhar para os outros — e que neles se revê pouco — que surge este espetáculo?
Acho que tudo isso se deve ao facto de ter começado muito novo. Portanto, tenho esse desconto. Mas com a idade vais perdendo essa desculpa. Foi fixe ter aparecido com aquela idade, as pessoas curtiram; havia até piadas que seriam mais evoluídas do que a média, mas depois tudo desvanece. Fico contente com esse reconhecimento, mas há um trabalho enorme que tens de fazer ao longo da vida para te justificares como comediante.
Até que ponto é que essa aura que existe à tua volta pode desaparecer, por exemplo, daqui a 5 ou 10 anos?
Quando tu ganhas mais idade ganhas também mais clarividência e mundividência; és muito menos self-conscious e essa self-consciousness afeta a comédia das pessoas, porque notas que existem muitos comediantes que não conseguem brincar com aquilo que são. Com a idade tudo isso se vai perdendo. Uma pessoa de 50 anos está-se a cagar para os outros, porque já viveu, já passou muitos anos preocupada com o que os outros pensavam, e isso facilita muito a comédia. Depois, obviamente, com essa idade já leste muito mais — e a comédia é um trabalho escrito, que se vai melhorando com a leitura. Acho que a comédia é sempre a subir: é impossível, a menos que deixes de trabalhar, que tu sejas o melhor que podes ser em tenra idade e depois caias. É sem dúvida o contrário de um futebolista. Os comediantes não conseguem chegar ao topo da sua forma sem ser pelos 35-40… Podes, se calhar, fazer um trabalho sobre a linguagem, mas não podes fazer um trabalho sobre a vida. É completamente presunçoso tu achares que aos 22 podes contar lições, isto porque no fundo o humor são sermões com piada.

O que é que torna o universitário tão passível de ser o centro da piada? É a complexidade ou, pelo contrário, a sua simplicidade?
É mais o facto de ser uma vida forjada, uma vida não cumprida para a maior parte das pessoas, uma vida de engano. Basta falares com qualquer universitário: ou são super focados, e com esses deixas de falar, ou andam numa pequena luta para safar o mínimo possível e acabar o curso. Depois, essa fase bate com os 18 anos, que é a idade com que grande parte dos jovens saem das suas cidades para vir para um centro urbano, onde têm toda a liberdade, onde contactam — como se calhar nunca tinham contactado — com o álcool, com o sexo, com o afastamento da autoridade dos pais. É uma vida com problemas, e essas pessoas sabem que os problemas existem, mas que são facilmente esquecidos com o álcool e a diversão. É, no fundo, um reset a nível de comportamentos, e por isso é que há tanto material. As pessoas identificam-se muito com esses temas, até porque falta um investimento de entretenimento nesta faixa etária: a televisão e a rádio não são feitas para pessoas destas idades.
Podem, de algum modo, a leveza e o não comprometimento dos millenials em relação ao quotidiano e à política ser as melhores das suas qualidades?
Esse alheamento tem mais a ver com o atraso das instituições, e com a falta de identificação que esta geração tem com as instituições, do que propriamente com o facto de sermos uma geração de incultos. É bué uma cena de velho, não é? O estar a dizer que as outras gerações é que se preocupavam. Até porque não é bem assim. As outras gerações nasceram na eclosão da democracia como a conhecemos. Obviamente que a coisa que mais as motivava para sair à rua era lutar pela democracia. Hoje em dia os governos centrais são instituições algo obsoletas. Os millenials vivem num mundo altamente global, mal pensam na nação soberana, na nação que tem de ser governada. Nós não queremos muito saber se os próximos 4 anos vão ser governados por estes ou por aqueles, porque provavelmente não estamos a pensar viver aqui a nossa vida toda. Isto tem alguns efeitos perversos para a economia de partilha, para o crowdfunding e para outras formas de ativismo social. Agora, se é uma qualidade? Pá, é uma reação. E é normal a juventude ser reativa, é normal que actue de uma forma que vá de encontro ao establishment onde nasceu.
Mas os millenials também não são reacionários, pois não?
Não. Reacionário é quem está sempre a sublinhar que somos uma geração falhada. Somos a geração mais bem preparada de sempre a nível de informação, a nível de saúde pública… É cientificamente impossível que esta geração não traga boas coisas ao mundo. Vivemos numa época de paz como nunca vivemos. A ameaça do terrorismo é sobretudo causada pela ausência de guerra. Ou seja, não existindo uma guerra há 50 anos, é normal que um atentado em Bruxelas seja visto como o maior ataque de sempre, isto quando os nossos avós viveram numa altura em que morria muito mais gente. Temos todas as condições para continuar a evolução de uma forma assertiva e contrariar essa ideia de hiato de cultura que nós possamos constituir.
Há, de facto, a pressão de pertencer à incubadora de génios que é o Colégio Moderno?
O Colégio Moderno tem isso? Não sabia. Eu gostava da escola até uma certa altura, mas depois odiava estudar… Isso por norma acontece nos colégios privados. Há 3 ou 4, e o Moderno é um desses sítios de onde sai muita gente com sucesso. Aquilo que acho que diferencia o Colégio Moderno dos colégios católicos e dos mais focados na performance é o foco no espírito crítico. Tu disseste incubadora de génios, eu diria uma incubadora de boémios [risos], porque saem de lá pessoas que gostam sobretudo de falar sobre a vida, mas que poderão não ter sido — e agora a directora Isabel Soares vai ficar chateada comigo — tão forçadas a fazer, mas mais a pensar. É claro que também saem muitas pessoas para medicina e isso, mas aquilo é perfeito para o diletante, porque quando focas o ensino do ponto de vista intelectual abres muitas possibilidades para essas pessoas pensarem que de facto vão mudar o mundo pela palavra. E sim, isso influenciou-me a mim e a muitos amigos meus no nosso percurso.
Tiveste, por volta dessa altura, uma breve experiência na blogosfera. Lembro-me de ler críticas a concertos, crónicas e algumas one-liners n’Os Casos Notáveis (onde ainda assinavas como Manuel Sá Lopes Cardoso). Há uma grande diferença entre o opinion giving da altura e este que se vê agora com os posts no Facebook e outros social media?
Eu comecei a escrever em blogues porque as pessoas diziam que escrevia bem, e eu queria fazer aquilo sem ser em testes [risos], obviamente procurando o reconhecimento, porque já estávamos a viver nessa sociedade em que toda a tua craft podia ser mostrada na internet. Sempre tive tendência a não falar nas aulas, mas quando havia pequenos exercícios de escrita subvertia o tema e tentava dar-lhe alguma piada, fugindo ao que era pedido com alguma provocação. O que me motivou foi as professoras terem ficado incomodadas por não estar a fazer o trabalho que tinham pedido, mas terem dito que aquilo estava fixe. Foi aí que comecei a escrever em blogs, a pensar em stand-up e noutros formatos de media. O opinion giving agora é diferente. Nos blogs estás meio sozinho, mandas uma opinião e alguém ali ao fundo ouve. O Facebook é como teres uma sala com 40 pessoas onde anuncias que tens uma opinião e depois expressas essa mesma opinião. Aí já tens de vir preparado: as pessoas vão reagir. Já sabes, sempre que há uma “caixa”, quais são as três ou quatro opiniões “facebookianas” que vão sair dali, enquanto que no blog consegues ser menos estandardizado. No Facebook tens de ir pelo caminho do politicamente correctco, ou pelo caminho do politicamente correcto de defender o que é politicamente incorrecto. É muito pouco volátil a opinião no Facebook. Nos blogs podes discorrer, enquanto que os textos grandes nem ficam bem no Facebook. Essa é uma das cenas que mais me faz impressão: o Facebook e as redes sociais toldaram as pessoas da capacidade de lerem mais de 500 palavras. Eu escrevo textos altamente simplificados, por exemplo, por estarem organizados em categorias, e tenho pessoas que comentam “isto tudo? Não vou ler isto tudo”. Faço questão de não passar essas 500 palavras. As pessoas já não conseguem ler mais do que 7 minutos seguidos.
O que é que leste para te tornares bom comediante?
Eu comecei a ser comediante antes de fazer um trabalho de ginásio mental para o ser. Se calhar penso mais nessa questão agora do que dantes. Quando era novo talvez tenha sido muito influenciado pelos livros de banda desenhada do Asterix, Tintin e Lucky Luke. Para mim foram uma influência humorística forte — e li tudo de uma ponta a outra —, porque estava ligado à imagem e forçava o humor com essa mesma imagem. Também me influenciou um livro de stand-up do Seinfeld que descobri lá em casa, isto na altura em que fui aos Cómicos de Garagem. Ah, e claro, os livros do Miguel Esteves Cardoso, a minha maior influência de adolescente. O Causa das Coisas e o Os Meus Problemas foram os livros que mais me motivaram para fazer comédia, porque tinham aquela visão sociológica dos comportamentos, que descrevia tudo o que eu via nos portugueses. Eu já tinha lido antes o Ricardo Araújo Pereira, mas percebi claramente que, a nível de escrita e de descrição dos vícios e das incongruências do povo português, aquilo tinha chegado a um pináculo muito antes. O Miguel Esteves Cardoso escrevia muito bem o ambiente urbano, enquanto que o Ricardo escreve muito bem as idiossincrasias do povo, sem o fazer de uma forma condescendente. O Miguel Esteves Cardoso era um elitista assumido.
Perdoas-te não ter ganho nos Cómicos de Garagem?
Magoou-me um bocado na altura. Os jurados eram o Nuno Markl e o Bruno Nogueira na final… Fiquei lixado, era a única oportunidade que tinha de ser cool. Estava toda a escola a torcer por mim e não deu. Aquilo que menos me perdoo foi não ter continuado. Podia ter começado a escrever todos os dias desde os 14, mas depois houve uma fase em que quis ser um adolescente normal e só voltei a fazer comédia a sério aos 18. Podia ser melhor comediante agora se dos 14 aos 18 tivesse escrito umas 10 piadas por dia. E não o fiz. Fui um derrotado por isso.
Foste recentemente processado. Ou melhor, a SIC Radical foi processada por um sketch em que estás envolvido como protagonista…
No processo foi até a frase do Guilherme [Geirinhas] que gerou a polémica. O sketch copiava o formato do Alta Definição, em que a produção chama uma pessoa que teve muita importância na vida da pessoa, e ali apareceu o irmão de uma rapariga que eu supostamente tinha “violado”. O que causou controvérsia foi a frase dele, que disse “obrigado por teres chafurdado a minha irmã”. Segundo o processo aquilo era uma apologia ao violador, a um tipo criminoso e doente.
Que impacto é que o processo teve em ti?
A minha reação foi meio fútil, do tipo “fixe, fui processado pelo poder, ou seja sou um comediante”, mas na verdade nem ligo muito a isso. As pessoas chateiam-se por tudo, não há propriamente um padrão. Nunca iria mudar as minhas ideias por causa de um processo, só por uma pessoa se ter ofendido. Isso não quer dizer que nós não tenhamos um superego a dizer-nos que não devemos meter coisas absurdas cá fora. Também temos a nossa subjetividade de coisas que são ofensivas, mas no meu caso não me elevo por ter ofendido alguém. Não significa que eu não procure a reação do choque, mas aquilo que eu quero é que as pessoas sintam o choque e depois se riam, porque aquilo é uma piada.
Que conselhos te deu em particular a tua mãe, na qualidade de jornalista respeitada e influente, quando o humor passou a ser mais sério?
A minha mãe se calhar não me deu conselhos, mas inspirou-me um bocado, porque não liga, pura e simplesmente, às ofensas. A crítica é uma instituição de frustrados. Uma coisa é tu fazeres um comentário crítico mas construtivo, e esses são os que tocam mais, porque sustentam uma opinião bem defendida contra aquilo que escrevi. Outra coisa é quem comenta coisas como “esta puta esquerdalha” nos editoriais da minha mãe. Aí só te podes rir, a minha mãe só se pode rir com aquilo. Caixas de comentários dos meios de comunicação social são uma horda de exclusão social com toda a raiva afunilada para um alvo em específico.
Quando aceitaste juntar-te à equipa de guionistas do Roleta Russa, e mais tarde do Very Typical, tinhas a consciência de que poderias vir a tornar-te persona non grata (isto por trabalhares com humoristas como o Rui Sinel ou o Paulo Almeida, que despoletam ódios numa parte significativa dos portugueses)?
Não sabia, por acaso. Mas isso é marginal, é indiferente. Eu não vou deixar de trabalhar por causa da crítica. Isso é obsessivo. Criou-se uma pequena obsessão em relação à crítica humorística, mas nem vou falar disso porque acho que não tem sequer relevância. A crítica é normal e aceitável, o que não é normal é a perseguição. Ela não aconteceu comigo, mas o Sinel e o Almeida foram perseguidos a certa altura, embora isso só os tenha beneficiado; a mim não beneficiou nem prejudicou. O grupo que se formou a criticar esses humoristas acabou precisamente por ter um efeito contrário ao desejado.
Concordas, em parte, quando se diz que os Bumerangue fazem humor de e para betos?
Já não é assim [risos]. Já não é só para betos, mas começou por aí, sim. Nós decidimos que queríamos fazer um trabalho sobre os nossos próprios comportamentos, e por isso tínhamos de ser específicos. Como eles são mais betos — eu não sou tanto — teve de ser mais sobre isso. Eu já nem sei bem o que são betos. É que existem tantas camadas diferentes… A constatação que eu melhor aceito é a de que aquilo [vídeos dos Bumerangue] é sobretudo para Lisboa. A malta gosta de quando gozas com as elites, quando gozas com a malta que vai à Praia Grande. Eu fui uma vez à Praia Grande, nem sei o que é, mas sei que é lá que estão os gajos todos pipi e não sei o quê. É sempre fácil gozares com uma autointitulada elite, e por isso colou bem. Era por betos, para betos, mas a gozar com os betos e a pô-los em causa.

Acabando onde começámos: Orwell tem presente a ideia de que a sociedade do “1984” se funda não na justiça ou no amor, mas sim no ódio. Até que ponto é o papel do humorista, enquanto elemento participante na sociedade, o de apaziguar esse ódio latente nos dias de hoje?
O papel do humorista é o de mostrar que o ódio é uma coisa normal, e que todos a temos dentro de nós. O humorista explica que os sentimentos e pensamentos subversivos são altamente naturais e intrínsecos ao ser humano, e que podemos brincar com isso. Nós não controlamos tudo o que pensamos. É normal veres uma tragédia e vir-te um pensamento completamente twisted à cabeça (o Frankie Boyle fala disso num dos solos dele). Logo, o humorista traz um pouco de paz às pessoas que vivem na frustração de não poderem dizer tudo o que pensam, julgando que tudo o que pensam é podre, e não é. E nós somos a voz desse subconsciente crítico e pouco justo que temos dentro de nós.
O Henrique Mota Lourenço é redactor de cultura do Shifter. Estuda Jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social, em Lisboa.
Apoia a partir de 2€/mês, recebe uma newsletter exclusiva, acesso a descontos e passatempos, e contribui para mais textos como este.
Outros artigos de que podes gostar:
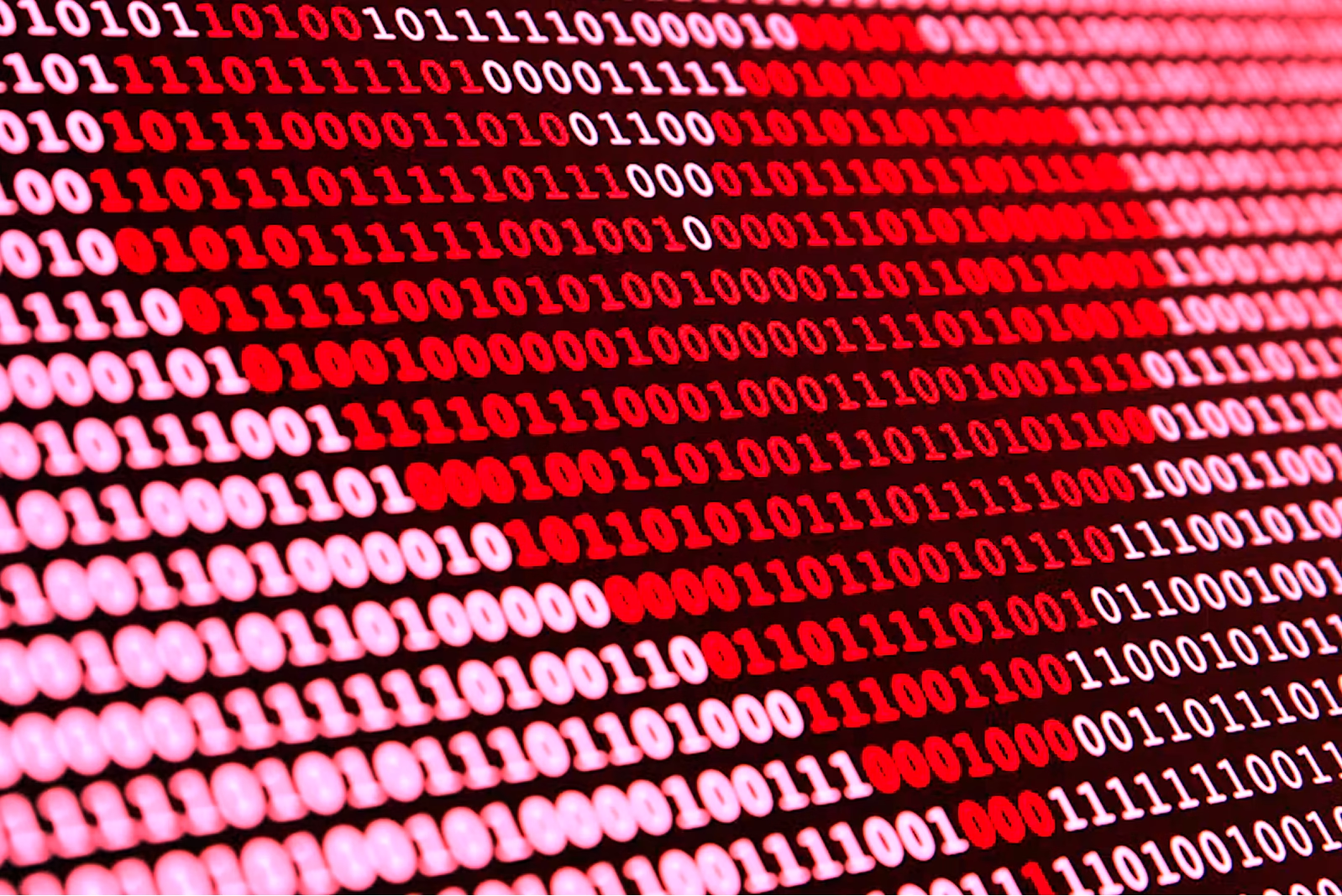



You must be logged in to post a comment.