Nova Iorque, junho de 1968, Flawless Sabrina. Este é um dos possíveis enquadramentos de “onde, quando, quem” para The Queen, o documentário de Frank Simon que a partir da história e da voz da icónica drag queen Flawless Sabrina deu a conhecer o universo suburbano dos concursos de beleza para queens. Naquela altura, ser drag queen significava, como hoje, um encontro consigo mesmx, mas também um desafio aos limites da tolerância e da sobrevivência. Numa cena marcante, já perto do fim, Crystal LaBeija, uma das concorrentes do concurso que Flawless Sabrina vence, admite sentir-se injustiçada pelo resultado final e lança um “eu tenho o direito de mostrar a minha cor, eu sou bonita e sei que o sou”.

Um ano depois da estreia de The Queen, numa noite que podia parecer como todas as outras no Stonewall Inn, um bar gay na Christopher Street, em Nova Iorque, a polícia recebeu, pela primeira vez, resistência ao abuso de poder e discriminação. A 28 de junho dava-se início a um movimento que ia ganhando força dia após dia, com Sylvia Rivera e Marsha P Johnson, duas mulheres trans, na linha da frente.
No ano seguinte marchou-se pela primeira vez de forma organizada para celebrar o Orgulho e todos os anos, na mesma altura do ano, marcha-se um pouco por todo o Mundo. E ainda que este ano seja diferente, celebra-se de múltiplas formas e as ruas têm servido para reivindicar que as Vidas Trans Negras Importam (Black Trans Lives Matter).
Num período em que o isolamento social é uma realidade imposta a todxs, torna-se evidente que qualquer celebração pode ser acompanhada de uma reflexão. Se a “casa” representa um espaço de liberdade diferente para todxs nós, o mesmo acontece com a rua, com as instituições e com os restantes elementos que compõem o país e a vida em sociedade. Pela primeira vez em 20 anos não se marchou em Portugal, mas a comunidade LGBTQI+ fez-se ouvir de outras formas – e relembrou que em junho, assim como no resto do ano, a luta continua a ser necessária.
‘Regressar a um sítio de que sempre quiseram sair, que é o armário da invisibilidade e do silêncio’
“É verdade que muitas das alterações a que as pessoas LGBTI foram sujeitas [devido à covid-19] são comuns à generalidade das pessoas. Pode passar por ficarem em regime de teletrabalho, por estarem obrigadas ao confinamento no seu domicílio, à necessidade de prestar assistência à família. Tiveram de deparar-se com situações de redução de rendimentos ou até mesmo de desemprego; no entanto o impacto destas alterações é mais marcante para uma população que tantas vezes é invisível aos olhos das outras pessoas, como é a população LGBTI”, diz Joana Cadete Pires, vice presidente da direção da ILGA Portugal ao Shifter. Joana explica que o confinamento obrigou algumas pessoas “a regressar a um sítio de que sempre quiseram sair, que é o armário da invisibilidade e do silêncio”. Nem sempre “casa” é sinónimo de lugar seguro e, quando não o é, ser obrigado a permanecer lá tem consequências na saúde mental de quem se sente mais seguro noutro lugar.
Com espaços como a ILGA e outras associações pelo país fora de portas fechadas, o Clube Safo, uma associação “para mulheres, ou pessoas lidas como mulheres mas de género não binário”, decidiu criar a Queerentena, uma plataforma com recursos de “Resistência e Colaboração em tempo de distanciamento social”. Alexa Santos, ativista transfeminista e uma das pessoas responsáveis pelo Safo, conta que por pensarem que no isolamento poderiam surgir as perguntas “O que é que eu faço? A quem é que posso ligar para me ajudar?”, decidiram criar o Chá das Safo, “que acontecia todos os domingos durante três meses” e “depois um grupo no Whatsapp, que acabou por dar origem ao Sarau das Safo, que é um Sarau de Poesia que vamos continuar de 15 em 15 dias, às sextas-feiras. É um bocadinho esta coisa do ativismo de sofá: o que é que cada uma pode fazer estando no seu sofá?”, partilha Alexa. Ainda assim, a ativista recorda que “está super assumido que toda a gente tem acesso a computadores, que tem acesso à internet”, mas que em muitos lugares essa não é a realidade.
Até chegar a junho, o mês do Orgulho, foram várias as datas assinaláveis no movimento LGBTI — e um mês destinado à visibilidade lésbica, abril, decretado pela primeira vez pelo Safo. A 31 de março celebrou-se o Dia Internacional da Visibilidade Trans, a 5 de abril o 17º aniversário da rede ex aequo — associação de jovens LGBTI e apoiantes, e a 17 de maio o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia. Foram-se fazendo conversas nas redes sociais, trocando experiências em mensagens privadas e dando apoio a quem mais precisava e pedia ajuda. Com junho chegaram mais iniciativas e até projetos pensados para celebrar no online. Foi o caso de João Rebelo, que através de uma Open Call no Instagram recolheu histórias de “primeiras vezes, coming outs, a última marcha a que foram, a drag queen favorita, o momento em que perceberam quem eram”.
Desde o início de junho, e a terminar hoje, as partilhas na conta de João, que juntam uma ilustração sua à partilha da história ilustrada como um desabafo nas notas do telemóvel, foram dando visibilidade às narrativas muitas das vezes guardadas para os seus intervenientes. “Embora nas últimas décadas a cultura mainstream tenha ganho alguma abertura para histórias não heterossexuais cis, a verdade é que as histórias e narrativas não normativas foram censuradas durante séculos e séculos. Chegaram-nos algumas, mas é complicado para indivíduos LGBTQIA+ encontrar cultura e narrativas com as quais se relacionem e sinto que em Portugal, com a ditadura que passamos há tão pouco tempo, é ainda mais difícil para um jovem LGBTQIA+ conectar-se com o imaginário queer português”, conta o ilustrador. Com este projeto pretendia “celebrar o nosso orgulho e conectar, de alguma forma, a comunidade”.
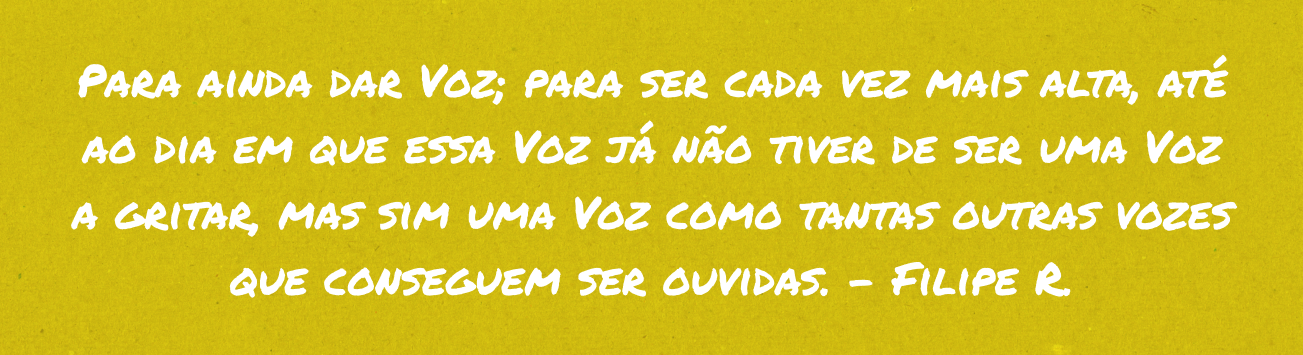
Umx marcha (sempre) por todxs
Filipe R. é um dos protagonistas da série de ilustrações de João Rebelo. No dia 15 de Orgulho (como apelidam Junho) partilhou o momento em que marchou pela primeira vez e lhe foi entregue “mais coragem e orgulho em ser quem é” e, certamente, fez sorrir algumas das pessoas que se cruzaram com a sua história no feed do Instagram. “Acho que tudo da marcha me marcou, de certa forma. Foi a minha primeira vez a ver uma comunidade, à qual pertenço, fazer a sua voz ouvir -se, e ver os rostos de cada pessoa que passava por mim na marcha sempre a sorrir ,e que por sua vez também me fizeram sorrir”, conta Filipe ao Shifter, dias mais tarde.
Tal como para si, a primeira vez na Marcha do Orgulho, um pouco por todo o mundo, é um momento guardado na memória de membros da comunidade LGBTQI+ (mas não só) que daí em diante fizeram deste um momento-ritual. André marchou pela primeira vez em 2006, no Porto, motivado pelo “privilégio de poder marchar sem medos por outros que não tem a mesma sorte”; Maria, em Lisboa no ano de 2017, para celebrar o facto de ter contado aos pais que tinha uma namorada, “após uma adolescência com todas as certezas do Mundo”. “Marchar pela primeira vez fez-me sentir livre e fez-me sentir bem com quem eu sou. Trabalhei na organização do PRIDE 2017 e, a partir daí, nunca deixei nem deixarei de marchar”, conta Maria.
Filipa, que marchou pela primeira vez em Londres há dois anos, partilha que “o facto de realmente se sentir uma sensação de alívio no ar, porque todxs se sentem à vontade” e não terem de “tentar esconder nada ou com receio de beijar a pessoa que querem beijar” foram as sensações que levou consigo para casa depois desse dia. Também estas sensações alimentam o espírito de Maria, que recorda “um casal (composto por uma mulher e um homem) com um cartaz cada um que dizia algo como ‘se os teus pais não marcham contigo, nós estamos aqui para ti’ “. “Quando olhei, estavam a abraçar jovens LGBTQI+, que choravam desalmadamente nos seus braços. É uma imagem que nunca vou esquecer porque, para mim, representa o amor que pode haver entre estranhos e que às vezes a própria família não tem para dar”.
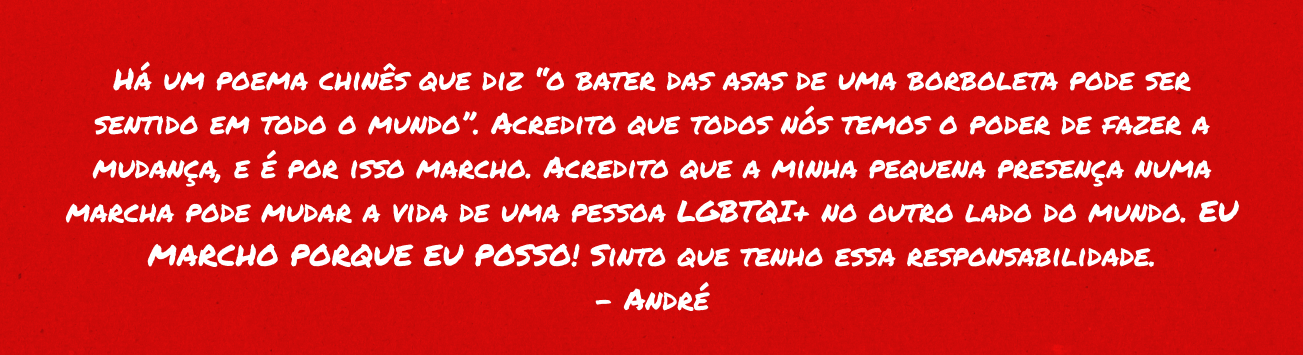
Adam D’Armada Moreira, que celebra junho há 10 anos a marchar com a sua comunidade, recorda-se que na sua primeira vez havia “uma vontade adolescente”, que tem “até hoje”, de ver a sua “própria comunidade, de estar com ‘pessoas como eu’”. Neste junho — que confessa ser o seu mês favorito — tem tentado viver “de forma mais digital, para continuar a comunicar e conviver” com a sua comunidade, e “mostrar que tenho sempre a porta aberta para ajudar e apoiar”. “A minha existência, enquanto pessoa trans, é política. Não por escolha pessoal (apesar de eu viver assumidamente a minha política), mas por uma percepção externa a mim. Sempre que vou às compras, sempre que tenho de escolher uma casa de banho pública, até o simples ato de ir à praia, tudo isto acaba por ser uma celebração do meu orgulho”; em junho e no resto do ano.
Presenças habituais na marcha e no arraial do Orgulho de Lisboa, Lila Fadista e João Caçador, a dupla que forma Fado Bicha, estiveram há duas semanas nas Quintal Sessions a cantar “Marcha do Orgulho”. Também Lila se lembra da sua primeira vez numa marcha, “em 2004 ou 2005”: “a primeira vez, quis ir por muitos motivos. Pela celebração, pela alegria de me sentir parte de uma comunidade e poder ver outras pessoas como eu, sentir-me integradx, parte de algo que estava ligado à minha identidade, composto por pessoas que tinham sofrido o que eu sofrera – eu não conhecia muitas pessoas lgbti na altura. E à luz do dia, na rua, não apenas em bares e discotecas. Essa possibilidade encheu-me de alegria! Lembro-me de ter medo que uma câmara de TV me apanhasse e o meu pai visse no telejornal”.
Fado Bicha tornou-se, desde o começo da sua existência, um dos projetos a dar a voz e a cara pela luta LGBTQI+ portuguesa. Quando lhe perguntamos se a música queer pode ser uma forma de desafiar o status quo, Lila responde que “a música e a arte, no geral, sempre foram baluartes do avanço social, da desinquietação e da criação de possibilidades de sobrevivência que se elevam acima da realidade de uma determinada era”. “As noções de comunidade e espaço seguro também se centram muitas vezes à volta da música e das suas múltiplas realizações (performance, álbuns físicos, fóruns, concertos, espaços para dançar, etc.); basta pensar na cultura de ballroom em Nova Iorque, por exemplo, ou nos bares como espaços de encontro e (relativa) segurança em sítios onde as nossas identidades ainda são um crime. Então sim, para além de poder ser uma prática de questionamento, visibilidade, revolta, também consubstancia um próprio espaço comunitário, de reunião e de fruição, de uma forma talvez só equiparável ao ativismo”, continua.
Lila Fadista acredita que o trabalho que fazem com o Fado Bicha “traz essa possibilidade”, nomeadamente “através das músicas, das apresentações, do nosso discurso, vivemos e realizamos os eixos do orgulho diariamente”. “É quase como fazer uma marcha do orgulho a cada dia”. Depois de assumirem o hino da campanha do Livre, partido encabeçado por Joacine Katar Moreira, nas últimas legislativas, sublinham que no trabalho de Fado Bicha, que é sempre político, não sentem a necessidade de se “imiscuir na política partidária”, até porque são “bastante críticxs da democracia representativa”.
Fado Bicha celebra conquistas e dá a ver desigualdades, para que os momentos de consciência social em torno das questões LGBTQI+ não sejam pontuais.
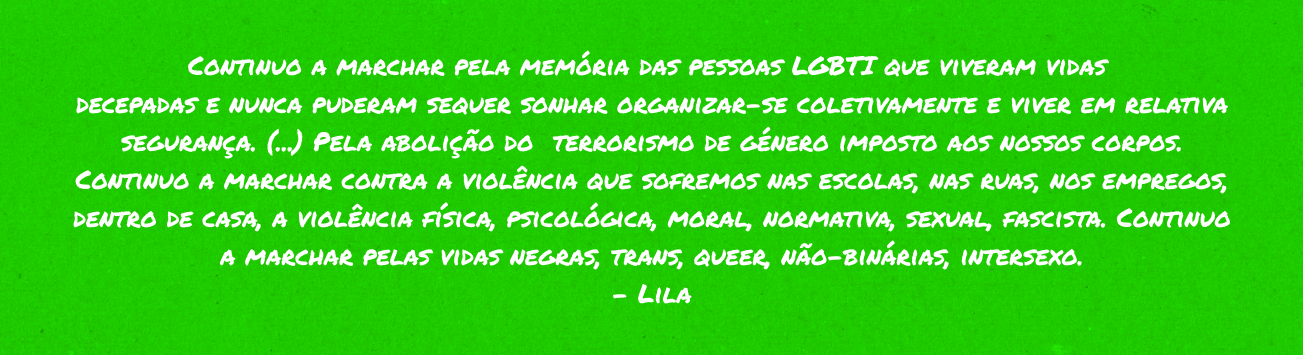
De 1982 a 2020, o caminho até ao “Grau 0 de Discriminação na lei”
Foi apenas em 1982 que se fez uma revisão do Código Penal e que a homossexualidade deixou de ser um crime. Nesta cronologia feita por Bruno Maia, João Carlos Louçã e Sérgio Vitorino para o Esquerda.net, podemos ler que nessa revisão se “remete a homossexualidade ‘entre adultos, livremente exercida e em recato”, para domínio dos actos não puníveis’”.
Se os Stonewall Riots tiveram um impacto mundial que levou a que se decretasse o mês em que aconteceram como aquele em que se celebra o Orgulho, não apenas na América mas pelo mundo fora, a revisão de 1982 é um marco importante no contexto português. ”Para nós essa data é muito importante, porque nos diz que já não somos criminosos por sermos quem somos. Então, eu acho que essa podia ser a nossa data de celebrar que as nossas identidades não são marginais, que não são dignas de serem postas na cadeia, mas que são dignas de existir – seja no espaço privado ou público”, sugere Alexa Santos.
A essa data, Joana Cadete Pires, da ILGA, acrescenta janeiro de 2010, mês em que foi aprovado o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. “Se tivesse de pensar em algum mês que seria importante para Portugal em termos de conquistas, eu diria o mês de janeiro, por um lado porque foi em janeiro que foi aprovado o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e por outro lado porque é sempre o início de um novo ano. Há todo um ano de luta que começa naquele momento, e é também o mês da realização dos prémios Arco Íris da Associação ILGA Portugal; mas essencialmente é um novo ano de luta.”
Seis anos mais tarde, em 2016, seria aprovada na Assembleia a adopção por parte de casais homossexuais; mais uma data de celebração para a comunidade LGBTQI+. Olhando à situação de outros países no Mundo, em 2020 Portugal é, no que toca à legislação, um dos lugares com mais avanços na luta pela igualdade — mas importa sempre lembrar que ainda existe um caminho a percorrer e aspetos a solidificar. “Aquilo que nós agora verificamos em Portugal é que atingimos o que muitas vezes temos denominado de Grau 0 de Discriminação na lei. Isso significa que neste momento não existe nenhuma lei em Portugal que, de forma explícita, permita alguma situação de discriminação. Agora, há todo um trabalho que falta fazer e essencialmente ao nível da comunidade”, contextualiza a vice-presidente da direção da ILGA. “Os últimos dados do Relatório Europeu da Agência para os Direitos Humanos, a FRA, que foram disponibilizados no passado mês de maio, dizem que continua a existir uma grande parte da população LGBTI que não dá a mão na rua à pessoa com quem está; existe uma grande parte da população LGBTI que não se assume no seu local de trabalho, que não se assume junto das suas famílias”, adianta.
No que precisa de ser repensado, juntam-se assuntos que têm que ver com a percepção e aceitação externa à comunidade, mas também como, consequentemente, membros da comunidade LGBTQI+ olham para si e para os seus pares. Num documentário recentemente lançado pelo Netflix, Disclosure (2020), de Sam Feder, Amy Scholder e Laverne Cox, percebemos que muitas das vezes a propagação de estereótipos no cinema, nas séries televisivas e até em talk shows tem impacto tanto em quem os vê e não se sente representado, como em quem não conhece ninguém da comunidade na vida real, e recebe como verídicos os traços aparentemente comuns a todos os seus membros — neste caso específico em relação a pessoas trans.
“É óbvio que essa perpetuação tem um impacto na própria comunidade, mas também nas pessoas de fora da comunidade, que continuam a olhar para as pessoas LGBTI com base nas mensagens que lhes são passadas através das séries ou do cinema, mas creio que, todavia, tem existido alguma melhoria nesse campo. Pelo menos no cinema e até mesmo de algumas séries, tem existido uma evolução, uma normalização das personagens, e uma tentativa de transposição para o cinema e para a televisão daquela que é de facto a realidade das pessoas LGBTI”, refere Joana Cadete Pires. Ainda assim, Alexa Santos, que concorda que existe essa preocupação em alguns conteúdos, relembra que “é muito difícil não ter discurso estereotipados e não haver um filme com lésbicas em que eventualmente vai chegar o homem salvador que vai distorcer tudo aquilo que aquelas duas mulheres estiveram a desconstruir, ou a masculina e a feminina, ou a cena de ‘eu era hetero até tu chegares’, e de repente alguém morre”.
Também a abordagem nos órgãos de comunicação social, segundo Alexa, se foi adaptando, ainda que muitas das vezes os conceitos de “sexo” e “género” não sejam distinguidos, que a diversidade de fontes ainda não esteja no patamar ideal e que as narrativas, sobretudo associadas a pessoas trans, sejam pouco diversas. “Eu acho que nos media se vê muito frequentemente três focos: assassinatos, e tanto no sentido de dizer morreu mais uma mulher trans – e normalmente muito a mulher trans, não o homem trans – ; depois a questão das crianças, em que de repente começas a ver uma discussão sobre os projetos de lei trans e que está muito direcionada para ‘o que é que isto significa para o resto da sociedade agora?’, que é sempre um bocadinho aquela coisa ‘as pessoas trans vêm baralhar os nossos conceitos, as nossas ideias, e querem destruir a família’; e por último uma coisa um bocadinho histérica, de manutenção de estereótipos, da mulher trans histérica e pobre”.
E é por ainda existirem falhas na percepção e aceitação que também se continua a marchar.

Marsha P. Johnson, Gisberta e a procura por justiça para pessoas trans
“Enquanto o meu povo não tiver direitos por toda a América, não há motivos para celebração. Por isso me manifesto pelos direitos gay há tantos anos”, disse a certa altura Marsha P Johnson numa entrevista recuperada para o documentário The Life and Death of Marsha P Johnson (2017), de David France. No documentário que acompanha Victoria Cruz, ativista trans, na busca pela justiça pela morte de Marsha P Johnson, é também levantado o véu àquelas que eram, nos anos 90, as consequências da invisibilidade.
Por muito que em julho de 1992, quando Marsha apareceu morta no rio Hudson, o caso tivesse sido arquivado como suicídio, Victoria Cruz e outrxs amigxs de ambas acreditam que se tratou de um homicídio. Os homicídios motivados por transfobia continuam a ser uma realidade com peso, na América mas também em Portugal. Em fevereiro de 2006, Gisberta Salce Junior foi “barbaramente agredida e torturada até à morte por um bando de miúdos entregues aos cuidados de uma instituição católica”, como relembra a cronologia atrás mencionada. Gisberta tornou-se símbolo da resistência e da urgência de reclamar justiça para pessoas trans.
Catorze anos depois da morte de Gisberta, Adam D’Armada Moreira considera que “Portugal continua a ser um oásis na Europa em termos políticos”. “Acho que, nos últimos anos, tem havido um progresso na legislação, nomeadamente no que toca a auto-determinação de género e em relação ao reconhecimento da identidade de género. Quanto ao Serviço Nacional de Saúde, apesar de haver cada vez mais uma mentalidade mais aberta (ou por outras palavras, respeito básico pelas pessoas trans), continua a haver condescendência, e os médicos continuam a ter mais poder sobre o meu corpo do que eu”, partilha.
“Toda a vivência de uma transição “médica” continua a ser marcada por provas”, conta Adam. “Tenho de mostrar que sou ‘trans o suficiente’ para xs médicxs me dizerem se posso ter acesso a hormonas e etc. É ainda um processo muito difícil e pesado.” Relembra ainda que “tal como a Gisberta, mulheres trans continuam a ser assassinadas, violentadas, e renegadas, todos os dias, em 2020”.
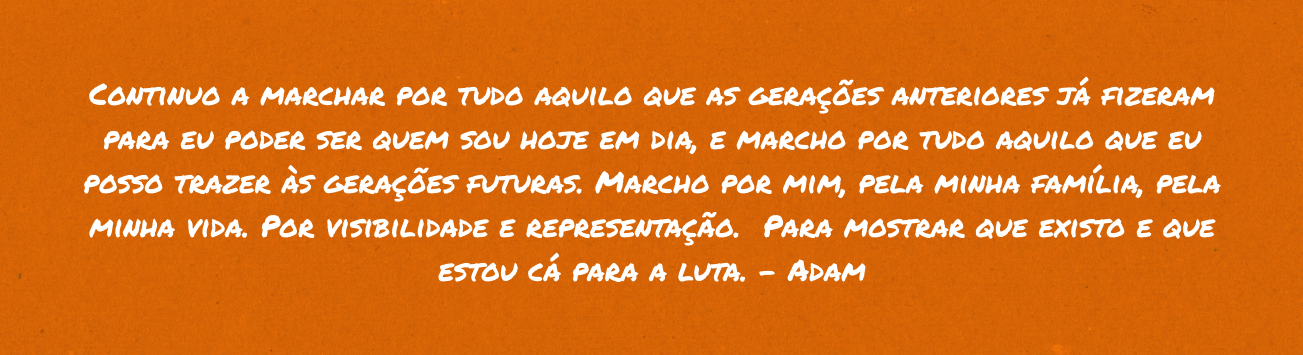
Os 10 anos da morte de Gisberta serviram de mote para que a ILGA Portugal fizesse um documento com “o que falta fazer” pelos direitos das pessoas trans. Hoje, Joana Cadete Pires acredita que, tal como Adam já havia dito, “os maiores problemas encontram-se no âmbito da saúde”. “As pessoas reportam muitas dificuldades em sentirem-se respeitadas na sua identidade, em exames e consultas demoradas, bem como a tratamento transfóbico em diversas situações” e, nos processos de transição, sentem que as “necessidades de tratamento de cada pessoa não são escutadas”. “Na educação continua a existir a necessidade de apostar na formação de pessoal docente e não docente, para garantir a segurança das pessoas jovens que frequentam os espaços escolares, bem como garantir o respeito pela sua identidade. No trabalho, e isso tem-nos demonstrado os dados que foram divulgados ainda este ano pela FRA, ainda se assiste a uma forte discriminação para com pessoas trans, começando muitas das vezes pelo processo de contratação. E nesse sentido, apesar do nosso código de trabalho desde o ano de 2007 mencionar expressamente a proibição da discriminação em função da identidade de género, são necessárias e urgentes políticas completas para salvaguardar os direitos das pessoas trans que trabalham nos diferentes setores profissionais”.
Por último, “mas não menos importante”, Joana refere que “é necessário fazer um trabalho de formação forte e sensibilização para a comunidade, nomeadamente para as pessoas que acompanham, seja a família ou pessoas com outros vínculos afetivos, para que as pessoas trans consigam ter espaços seguros que as permitam crescer e viver com dignidade”. E se por vezes a tensão entre o que se constrói em casa e o que se encontra no espaço público existe, Alexa acredita que “as crianças são agentes de mudança” e que é fundamental olhar para estas questões de forma transversal: “estes processos não acontecem nem só em casa por parte dos pais, nem só na escola; as mudanças não são feitas só pela legislação ou pela sociedade que é feita por adultos, é também feita por crianças e jovens que dão a cara, que constroem núcleos, que constroem coletivos, e que efetivamente dentro das suas camadas e dos seus locais específicos — seja na cidade, na aldeia ou na escola — fazem a diferença”.
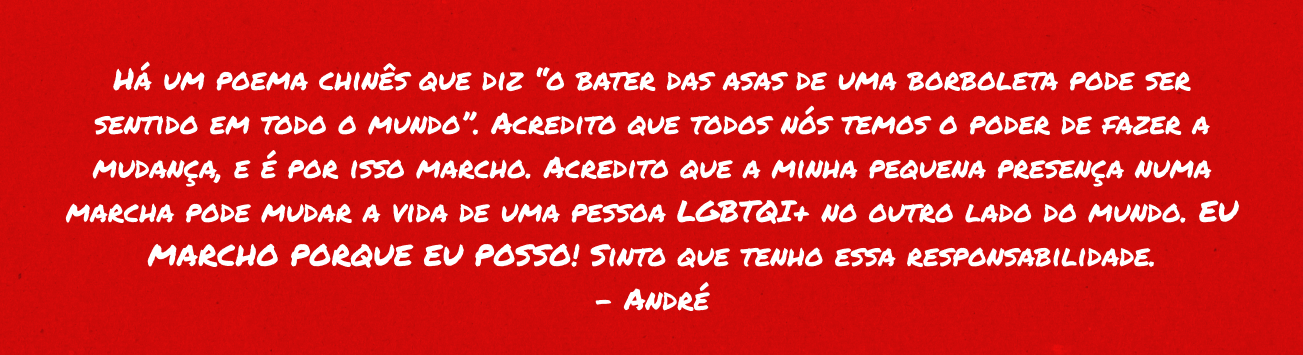
Olhar o futuro de mãos dadas
Quando perguntámos “por que continuas a marchar”, a noção de comunidade e a solidariedade com x outrx aparece inevitavelmente em cada uma das respostas que recebemos. Ao perguntarmos “Que reflexões e mudanças gostavas de ver num futuro próximo, dentro e fora da comunidade LGBTQI+ ?”, também.
Adam acredita que “é completamente necessário, dentro e fora da comunidade, abordar e confrontar o nosso próprio racismo internalizado e xenofobia ainda latente a nível estrutural”. Dentro da comunidade, sente que “já tem havido uma mudança num bom sentido de aumentar a representatividade da nossa diversidade – mostrar que a comunidade LGBTQI+ não é só composta por homens cis gay brancos. Mas ainda há muito caminho a percorrer”.
Alexa desconstrói a ideia de que “por ser LGBT vamos ser absolvidos de todos os outros males”. “A verdade é que todas as pessoas são socializadas da mesma forma, pelas mesmas pessoas, pelos mesmos valores católico-hetero-patriarcais, e todos os discursos que se notam na sociedade em geral, também se notam na comunidade LGBT. Claro que vamos continuar a ver racismo; e olhando para todas as direções de todos os coletivos LGBT, quantas pessoas negras é que tu podes encontrar?”
Lila Fadista gostava “que o movimento Black Lives Matter pudesse tornar-se na alavanca de uma contestação organizada, reflexiva e abrangente à noção de autoridade como eixo central do funcionamento da sociedade”, e “que isso pudesse consubstanciar-se numa alteração profunda da forma como nos relacionamos umas com as outras (as pessoas) e com os seres não-humanos e o resto do planeta”. “Que se efetivasse uma profunda descolonização dos nossos corpos, das nossas mentes, das nossas florestas, dos nossos mares, das comunidades frágeis, do sexo e da cultura”.
Na óptica de Filipa, “a comunidade LGBTQI+ precisa de ser mais tolerante entre si”. Filipe corrobora, através da sua experiência pessoal: “Acho que existem grupos de pessoas dentro da comunidade que, por algum motivo pessoal, não conseguem aceitar pessoas, nomeadamente homens homossexuais, que possam ter ‘uma energia mais efeminada’. E as pessoas trans também são muitas vezes alvo de preconceito”. “Eu sendo homem, cis, homosexual, já reparei que existe esse lado mesmo dentro da própria comunidade, e gostava de o ver desaparecer por completo. Esse lado tóxico não contribui para tudo o que a comunidade já lutou por”, conclui.
Maria sonha com o dia em que não seja necessário “existir uma comunidade LGBTQI+”, como sinónimo de uma vida em total liberdade e justiça. “Gostava muito que toda a gente fosse capaz de refletir sobre o porquê de vermos os outros, que não são iguais a nós, como diferentes e o porquê de diferente ser igual a mau; gostava que existisse mais compaixão pelo outro, tanto dentro como fora da comunidade e que fôssemos capazes de nos apoiar mutuamente. Gostava que a educação nas escolas fomentasse a igualdade. Gostava que o amor não fosse normalizado, mas os seus intervenientes sim”.
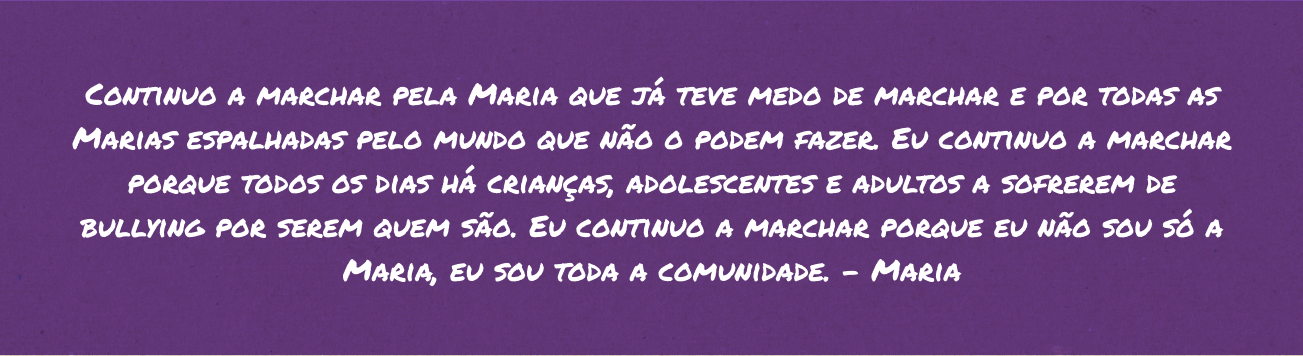
Numa nota de esperança e exaltação do orgulho, Joana Cadete Pires deixa um apelo a toda a comunidade LGBTQI+: “celebrem-se”. “Está a terminar o mês do Orgulho e em muito pouco tempo, esperamos voltar todos e todas a sair à rua”. Até lá, as lutas continuam na casa e na mentalidade de cada umx de todxs nós.
[infobox]
Caso te apeteça falar com alguém…
- ILGA Portugal (defesa dos direitos LGBTQI+) – 21 887 3918 | 969 367 005 | ilga@ilga-portugal.pt
- rede ex aequo (apoio a jovens LGBTQI+) – 968781841 | geral@rea.pt
- Centro Gis (centro de respostas às populações LGBTQI+) – 966090117 | gis@associacaoplanoi.org
- API- Ação pela Identidade (apoio a pessoas trans e intersexo) – 965597475 | associacaopelaidentidade@gmail.com
- Rumos Novos (apoio a católicxs LGBTQI+) – 963701741 | coordenacao.nacional@rumosnovos.org
- Amplos – Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual – 918 820 063 | amplos.bo@gmail.com
[/infobox]



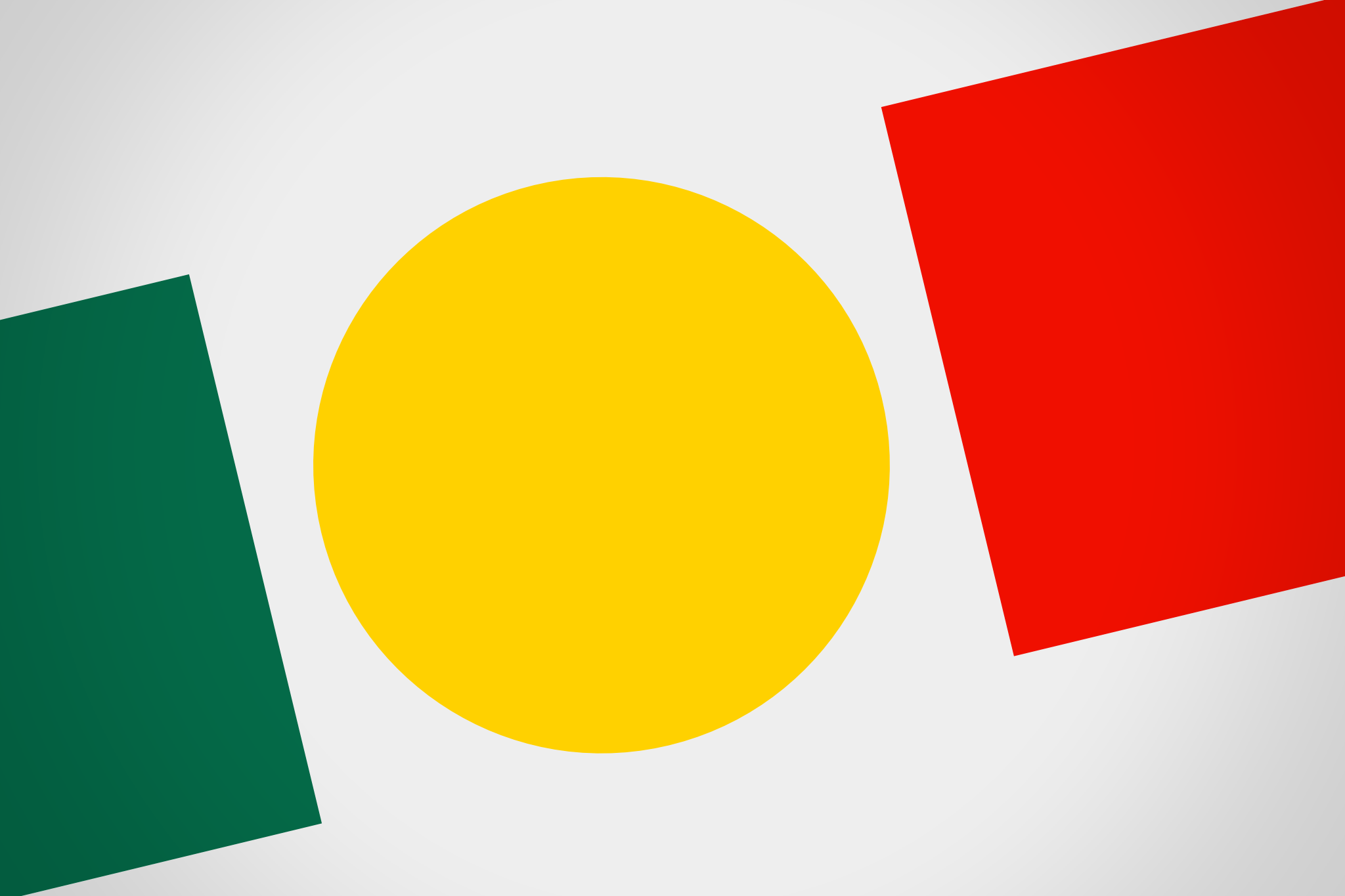


You must be logged in to post a comment.