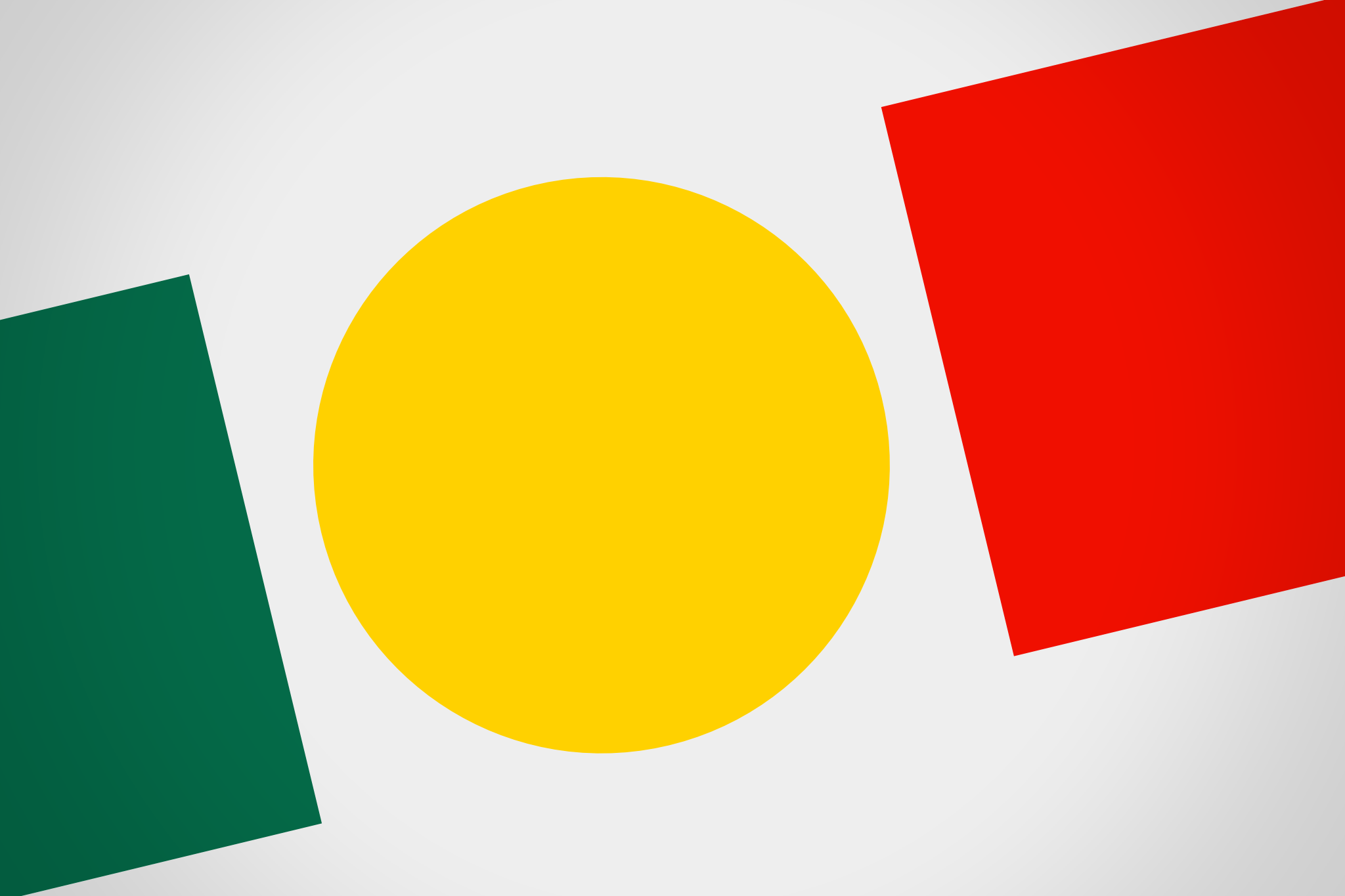A polémica começou com uma simples frase: o monkeypox “pode ser o início de uma epidemia entre os homossexuais que eventualmente se pode alastrar toda a população”. Vítor Duque, presidente da Sociedade Portuguesa de Virologia e diretor do Serviço de Doenças Infeciosas do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, explicava desta forma à CNN que os casos registados de varíola dos macacos em Portugal tinham, até dia 18 de maio, sido detetados exclusivamente em homens que têm sexo com homens (HSH).
Rapidamente choveram críticas às declarações do responsável, que apontavam o dedo à forma como a afirmação do especialista poderia levar à estigmatização dos homens homossexuais (excluindo aqui a possibilidade de serem bissexuais), associando-os a uma doença que pode afetar todas as pessoas e que não se transmite necessariamente por via sexual – mas sim por contactos de grande proximidade. Apesar de Vítor Duque ter também referido que qualquer pessoa poderia ser contaminada independentemente do seu género ou orientação sexual, frisou que a porta de entrada foram pessoas da comunidade LGBTQIA+.
O enquadramento da notícia nestes moldes fez ressurgir o debate em torno das comunicações de saúde pública e da forma como por vezes se reforçam estigmas relativamente a pessoas queer. HIV, hepatite A e, agora, o monkeypox, são apenas exemplos de epidemias associadas, particularmente, a HSH, sendo utilizadas como argumento para a culpabilização e estigmatização de um grupo, mesmo que implicitamente.
O que está na origem destas associações? Por que motivo as pessoas LGBT continuam a ver-se associadas à disseminação de doenças virais? A heteronormatividade poderá ser a causa destes estigmas? Por que razão a sexualidade gera reprovação?
O Paradigma da Estigmatização
Voltemos atrás no tempo, para analisar o caso mais paradigmático de estigmatização de HSH: a epidemia de HIV.
Foi em 1981 que surgiram os primeiros casos de uma “pneumonia rara” nos Estados Unidos. Com origens desconhecidas, a doença tinha sido detetada em quatro dezenas de homens homossexuais, em Nova Iorque e na Califórnia. O vírus só seria identificado dois anos depois, pelo cientista francês Luc Montagnier, quando as consequências já eram preocupantes. “Oito das vítimas morreram menos de 24 meses depois do diagnóstico”, lia-se no New York Times. A propagação veloz da doença desencadeou uma forte estigmatização de HSH, cujos comportamentos, vistos como imorais, eram descritos como a causa desta epidemia. Mesmo após se perceber que a contaminação por HIV não estava minimamente relacionada com a orientação sexual dos hospedeiros – e que podia até acontecer de mãe para filho ou por contacto com sangue infetado – o preconceito continuou vigente.
No ensaio SIDA e Suas Metáforas, Susan Sontag refletiu sobre as muitas significações sociais que foram agregadas à doença. No livro, a autora explica primeiro que, em todas as epidemias, “a metáfora mais generalizada sobrevive nas campanhas de saúde pública, que rotineiramente apresentam a doença como algo que invade a sociedade, e as tentativas de reduzir a mortalidade causada por uma determinada doença são chamadas de lutas e guerra”.
Sontag diz mesmo que, de um modo geral, “as metáforas militares contribuem para a estigmatização de certas doenças e, por extensão, daqueles que estão doentes”. Há, portanto, uma narrativa bélica subjacente.
No ensaio de Sontag, reflecte-se sobre a instrumentalização social da sida e do HIV, que, implicitamente, são apresentados como um “castigo divino”, aplicado àqueles que fogem da norma estabelecida. “O comportamento perigoso que produz a sida é encarado como algo mais do que fraqueza. É irresponsabilidade, delinquência – o doente é viciado em substâncias ilegais [no caso da transmissão por injetáveis] ou sua sexualidade é considerada divergente”, lê-se no texto, originalmente publicado em 1988.
“Uma doença infecciosa cuja principal forma de transmissão é sexual, necessariamente expõe mais ao perigo aqueles que são sexualmente mais ativos e torna-se fácil encará-la como um castigo dirigido àquela atividade. (…) Contrair a doença através da prática sexual parece depender mais da vontade e, portanto, implica mais culpabilidade”, explica a escritora e filósofa.
Susan Sontag diz ainda que, ao ser associada à “licenciosidade sexual”, o preconceito em torno da doença gera uma distinção entre o grupo de pessoas que são potenciais transmissores da doença – como se todos os HSH fossem inevitavelmente um foco de contaminação, mais cedo ou mais tarde – e a “população em geral”, ou seja, “heterossexuais brancos que não usam drogas injetáveis nem têm relações sexuais com pessoas que o fazem”. A construção social em torno da sida fundamentava-se, portanto, em conceitos que separam diferentes grupos de pessoas – “doentes dos sãos” ou “eles de nós”.
A heteronormatividade como base do preconceito
Para o ativista Luís Mendão, a heteronormatividade pode ajudar a explicar a origem destes estigmas já que, junto com o machismo, “está na origem da homofobia”. O ativista e fundador do Grupo de Ativistas em Tratamentos (GAT) – que tem vindo a reivindicar mais cuidados e terapêuticas para pessoas infetadas com HIV -, afirma que “a nossa sociedade ainda hoje discrimina todo o tipo de pessoas com comportamentos diferentes da norma da maioria”. “Pouco se educa e muito pouco se sensibiliza para a aceitação da diferença. Isso cria terreno fértil para que em alturas de crise se apontem dedos às minorias”, assevera.
A questão prende-se, então, com a divergência de uma norma social que é implicitamente imposta. Mas para o investigador João Florêncio, essa norma não se cinge à orientação sexual. O investigador em História da Arte e a Cultura Visual Modernas e Contemporâneas na Universidade de Exeter, Reino Unido, explica que está sempre subjacente uma questão de moralidade, que se traduz numa condenação de comportamentos não-normativos.
O académico refere que “as populações LGBT, historicamente, são quase consideradas estrangeiros dentro do estado-nação”, por não se inserirem no padrão vigente. “O homossexual é quase como se fosse estrangeiro, no sentido em que não pertence, mas acaba por ser mais perigoso [ainda] porque está perfeitamente integrado no país, quase como se fosse um vírus”, explica João Florêncio em entrevista ao Shifter.
A opinião do investigador abrange outros aspetos. João Florêncio diz que a heteronormatividade não é necessariamente o que está por detrás deste estigma das doenças infecto-contagiosas, mas sim a normatividade numa perspetiva mais lata, e que predomina no contexto europeu. Refere-se, por exemplo, a um “modelo” de família, constituída por duas pessoas cisgénero, brancas, monogâmicas com um ou dois filhos. Por ser este o padrão vigente, afirma que, mesmo os direitos até agora conquistados pelas pessoas queer, resultam de cedências das mesmas relativamente à restante sociedade e não o contrário. E exemplifica: “ao homossexual só lhe é permitido ser homossexual se sacrificar a promiscuidade, a não-monogamia, poliamoria ou qualquer outro tipo de relações de intimidade que tenha com outras pessoas”. É por isso que, conforme explica, “assim que acontece alguma coisa [como um novo surto], isso serve para provar que o homossexual finge ser “normal”, mas continua a ser uma criatura obscena e perversa que vive de sexo ”, acrescenta João Florêncio.
Mencionar a orientação sexual: sim ou não?
De acordo com o Relatório Infeção VIH e SIDA em Portugal 2020 – , o número de infeções por HIV tem vindo a descer em Portugal. “A análise das tendências temporais da epidemia nacional revela, para a última década, uma descida de 47% no número de novos diagnósticos de infeção por HIV e de 65% nos casos que atingiram o estádio SIDA”, lê-se no documento divulgado pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e a Direção-Geral da Saúde (DGS), que é o mais recente até à data.
Os novos diagnósticos (referentes a 2019) ocorreram maioritariamente (50,4%) em residentes na Área Metropolitana de Lisboa, sendo que a grande maioria (69,3%) registou-se em homens. O relatório diz ainda que “em 97,3% dos casos a transmissão ocorreu por via sexual, com 57,8% a referirem contacto heterossexual. Os casos em HSH corresponderam a 56,7% dos casos diagnosticados de sexo masculino e apresentaram uma idade mediana de 30 anos. As infeções associadas ao consumo de drogas injetadas constituíram 2,1% dos novos diagnósticos em que é conhecida a via de transmissão”.
Estes dados, que mostram ainda existir uma prevalência significativa da infeção por HIV em HSH levam Bruno Horta a assumir uma posição divergente. O jornalista, que há vários anos trabalha temáticas relacionadas com a comunidade LGBTQIA+, diz que, apesar de compreender que há uma instrumentalização das doenças para estigmatizar homens homossexuais, não é correta a alteração de discurso por parte das entidades de saúde.
“Eu acho que fingir que o HIV não afeta mais os homossexuais, fingir que a monkeypox não tem, neste momento, uma maior incidência entre pessoas homossexuais é um discurso moralista, é um discurso anti-homossexual, porque é um discurso que pega na vergonha, na discriminação e continua a lavrar em cima da vergonha e da discriminação”, diz Bruno Horta.
O número de infetados com monkeypox tem vindo a aumentar em Portugal e já ultrapassou as três centenas de casos registados. Inicialmente era divulgada a orientação sexual dos indivíduos, o que permitia afirmar a prevalência do vírus entre HSH. Recentemente, as autoridades de saúde passaram a não revelar esse dado, limitando-se a informar que os casos surgem em homens entre os 19 e os 61 anos.
Para o jornalista, esta não é a decisão mais correta a tomar. “Como a sociedade pode apontar o dedo aos homossexuais em virtude deste surto do monkeypox, [parece que] mais vale omitir que o surto está a afetar os homossexuais. Isto é o que, quanto a mim, se tem vindo a passar”, diz Bruno Horta. “É um protecionismo paternalista. É a ideia de que, como temos medo da discriminação, vamos continuar a alimentá-la, então vamos esconder a informação dos próprios visados e da população em geral”, critica o autor do livro Aquele Lustro Queer. E diz que, assim, a própria comunidade tende a desvalorizar os alertas.
Já em 2017, aquando do surto de hepatite A em Portugal, Bruno Horta tinha criticado as mudanças no discurso das autoridades de saúde. Num texto de opinião intitulado “Hepatite A foi infetada pelo politicamente correto”, o jornalista enumerou as comunicações emitidas pela DGS e apontou o dedo à forma como as mesmas foram gradualmente alteradas graças ao que chama de “moralismo” dos ativistas LGBT. “(…) As associações demonstraram conservadorismo. Por que haverá de ser indecoroso, negativo ou estigmatizante consumir drogas ou praticar sexo em grupo, se isso se fizer por escolha e sem prejuízo de terceiros?”, referia no artigo incluído no livro Aquele Lustro Queer.
A preocupação do jornalista fundamenta-se no facto de, ao estarem a omitir características dos infetados, as autoridades de saúde possam, indiretamente, contribuir para que a comunidade visada não se proteja.
O historiador americano Jim Downs, que estuda questões de género e saúde pública, também referiu, num artigo de opinião publicado na The Atlantic, que “os homens gay precisam de um alerta específico sobre o monkeypox”.
“Como um homem homossexual que estuda a história de doenças infeciosas, preocupa-me que os líderes das entidades de saúde pública não estejam a fazer o suficiente para alertar diretamente HSH sobre o monkeypox”, diz no artigo. “Homens homossexuais não são as únicas pessoas em risco, mas eles têm de saber que, neste momento, a doença parece estar a propagar-se mais ativamente dentro da sua comunidade”, prossegue.
O facto de homens bi e homossexuais realizarem testes médicos mais regularmente tem, também, sido apontado como justificação para uma maior prevalência de casos detectados. Apesar disso, esta explicação é, também ela, apontada como fraca para enquadrar toda a realidade atual. Isto mesmo é referido no artigo “Is the LGBT Community Doing Enough to Fight Monkeypox?”, assinado por Liz-Highleyman jornalista que acompanha temáticas de saúde na plataforma poz.com.
Ciência ou ética: o que devem ter em conta as recomendações?
Há várias décadas que se considera errado o uso da expressão “grupos de risco” quando está em causa uma maior incidência da doença num determinado grupo de pessoas. Ao longo do tempo – e de forma a reduzir o estigma que associava o HIV a homens homossexuais – a comunidade científica e médica reformulou as recomendações, passando a referir-se a “comportamentos de risco”, que podem favorecer eventuais contágios (como o sexo desprotegido, por exemplo).
O ativista Luís Mendão acredita que esta é a opção mais correta. “Importa salientar que existem comportamentos de risco e também populações e grupos chave. Não é a orientação sexual ou identidade de género que representa um risco. A identificação de comportamentos de risco e de determinantes de saúde possibilita criar as melhores respostas sociais e de saúde para determinados grupos”, afirma o fundador do GAT.
Desta forma, Luís Mendão sublinha que é necessário reafirmar que “[o monkeypox] é uma infeção que já foi identificada em pessoas de toda a diversidade da espécie humana. Homens, mulheres, pessoas não binárias, de todas as orientações sexuais e identidades de género”. “Todas as pessoas podem ser infetadas se estiverem em contacto com pessoas ou animais infetados ou mesmo com roupas ou superfícies contaminadas sem prevenção adequada”, acrescenta.
Significa isto que as recomendações de saúde pública devem ter presente as questões sociais, passíveis de estigmatizar certos grupos de pessoas? Ou será que devem antes comunicar os dados, independentemente das interpretações a que isso possa levar?
O virologista Celso Cunha assume-se dividido. “Se se adaptar o discurso já se está a dar de barato, já estamos a ceder e a dizer que afinal é preciso mudar porque está em causa uma determinada comunidade ou grupo de pessoas que são diferentes. E eu não sei se isso é muito saudável ou não. Não sei se é correto ou eficaz fazer isso”, afirma o virologista do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, da Universidade Nova de Lisboa.
O responsável destaca as diferenças entre o surto de monkeypox e a epidemia de HIV, nomeadamente porque o segundo envolvia sintomas graves e que levavam à morte, sem que, durante muito tempo, existisse qualquer cura ou terapêutica eficaz. No caso da varíola dos macacos, as consequências são muito menos graves, o que altera as circunstâncias. “Sendo uma doença com um quadro clínico relativamente leve, eu acho que não vale muito a pena estar a mudar o discurso, digamos assim, ou a ter um discurso especial dirigido à sociedade para ‘destigmatizar’ ou o que quer que seja”, diz Celso Cunha.
Pedro Carreira, membro da Associação Ilga Portugal, tem uma outra visão: “A forma como se comunica sobre esta ou outra doença não pode ser leviana. Há que apostar na seriedade e na componente clínica da questão, sabendo que a identidade das pessoas infetadas não é fator determinante para a sua infeção, com a agravante de neste caso fazerem parte de um grupo historicamente estigmatizado”.
“Existe uma responsabilidade social associada a profissionais de saúde, até porque são áreas partilhadas. É do superior interesse clínico não difundir ou alimentar ideias preconceituosas ou que elevem a incompreensão das pessoas. A sensibilidade sobre estas questões é essencial para uma boa comunicação entre as várias partes”, acrescenta o ativista.
Referindo-se ainda à forma como foi comunicada a informação, o ativista destaca a importância da mensagem mediática, que influencia a opinião pública. “No caso da monkeypox, bastou uma manchete para voltar a levantar todas estas questões e parecer que tínhamos regressado à década de 1990 e de 2000. Felizmente, houve outros órgãos de comunicação que fizeram o seu papel de informar devidamente as populações e tentar corrigir o que fora dito”.
A associação da infeção por monkeypox a HSH foi, por isso, “um claro passo atrás na forma como se comunicam estes temas, mas importa que aprendamos com eles para que no futuro consigamos, como sociedade, fazer e informar melhor”, no entender do ativista pelos direitos das pessoas LGBTQIA+.