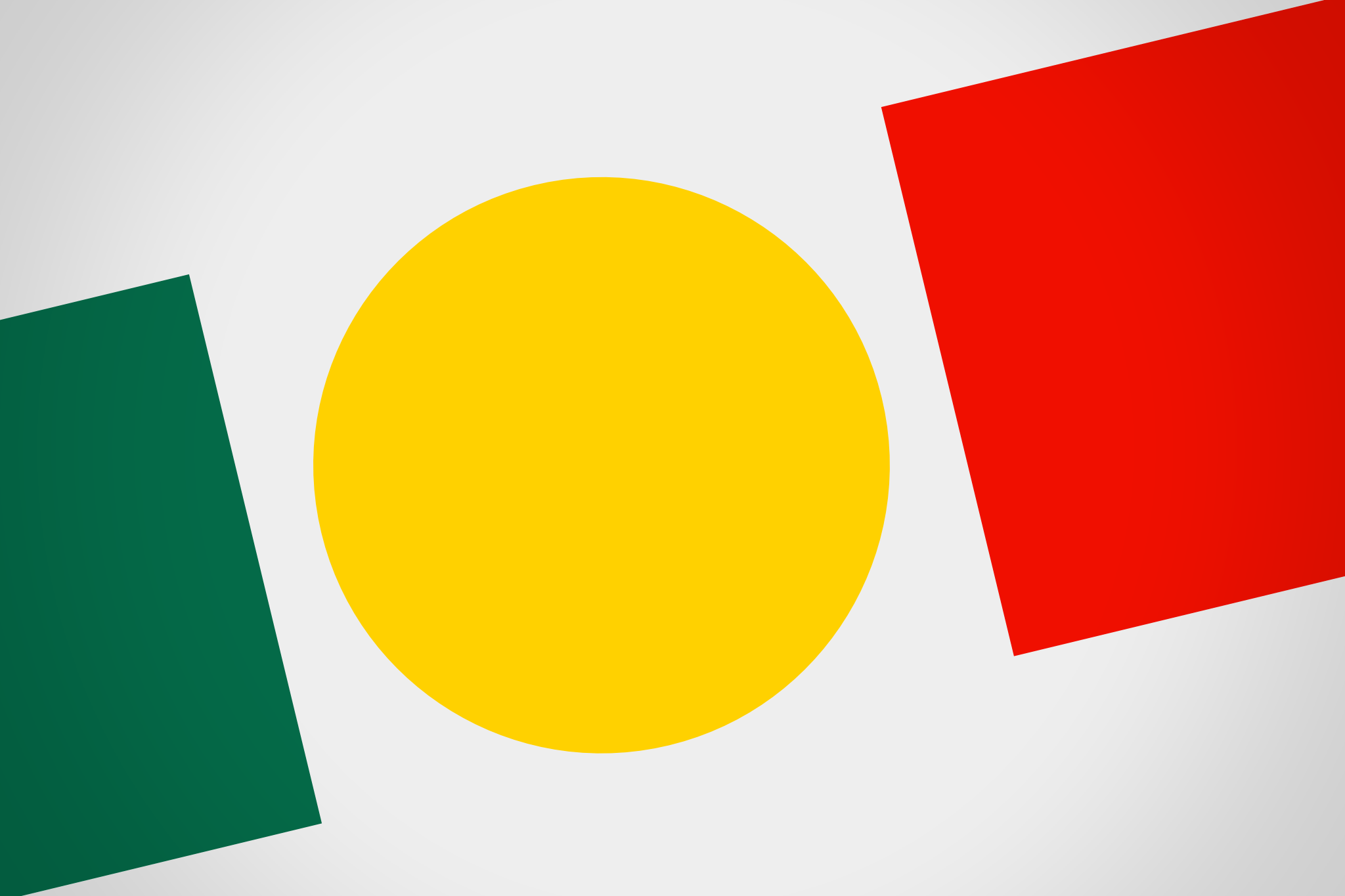Quando a vi naquela tarde de sábado na minha universidade tinha visto dois dos seus filmes, Cléo de 5 a 7 e Les Plages d’Agnès. Não conhecia a totalidade da sua obra nem a elasticidade da sua generosidade. Na cerimónia solene — Agnès no púlpito do Salão Nobre, e eu ao fundo a acompanhar o grupo coral da faculdade — apanhei-lhe o riso genuíno, a vontade de brincar como se ninguém estivesse a ver (ou sabendo que é observada, sem comprometimentos) e o à vontade a relacionar-se com as pessoas. Fiz o retrato possível, com o zoom no telemóvel no máximo, para nunca mais me esquecer daquele dia em que começou a haver um antes e depois de Agnés Varda na minha vida.
Já no fim da sessão solene, entre copos de vinho do Porto, trocámos olhares e um sorriso. Esse sorriso foi sendo convocado à medida que via os seus filmes, ouvia as suas entrevistas e via as suas fotografias. Não se perdeu entre Uncle Yanco (1967) e Visages, Villages (2017) — Varda preservou-o com o tempo.
No dia 29 de março de 2019 recebi uma mensagem no telefone que dizia algo como “A Varda morreu”. Tinha-me mudado para Lisboa há relativamente pouco tempo e tinha trazido comigo a Cahiers du Cinèma que comprei no dia em que me licenciei, com uma entrevista exclusiva sua, e a The Gentlewoman com aquele sorriso na capa. Fui buscá-las quase numa tentativa de me conectar e, mais tarde, encontrei no metro uma senhora que agarrava uns girassóis de plástico na mão. Curiosamente as flores de plástico não precisam de ser regadas para que as consigamos guardar o tempo que quisermos, onde quisermos.
Com a morte de Varda ficou comigo a sensação de vazio de quando se perde alguém da família e a possibilidade de ligação que pode ser ativada a cada vez que revejo um filme, que descubro uma curta-metragem que ainda não vi ou uma entrevista por ouvir ou por ler. O cinema aos seus olhos trouxe-lhe um caráter de eternidade e a vantagem que não temos quando vivemos sem deixar grandes registos da nossa existência – dificilmente lhe esquecerei a voz, consigo lembrar-me do cabelo metade branco metade vermelho sem precisar de fechar os olhos, e recordo o momento em que nos cruzámos (hoje com algumas partes de memória certamente construídas por mim) sempre que me apetecer.
Para ser honesta, não me recordo do primeiro filme de Agnès Varda que vi, nem em que circunstâncias o vi. Sei que foi um DVD requisitado na faculdade, mas não sei ao certo se comecei por Cléo de 5 a 7 (1962) ou por Les Plages d’Agnès (2008). Sei, no entanto, o que me tornou tão próxima do seu universo.
Nunca pisei a Rua Daguerre nem tão pouco viajei pela França rural, mas conheci-as através de Daguerréotypes (1976) e Les glaneurs et la glaneuse (2000). Nunca fui a Los Angeles e muito menos conheci os autores dos murais que falam por gangs, comunidades e indivíduos – aprendi com os que Varda decidiu enquadrar em Mur Murs (1980). Nunca tinha pensado no mar como o elemento do amor, até ouvir o tio que afinal era primo, mas simbolicamente continuou a ser tio Yanco, dizê-lo. Em cada um desses filmes sobressai a urgência de contar histórias e de ouvir pessoas reais – todas elas com nomes e vozes próprias, apresentadas em pé de igualdade. Entre Fidel Castro (político), Judith F Baca (artista e ativista chicana), Larry Freeman (diretor de uma escola em Compton), Jane Birkin (cantora e modelo) e cada comerciante da Rua Daguerre a menos de 50 metros da casa que partilhou com Jacques Demy, ou os apanhadores de batatas, existe diferença no contexto de cada personagem – que lhe é sempre atribuído – mas não há distinção no tratamento nem na entoação com que os seus nomes são lidos nos créditos.
Costumo pensar algumas vezes na ideia de enquadramento e na generosidade do cinema de Varda (que é também a sua vida). Chego muitas vezes à conclusão de que a maior prova dessa generosidade é precisamente a forma como enquadra a bondade das personagens que vão entrando nas narrativas em que tropeça, os seus silêncios e as expressões que mais as caracterizam. E é curioso como se ia aproximando de pessoas que também partilhavam desta generosidade.
Em Mur Murs (1980), Kent Twitchell, artista visual de Los Angeles, explicava que tinha pintado os seus pares e outras personagens da vida real “tão grande quanto era possível, porque eles mereciam esse tamanho”. Também JR, o artista de quem se tornou cúmplice em Visages Villages (2018), amplia rostos comuns à escala dos edifícios. Também Varda amplifica as vozes que ouve e os rostos que vê, e as eterniza num formato que contraria a efemeridade da pintura mural.
Se recuarmos à mítica entrevista que deu com Susan Sontag ao programa da CBS Camera Three, em 1969, por ocasião do Sétimo Festival de Cinema de New York, percebemos que a naturalidade com que se aproximava das pessoas que filmava era apenas um reflexo da naturalidade com que se relacionava com os outros – num plano em que o que é dito excêntrico é apresentado como real. Não é por acaso que Sontag dizia que uma das coisas que mais gostava no cinema de Agnès é que eram dos poucos filmes que tinha visto em muito tempo onde reconhecia pessoas reais.
De handycam na mão, como uma espécie de extensão dos seus olhos que com o tempo começaram a ver o mundo desfocado, e da sua alma, que foi apurando os sentidos, Varda fez o zoom que precisávamos de ver na pele, nos cabelos e nos olhos de pessoas reais, para que muitas vezes percebêssemos as texturas que as compõem sem que tivéssemos algum dia de nos cruzar com elas na rua.
Na vida, depois de Varda, tento manter-me uma “joyfull feminist”, aprendo a confiar nos meus instintos e entendo cada vez melhor a importância de escutar os que estão próximos. Tento, aprendo e entendo, no presente, porque é um ciclo que não sei se quero fechar. À data da escrita deste texto ainda não vi Varda par Agnès (2019) com medo que seja essa a peça que falta para o fazer; na esperança de atrasar o mais possível o contacto com aquele que foi o último registo da vida aos seus olhos.
Da janela do meu quarto não consigo ver a Rua Daguerre, as praias de Agnès nem os campos de onde começam a florir girassóis. Não vejo Rosalie nem JR, nem todos os que vivem a celebrar a memória de Varda. Mas sei que, sem grande esforço, consigo voltar àquele dia em que os nossos olhares se cruzaram e trocámos sorrisos, e que esse sorriso, por si só, é uma celebração eterna da vida.